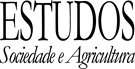 Recebido: 24.jan.2023 • Aceito: 6.jun.2023 • Publicado: 19.jul.2023
Recebido: 24.jan.2023 • Aceito: 6.jun.2023 • Publicado: 19.jul.2023
A estrutura de prestígio dos moradores na reconstrução do “tempo do algodão”
The prestige structure of the
residents in the reconstruction of the “time of cotton”
|
Edgar Braga Neto[1] |
|
|
Resumo: Após a realização de pesquisa etnográfica em fazendas localizadas no semiárido cearense, identificamos formas simbólicas comuns de pensamento entre os moradores de fazenda, que vão constituindo o que definimos como “estrutura de prestígio”, que nada mais é que a reconstrução da memória social desses camponeses acerca de suas experiências de parceria na economia do algodão. Em seu sistema simbólico, eles constroem, tendo como base as condições sociais derivadas do rural contemporâneo, uma estrutura de sentimentos na qual sobressai o “prestígio” que tinham no “tempo do algodão”. Assim, ressaltamos a dimensão da economia dos bens simbólicos na manutenção das relações duradouras de dependência e não a sua pobreza, dependência e submissão, como fizeram os historiadores do econômico. É a memória social dos moradores sobre o “tempo do algodão” e as relações de parceria que captamos por meio de entrevistas e de conversas informais na observação participante do trabalho rural contemporâneo, e que engendra em suas lembranças imagens honrosas de sua condição, como também uma visão de mundo complexa na qual eles reúnem as conquistas do presente com elementos característicos da dominação tradicional. Por meio de pesquisa etnográfica, de aportes teóricos da sociologia bourdeusiana e da história econômica do semiárido, discutimos a “estrutura de prestígio” dos moradores, mais precisamente, a sua formação, contradições e dissolução, ao buscar a complexidade das relações que constituem essa formação social.
Palavras-chave: algodão; sistema de moradores; estrutura de prestígio; semiárido.
Abstract: After conducting ethnographic research on farms in the semi-arid region of Ceará, we identified common symbolic forms of thinking among the peasants who resided there that comprise what we define as a prestige structure, namely the reconstruction of the social memory of these peasants about their experiences of partnership in the cotton economy. Within their symbolic system they construct a structure of emotions based on the social conditions derived from contemporary rural experience, most notably the “prestige” they had during what they call the cotton era. In this way, we emphasize the role of the economy of symbolic goods in maintaining lasting relationships of dependence, rather than poverty, dependence and submission (which has been frequent among historians of economics). Through interviews and informal conversations as part of participant observation of contemporary rural work, we were able to capture the residents' social memory of the cotton era and the partnership relationships which produce honorable images of their condition in their memories, along with a complex worldview in which they combine the achievements of the present with characteristic elements of traditional domination. This ethnographic research, along with theoretical contributions from the sociology of Bourdieu and the economic history of the semiarid region, permits a discussion of the prestige structure found among the residents (more precisely, how it was shaped, and its contradictions and disintegration) by examining the complex relationships that constitute this social formation.
Keywords: cotton; “moradores” system; prestige structure; semi-arid region.
Introdução
Desde a Guerra Civil dos Estados Unidos (1861-1865) até a década de 80 do século XX, o cultivo do algodão foi uma das economias mais relevantes da região Nordeste. Nos anos 1970, a produção nordestina correspondia a 40,7% do algodão produzido no Brasil. No estado do Ceará, 80% da produção algodoeira era realizada por trabalhadores sem terra (BARREIRA, 1977) através do sistema de morada (BRAGA NETO, 2017). Atualmente, a cadeia produtiva do algodão emprega mais de meio milhão de pessoas, sendo que, no Nordeste, esse impacto se dá sobretudo no parque têxtil do Ceará, Rio Grande do Norte e na Paraíba, e não mais no campo. A partir dos anos 1980, houve uma crise na produção da região, devido à praga do bicudo (infestação do besouro bicudo nas plantações), do embargo às exportações de algodão, do desestímulo à produção interna e do fim da redução da alíquota de importação da malvácea (DAVID, 2005). Assim, o algodão, que era produzido em consórcio com a criação de gado, foi praticamente banido das fazendas e milhares de moradores tiveram que abandonar seus postos de trabalho, migrando para as cidades do interior ou para as capitais, especialmente para São Paulo, por não terem como se ocupar somente com a pecuária, que necessita de pouca mão de obra. A região Nordeste passou, então, de grande produtora a uma das grandes consumidoras de algodão, principalmente em razão de sua indústria têxtil, e o cultivo do produto sofreu, mais uma vez, um processo de transferência de produção, sendo levado pelos cotonicultores do Sul e do Sudeste para a região Centro-Oeste, especialmente para o estado do Mato Grosso que hoje, em virtude da introdução de novas variedades e da mecanização do cultivo, ocupa o lugar de maior produtor nacional.
Assim, podemos dizer que, na paisagem do semiárido, quase não vemos mais roçados de algodão (pois há uma retomada tímida de sua produção), mas isto não significa que na memória social dos trabalhadores rurais a malvácea tenha sido apagada. Muito pelo contrário, o “tempo do algodão”, que é como os trabalhadores rurais designam a economia do algodão, sempre está presente em suas rodas de conversa. O “tempo do algodão” para eles é uma época na qual diversas gerações de sertanejos tinham como meio de vida o cultivo do algodão, que foi interrompido pela praga do bicudo e pela expansão da pecuária. Em suas narrativas, o fim da era do algodão significa um novo tempo, em que, se por um lado, há a dimensão da conquista dos direitos e da inserção nas políticas públicas, por outro, há privações, tais como as perdas da autonomia no trabalho, do roçado, das relações de parceria e da “renda certa”. Desse modo, o que nos interessa são as representações sociais que esses trabalhadores fazem das relações de produção que envolvem o cultivo do algodão, pois, como a análise da condição camponesa vai além das condições objetivas, é necessário compreender os valores morais que os trabalhadores rurais objetivam em suas visões de mundo (NEVES; SILVA, 2008).[2] Suas representações estão calcadas no confronto do passado com o tempo presente. Isto é, na tensão entre as lembranças de uma época na qual se mantinham como produtores autônomos e a experiência contemporânea na qual o gado do patrão lhes retirou a possibilidade de produzir autonomamente, levando-os à proletarização, às “escalas e interações de tempo-espaço típicas da empresa fabril moderna” (BRANDÃO, 2007, p. 44).
Ao confrontar tais lembranças com a história econômica do algodão, percebemos que o capital simbólico dos moradores, a crença numa posição honrosa derivada do “tempo do algodão”, está ausente das análises econômicas (TAKEYA, 1985; LEITE, 1994), que se concentraram somente na renda, no capital comercial, no poder aquisitivo dos agricultores, na expansão da produção e formação do mercado interno.[3] Buscamos então preencher esse vazio, indicando que, ao confrontar o passado com o presente, os moradores representam o pretérito como uma época na qual tinham “prestígio”: prestígio esse que perderam na contemporaneidade. Todavia isto não quer dizer que no “tempo do algodão”, ou no “tempo do prestígio”, não surjam contradições em suas lembranças. Para captarmos essa “estrutura de prestígio” e suas contradições, nos são indispensáveis as reflexões de Pierre Bourdieu (2015) sobre a valorização social do capital simbólico, a eufemização da violência simbólica nas relações de dependência pessoal contidas nas economias pré-capitalistas, que cria uma “estrutura de prestígio”, que nada mais é que uma espécie de acúmulo das aquisições materiais e simbólicas. E, assim, discutimos a valorização social do capital simbólico mediante os fatos da realidade pesquisada, fazendo um exercício tão caro a Bourdieu, como lembram Garcia Jr. e Garcia-Parpet (2022, p. 11), ou seja, “uma teoria investida nos fatos”. Procuramos, então, explorar a dimensão simbólica da dominação tradicional. Seguimos nesse caminho, acompanhando Bourdieu (2001) em seu objetivo de demonstrar a presença da dimensão simbólica nos diferentes tipos de dominação: “Mesmo quando repousa sobre a força nua e crua, a das armas ou a do dinheiro, a dominação possui sempre uma dimensão simbólica” (BOURDIEU, 2001, p. 209).
Tal dimensão simbólica está nos testemunhos dos moradores, que foram obtidos em nossa pesquisa de doutorado, de inspiração etnográfica, que versa sobre a dinâmica do sistema de moradores no semiárido.[4] Tais fontes orais foram coletadas por meio de entrevistas com o uso de gravador, como também através de diários de campo resultantes da observação participante que realizamos em fazendas localizadas no semiárido cearense, mais precisamente, em Quixeramobim, que, ao lado de Quixadá, Iguatu, Orós e Acopiara, era um dos principais municípios algodoeiros do Ceará (PRATA, 1977). Dessa forma, as falas são de moradores que viveram o esgotamento da produção algodoeira. Eles têm, neste artigo, suas identidades preservadas, mediante o princípio do anonimato (BEAUD; WEBER, 2007), especialmente devido à vigilância que sofrem pela administração das fazendas: em outras palavras, os nomes das pessoas e da fazenda de produção citados aqui são fictícios. Captamos, desse modo, a reconstrução dessa memória social, em especial a formação, as contradições e a desintegração da “estrutura de prestígio”.
O “tempo do algodão”
A história do algodão no semiárido tem relação direta com a Guerra de Secessão (1861-1865). Isso acontece em virtude da produção de algodão dos Estados Unidos (principal fornecedor de matéria-prima para a indústria inglesa) ter sido reduzida em razão do conflito. A Inglaterra passa então a incentivar a produção de algodão em várias regiões do globo, entre elas o semiárido brasileiro, região que já tinha experiência com o plantio da malvácea. Houve uma retomada significativa do plantio no semiárido e, assim, o algodão tornou-se mais um fator de remuneração na caatinga, disputando, palmo a palmo, a terra com o gado, no famoso binômio da economia do semiárido: gado-algodão. Sabendo da posição hegemônica que historicamente o gado ocupou nessa região, não podemos considerar esse fato irrelevante, como acreditam certos historiadores, cientistas sociais e economistas que não dão a atenção devida a esse momento de transição em suas análises (ver, por exemplo, BRAGA NETO, 2018). Momento esse em que o algodão foi brotando nas terras destinadas somente aos rebanhos da fazenda. Não é sem razão que Rodolfo Teófilo (1922, p. 16) escreveu sobre o surgimento desse cultivo em escala comercial: “Cada vez mais se acelerou a atividade dos lavradores ambiciosos e imprevidentes. Aos golpes do machado destruidor iam caindo diariamente as matas; devorava-as depois o incêndio; surgiam novas e numerosas lavras”. A economia do algodão se consolidou onde a pecuária era a regra.
Era sob o sistema de parceria que o algodão era produzido no semiárido, incorporando componentes ideológicos do sistema paternalista às relações capitalistas, buscando assim garantir mão de obra segura e de produtividade elevada (LOUREIRO, 1976). Na produção da malvácea também havia outras categorias, tais como arrendatários, assalariados permanentes e temporários, mas a maioria deles era constituída por parceiros, moradores das fazendas – moradores-parceiros – que recebiam dos proprietários, em troca de determinada porcentagem da produção de algodão, milho e feijão, terrenos para o plantio consorciado do algodão e da subsistência e dinheiro e insumos para que o cultivo pudesse ser iniciado. Além disso, eles tinham a obrigação de trabalhar dois dias na plantação do patrão, recebendo uma diária inferior à dos trabalhadores assalariados. Se tivessem filhos engajados no trabalho, estes ficavam apenas com 3/4 de sua remuneração (SILVA, 1982). A combinação de oferta crescente de mão de obra com baixo índice de produtividade viabilizava essa relação, porque dividia riscos e custos entre proprietários de terras e moradores-parceiros, sendo que para estes se refletia como “uma opção compensatória à falta de terras”. Somente dessa forma os proprietários de terra conseguiram imobilizar a mão de obra para o cultivo do algodão, fazendo com que a relação deles com os moradores se consolidasse e reproduzisse a dominação tradicional no sertão (BARREIRA, 1992), sem deixar de criar estratégias para eufemizar a violência simbólica oriunda de tal dominação. Configurava-se, portanto, um sistema misto de relações paternalistas e capitalistas, no qual a justaposição da opressão paternalista com a exploração capitalista provocava “a dominação ilimitada dos subalternos” (SABOURIN, 2011, p. 23).
Como a economia pré-capitalista é o lugar por excelência da violência simbólica (BOURDIEU, 2015), essa violência, que se traduz especialmente no estabelecimento das relações de dependência, deve ser transfigurada, pois senão tais relações podem ser desintegradas.[5] Aliás, para que a crença na parceria do algodão fosse reforçada, ou para que os agentes (fazendeiros e moradores) conseguissem manter a relação de parceria, era preciso que houvesse a reprodução de habitus conformistas (BOURDIEU, 2015). Visando manter a economia do algodão e sua clientela, os fazendeiros cediam casas e terrenos para os moradores, estreitavam laços de amizade com eles, apadrinhavam os filhos, assistiam a família com médicos, dentistas, medicamentos, professores e advogados, adiantavam insumos e dinheiro para as plantações, vendiam a crédito alimentos e ferramentas no barracão da fazenda etc. – tudo isso buscando ocultar a violência simbólica gerada pelo sistema misto. Reproduziam, então, crença na obrigação, fidelidade pessoal, hospitalidade, dádiva, dívida, “todas as virtudes às quais, em uma palavra, [a violência simbólica] presta homenagem a moral da honra” (BOURDIEU, 2015, p. 206-207).
Ponciano de Azeredo Furtado, proprietário da fazenda Santa Fé, procurava suavizar a violência simbólica da parceria do algodão com os moradores, comprando instrumentos musicais para eles montarem uma banda de forró, levando médicos e dentistas para atendê-los, agradando os filhos deles com calçados e roupas: a atmosfera de intimidade entre Ponciano e seus moradores era tão sólida, que dava a impressão de que havia entre eles relações horizontais, pois eram compadres na amizade e sócios de um mesmo negócio. Os moradores da Santa Fé vivenciaram a economia do algodão quando eram crianças, ajudando os pais no roçado, ou quando adultos, sustentando a casa com a renda da malvácea. Nos dias de hoje, eles perderam, uma a uma, as concessões extramonetárias que tinham, com a suspensão do plantio de algodão pela fazenda Santa Fé, que se deu após o afastamento de Ponciano da administração do estabelecimento por causa de sua idade avançada. Por isso, os moradores se lembram do passado com certa nostalgia.
Desde os fins da década de 1980 os moradores da Santa Fé e a população do semiárido em geral sentem a decadência do algodão e o predomínio absoluto do gado. Essa reestruturação produtiva – a substituição do binômio gado-algodão pela pecuária leiteira – provocou desemprego em massa, visto que o cultivo do algodão, feito manualmente, abria um número elevado de postos de trabalho em cada unidade de produção; diminuiu as terras de trabalho, onde os moradores criavam seus animais e cultivavam os algodoeiros e as lavouras de aprovisionamento, transformando-as em pasto para o gado; e fez com que o uso prioritário dos recursos hídricos já não valesse mais para o consumo humano, mas sim para irrigar os capinzais e matar a sede do rebanho da fazenda. Desse modo, os proprietários de terra deram uma guinada capitalista em seus negócios, pois retiraram o exercício parcial do processo de trabalho das mãos dos moradores, que caracterizava a parceria do algodão. Agora os moradores deixaram de ter acesso aos meios de trabalho, à terra para os roçados e criação de animais, tornando-se somente assalariados e não parceiros da produção. Como o salário que recebem não lhes assegura direitos trabalhistas, principalmente no campo onde a fiscalização do Estado é deficitária, a interrupção do “tempo do algodão” também significa a precarização do trabalho rural no semiárido.
O efeito da decadência da economia do algodão foi a redução dos moradores das fazendas, e não o esvaziamento das fazendas tradicionais como apregoa Carvalho (1990), isto é, a migração de parte dessa população para as cidades. Assim, na história estrutural do semiárido, há um movimento contínuo de povoamento, esvaziamento e repovoamento das fazendas, determinado por várias condicionantes, entre elas a intempérie da seca, crises econômicas, reestruturações produtivas e sedições (BRAGA NETO, 2017). Na seca de 1877-1879, o êxodo rural levou milhares de sertanejos a abandonar as terras da fazenda e procurar os socorros públicos nas cidades do litoral, como aconteceu na cidade de Fortaleza, que viu rapidamente sua população quadruplicar (PONTE, 2010). Mas aos poucos as fazendas foram sendo repovoadas com o fim das estiagens, mostrando a dinâmica da morada no semiárido. Com a decadência da economia do algodão, na década de 80 do século XX, temos um movimento contrário ao que foi assinalado por Celso Furtado (2009, p. 42-43): enquanto a população da “caatinga” cresceu devido à cultura do algodão mocó consorciada com a agricultura de subsistência, ela foi diminuindo sensivelmente com a redução dos índices da produção algodoeira na região. Como ocorreu em Quixeramobim, município onde os ex-moradores se deslocaram para a cidade com a esperança de se empregarem numa fábrica de calçados. Porém a maioria deles foi para a cidade de Fortaleza ou para outras regiões, principalmente para o Sudeste. Mesmo assim, não podemos afirmar que houve um esvaziamento completo das fazendas. Ao contrário, os estabelecimentos rurais ainda mantêm a morada porque continua sendo lucrativo contar com o apoio dos moradores.
Por tudo isso, na memória social dos moradores e ex-moradores, o “tempo do algodão” traz imagens contrárias às do tempo contemporâneo. Quer dizer que o sistema misto de relações capitalistas e paternalistas, no qual estavam inseridos nas décadas de 1970 e 1980 pode ser, em determinadas situações e aspectos, preferível à situação contemporânea, que tem como aspecto principal o bloqueio das terras de trabalho (GARCIA JR., 1983). A reestruturação produtiva na região – com a hegemonia da pecuária leiteira – subtraiu deles as terras de trabalho, as lavouras de subsistência, os meios de produção que, embora pertencentes às fazendas, eram por eles utilizados: em resumo, as contraprestações da morada, a lógica da reciprocidade que para eles prevalecia sobre a lógica do excedente ou do lucro imediato (ZaninI; Santos, 2022). E uma das perdas que eles mais sentem é a que extraiu deles o capital simbólico positivo, “o prestígio” do homem do campo. O que tem em comum na sequência de imagens criadas por eles é que, na maioria delas (porque em suas memórias há contradições, como veremos), eles acreditam que tinham, à custa de muito trabalho, certo prestígio no “tempo do algodão”; que nele podiam fazer uma representação honrosa de sua condição; isto é, que acumulavam capital simbólico positivo nessa temporalidade, fama de trabalhador disciplinado, que produzia bastante algodão e não causava problemas aos fazendeiros.
A formação da “estrutura de prestígio” e suas contradições
A “estrutura de prestígio” é um produto da memória social dos camponeses que foram entrevistados. Sem a referência do tempo presente, ou melhor, das suas condições de vida atuais, a “estrutura de prestígio” não existiria, não seria (re)construída, tal como nos ensina Halbwachs (1990) sobre o caráter construtivo da memória social. Para os moradores e ex-moradores, o cultivo do algodão dava prestígio ao homem do campo. “Prestígio” que pode ser traduzido em emprego, pois tanto os homens quanto as mulheres do semiárido poderiam ser aproveitados. Com o algodão, o “emprego era certo”, porque essa economia empregava a todos, como afirma o morador Zé Mundola:
O filho trabalhava. O avô trabalhava. O pai trabalhava. A mulher trabalhava. Aqui mesmo eu cansei de ver mulher colhendo algodão. Era um serviço maneiro. Dava emprego a todo mundo. Sem contar com a fábrica aí, que era um absurdo de gente trabalhando. Que tá aí fechada. Eu mesmo trabalhei na fábrica. Trabalhei dezoito meses. Trabalhei três anos – seis meses em cada ano. Gostei, era muito gente trabalhando de dia e de noite. O homem pagava direitin. Prestava as contas direitin, quando terminava o serviço. Quando acabava, já convidava pra trabalhar no próximo ano.
Nesse trecho, Zé Mundola fala das boas safras do final da década de 1970 e começo da década de 1980. De acordo com ele, “o algodão dava emprego a todo mundo”. A usina (“fábrica”), que processava o caroço do algodão para extração do óleo e preparação da torta para o gado, empregava os trabalhadores rurais no período de entressafra, aumentando-lhes a renda. Diferentemente, pois, do que acontece atualmente na região, onde os moradores do campo não têm mais ocupação, engrossando assim a fila dos inempregáveis que devem contar com os auxílios do governo. Ao dizer que todos os integrantes da família trabalhavam – “O avô trabalhava, o pai trabalhava e a mulher trabalhava” –, Zé Mundola faz uma comparação com a época atual, na qual poucos são os que têm emprego. Na maioria dos casos, somente uma pessoa da família está empregada, ou está aposentada, e as despesas da casa são mantidas apenas pelo seu ordenado. As pessoas empregadas são os homens da casa, pois a pecuária leiteira tem se organizado no semiárido como uma atividade majoritariamente masculina. Sendo assim, as trabalhadoras rurais, que colhiam algodão, devem buscar trabalho na fábrica de calçados na cidade. No passado, segundo Zé Mundola, a produção de algodão empregava todos que realmente quisessem trabalhar (diferentemente do que acontece com a pecuária leiteira), e “todo mundo tinha dinheiro”, porque “todo mundo tinha emprego”.
Conforme suas memórias, os lavradores sentiam-se honrados com a parceria do algodão. Eles criavam laços com os proprietários de terra, e, na lógica camponesa, ser procurado pelo fazendeiro, feitor ou gerente para trabalhar, estar próximo do patrão, ter seus filhos apadrinhados pela casa-grande, ter suas necessidades atendidas pela família senhorial, tudo isto significava ser dotado de status. Desse modo, os lavradores que cultivavam o algodão poderiam acumular “prestígio”, e, no interior de cada fazenda, esse “prestígio” era variável, dependente da história local de cada fazenda. Mas, no geral, a “estrutura de prestígio” se define pela valorização do homem do campo que, na época do algodão, era “disputado” pelos fazendeiros. Segundo relato do morador Manoel Patrício:
O pobre tinha valor pro patrão. Morador, cidadão, com cinco filhos, trabalhador, se desgostasse do patrão, já tinha quatro ou cinco patrão em volta, pedindo pro morador ir pra ele.
Em sua fala, Manoel Patrício defende que os proprietários de terra competiam entre si pelos braços dos moradores. Essa procura era uma manifestação de reconhecimento social, que tornava os moradores conhecidos, visíveis, conferindo-lhes uma teodiceia de sua existência (BOURDIEU, 2001). Eles, os lavradores pobres, achavam-se desse modo valorizados pelos fazendeiros. O que importava era a produção de algodão: quanto maior a produção, mais reverenciado o morador: por isso, quanto maior era a família do morador (“com cinco filhos”), maior a produção, e maior seria a disputa entre os fazendeiros. Na fala de Manoel Patrício, também é interessante notar que há uma inversão nas relações de poder: em vez do patrão se desgostar do morador, era o morador que se desgostava do patrão e, em vez do morador pedir um favor ao patrão, é este que pede um favor àquele (“já tinha quatro ou cinco patrão em volta, pedindo pro morador ir pra ele”). Isto demonstra que o “prestígio” dos moradores significa capital simbólico, que, em determinadas circunstâncias, pode embaralhar as cartas dos jogos sociais que se desenrolam no campo.
O “prestígio” quer dizer produção, trabalho, esforço, suor. Sendo assim, o “prestígio” do morador poderia ser elevado pela produção que ele tivesse. Como o “capital simbólico [...] não constitui uma espécie particular de capital, mas [...] aquilo em que se transforma qualquer espécie de capital quando é desconhecida enquanto capital, ou seja, enquanto força, poder ou capacidade de exploração” (BOURDIEU, 2001, p. 296), a exploração do trabalho nas fazendas de produção de algodão era escamoteada pelo “prestígio” que era concedido pelos proprietários de terra. Quanto mais o indivíduo correspondesse às expectativas do patrão, mais distinto ele seria. Quanto menos correspondesse, menor seria a chance de o morador permanecer na fazenda. Se a família do morador fosse extensa, produzisse grande quantidade de lã, ela devia ser, além de exaltada, conservada na unidade de produção. Assim, nas palavras do morador João Miguel: “Quando o cara era trabalhador, que deixava produção pro patrão, ele era abraçado por qualquer fazendeiro que tivesse em volta.” Esse abraço, que demonstrava certa intimidade, era, no “tempo do algodão”, almejado tanto pelos fazendeiros quanto pelos moradores. Portanto, “o prestígio” era determinado pelo sucesso da parceria e dava aos moradores força para resistir ao arbítrio dos fazendeiros.[6]
A renda gerada pelo algodão também contribuiu para a construção da “estrutura de prestígio”. Na década de 1980, João das Neves adquiriu uma boa renda com o cultivo da malvácea, trabalhando praticamente sozinho, porque seus filhos não queriam trabalhar no campo. O dinheiro que obteve foi suficiente para sair da condição de sem-teto. No entanto, ele tinha duas filhas que desejavam estudar:
Eu plantei em 80 sete hectares de algodão. Eu ia comprar uma casa pra mim. Mas aí tinha duas filhas querendo estudar. Aí eu fiz um depósito para o custo delas estudar. [...] Peguei esse dinheiro que podia comprar uma casa pra mim e entreguei pra elas. Porque, naquele tempo, o governo não ajudava quem queria estudar. O governo não dava um lápis, nada. Não tinha uma borracha daquela que enfia no lápis que o governo desse. Tudo era a gente que tinha que dar. Não tinha transporte. Eu não podia comprar uma casa na cidade. Eu não podia ir morar na cidade. [...] Daquilo ali [do dinheiro do depósito] era que eu pagava o dono da casa, que eu pagava o material escolar, a roupinha delas... O patrão mesmo, que tem uma visibilidade muito boa – ele dizia às vezes em palestra: “Eu não sei como o senhor consegue, ganhando o que ganha, educar a família.” Por que educava? Por isso. Porque passava um ano trabalhando. Quando tinha dado pra comprar uma casa pra mim, no caso das duas agriculturas que foram em 80 e 81, eu entreguei pra elas. Daí pra frente não deu mais pra agricultura... Como é que você arruma dinheiro hoje pra comprar uma casa no campo? Como é que o homem do campo hoje consegue? Não comprei por isso.
João das Neves desistiu de comprar a tão sonhada casa para prover a despesa dos estudos das filhas na cidade. Como à época as escolas estavam mais limitadas à cidade, os lavradores que desejavam estudar eram forçados a se deslocar para a área urbana dos municípios do interior, ou até mesmo para a capital. Tal quadro não é diferente da realidade atual em razão da insuficiência de escolas no sertão; porém, no passado, não havia a quantidade de carros e de motocicletas que existe atualmente nem transportes escolares para o atendimento das comunidades interioranas. Em vez de se deslocar diariamente para as escolas, como os filhos dos lavradores fazem na atualidade, “no tempo do algodão” o jovem do campo tinha que se mudar para a cidade. E, na maioria das vezes, era obrigado a desempenhar a função de empregado doméstico das casas que o acolhiam. Mas isto não aconteceu com as filhas de João das Neves, porque elas foram para a casa de parentes que não exigiam delas a prestação de serviço doméstico. Assim seus quatro filhos foram morar na cidade para estudar. Cada um foi para uma casa diferente. Em contrapartida, João das Neves tinha que arcar com as despesas das filhas.
À época, o Estado não os ajudava, não havendo políticas públicas para a subvenção de transporte e de material escolares. Como diz João das Neves: “Não tinha uma borracha daquela que enfia no lápis que o governo desse.” Para suas filhas estudarem, ele dependia exclusivamente da renda proporcionada pelo algodão. Mais uma vez, ele compara o passado com o presente e, no tocante à presença do governo, critica a ausência dele em relação à assistência estudantil. Sobre a situação atual, diz que o governo manda vir buscar o aluno na porta de casa, além de lhe fornecer o material escolar. No pretérito, todavia, não havia “facilidades” para o sertanejo que desejasse estudar. Se suas filhas não tivessem que se mudar de casa para realizarem o sonho de “terminar os estudos”, João das Neves teria comprado a sua casa. Assim, de acordo com sua lembrança, havia, “no tempo do algodão”, a possibilidade de o homem do campo adquirir sua residência, livrando-se da morada da fazenda. Ele, que atualmente continua sem ter casa própria, faz essa revelação, sem no entanto deixar de contrapor o tempo do algodão com os dias de hoje (“Como é que você arruma dinheiro hoje para comprar uma casa no campo?”).
Para os moradores, adquirir uma casa representa mais do que sair do aluguel: é libertar-se, em parte, da dominação dos proprietários de terra. Em vez de residir e trabalhar na fazenda, tendo sua vida vigiada e sendo forçado a uma submissão exorbitante, ficaria na fazenda apenas durante o seu tempo de trabalho. Ao terminar o expediente, os trabalhadores sairiam da fazenda e iriam descansar em suas residências, livrando-se do assédio dos fazendeiros ou gerentes, que regularmente interrompiam o repouso deles para exigir que realizassem determinado serviço além do seu tempo de trabalho, aumentando-lhes o sobretrabalho. Comprar uma casa significa, pois, liberdade para o trabalhador rural: é sair, em parte, da condição submissa de morador.
Ao falar da prosperidade que o cultivo do algodão proporcionou à população sertaneja no final da década de 1970 e começo da década de 1980, Manoel Patrício lembra que com a renda do algodão: “Os moradores compraram espingarda, bicicleta, geladeira, fogão [a gás].” O algodão assim proporcionou uma inédita elevação econômica para o trabalhador rural da região semiárida. Ele passou a ter acesso a bens que não tinha antes. Foi a parceria do algodão que fez com que os moradores pudessem trocar o burro pela bicicleta; o fogão a lenha pelo fogão a gás; o sal pela geladeira; a baladeira pela espingarda; a casa de taipa na fazenda pela casa de alvenaria fora da fazenda etc. O acesso a esses bens levou os moradores a idealizar de forma positiva o seu passado e a censurar o “tempo de hoje”, no qual, apesar da compra facilitada de bens de consumo, a sua renda já não se equipara à do “tempo do algodão”.
Mas essa “estrutura de prestígio” não se reduz somente à renda gerada, à quantidade de algodão produzido e ao trabalho despendido (ao sucesso da parceria), ou seja, ela também é construída por diferentes sentimentos. Trazendo mais um elemento para o debate, Manoel Patrício explica assim a complexidade do “prestígio” dos moradores no “tempo do algodão”: “O único prestígio é o suor. Ou o patrão gosta da filha do morador.” Assim, Manoel Patrício indica que o “prestígio” também era determinado por certa admiração dos fazendeiros em relação às filhas dos moradores. “Gostar da filha do morador” é, no sentido dado por Manoel Patrício, dedicar amizade à filha do morador, como aconteceu com sua filha, que foi apadrinhada por Ponciano Azeredo Furtado. Foi por causa do padrinho que ela pôde morar e estudar na cidade de Fortaleza.
Agora, na maioria dos casos, “o gostar” pode ser traduzido por forte atração sexual pela filha do morador ou por outro integrante da família do morador, inclusive sua esposa, como descrevem os romances sobre a vida nos engenhos e fazendas do interior (ver, por exemplo, São Bernardo, de Graciliano Ramos, 1997). Desse modo, “o gostar” opera uma distinção em relação à família das moradoras, que são desejadas sexualmente pelos fazendeiros ou seus filhos.
Tal estima reforçava essa “estrutura de prestígio”. Além disso, o saber acumulado pela experiência social dos camponeses era um determinante positivo de status. A importância do saber na determinação do status do morador se deu principalmente na realização de serviços que requeriam um grau mínimo de especialização. Serviços, pois, que não se limitavam somente ao amanho da terra. O morador que, além de cultivar o algodão, sabia construir açudes e barragens, medir a propriedade, conduzir trator com habilidade, fazer silagem etc., tinha seu capital simbólico elevado. João Grilo foi, sem dúvida, um desses moradores. Não foi sem razão que ele ocupou a posição de chefe do setor agrícola da fazenda Santa Fé. Se tivesse trato com a papelada do escritório, João Grilo teria sido o gerente da fazenda, pois, além de saber fazer essas coisas necessárias ao funcionamento da propriedade, era uma espécie de líder para o grupo. Em suas histórias, recorda sempre que liderou uma equipe de 80 homens no desmatamento de 700 hectares, para fazer áreas de pastagem para o gado. Também lembra o caso em que, em razão dos seus conhecimentos, evitaram a construção de mais um açude na Santa Fé. De acordo com seu testemunho:
Já tinha [o patrão] decidido. Ia fazer um açude na extrema da fazenda. O gerente tava de acordo com o projeto. No dia em que os homens chegaram para fazer a construção, o dono [Ponciano de Azeredo Furtado] perguntou o que eu achava da obra. Eu disse que o açude era caro e pouco lucrativo pra fazenda. Assim que ele ouviu isso, ele mandou dispensar os homens, guardar o material, que ele tinha desistido de fazer o bendito do açude.
O patrão desistiu de construir o açude porque levou em consideração a opinião de João Grilo. Dificilmente, isto aconteceria nos dias de hoje, nos quais não há proximidade entre moradores e proprietários de terra nas fazendas de produção do semiárido, sendo depreciado o conhecimento empírico dos lavradores. No “tempo do algodão”, porém, a organização patrimonialista do trabalho nas fazendas permitia a aproximação entre esses dois segmentos sociais, fazendo com que a experiência de trabalho dos lavradores fosse aproveitada. Ao lembrar esse episódio, João Grilo narra uma época em que ele era reconhecido entre seus pares, ou seja, que era vitorioso na luta simbólica.
Todavia, no “tempo do algodão”, “o prestígio” não era para todos os moradores. Para os indivíduos que não trabalhavam regularmente não havia admiração: pelo contrário, havia estigmas e repúdio. O homem do campo devia trabalhar, suar bastante, dar renda para o patrão. Se, ao contrário disso, não gostasse de trabalhar, de suar e produzir, ele devia ser expulso da fazenda, porque no meio rural ele era desvalorizado. É nesse sentido que o morador Marciano explica a distinção produzida no “tempo do algodão”:
Tinha um fazendeiro aqui, o senhor [João Paulo dos Santos Ferreira]. Se ele fosse na estrada e encontrasse um cantador com uma viola, ele virava a cara pra outro lado e deixava esse cara de pés. Se ele achasse um homem com uma enxada, ele levava.
Marciano recorda que o fazendeiro João Paulo dos Santos Ferreira não admitia violas. Para o fazendeiro, o morador era para andar com a enxada nos ombros e não tocando violão em sambas regados à cerveja. A atitude do fazendeiro (“de virar a cara”) demonstra que, nas fazendas, o “prestígio” dos moradores que gostasse de festas seria nulo. Havia, portanto, muitos indivíduos que não admitiam o ritmo de trabalho regular das fazendas e, assim, dificilmente, poderiam residir nelas. O “prestígio” do camponês estava ligado à produção, ao “suor”, ao trabalho dedicado à malvácea e, quem não trabalhasse de forma regular, não ganharia status de “bom trabalhador”.
Mesmo com o prestígio do “tempo do algodão”, não se pode esquecer que nessa época os moradores viviam sob uma grande sujeição, que relativizava o “prestígio” que eles tinham, pois, quando lembram essa época, irrompem contradições em suas memórias. É como se o “prestígio” e o “desprestígio” convivessem lado a lado, como faces de uma mesma moeda. Por isso, não dá para sustentar, como fez Antônio Candido (2010) sobre os parceiros do Rio Bonito, que os moradores da Santa Fé estejam orientados por “saudosismo transfigurador”, no qual, ao cotejar o presente com o passado, eles defendem somente que as condições do passado eram superiores às do presente. Tendo feito verdadeiro louvor ao “tempo do algodão”, Manoel Patrício afirma: “daquele tempo pra trás, [o trabalhador] era tipo escravo”. Ou João Miguel, ao negar essa estrutura de sentimentos: “pobre não tinha prestígio de nada”. Ou ainda Arnaldo, quando diz: “o morador estava amarrado à fazenda”. Nesse sentido, encontram-se em suas memórias contradições que são próprias dessa formação social, na qual os proprietários de terra ainda precisavam manter relações pré-capitalistas para dinamizar a economia do algodão.
Há, sem dúvida, muitas contradições em seus testemunhos, o que revela a complexidade dessa formação social. Com o distanciamento em relação ao “tempo do algodão” e com as mudanças estruturais que aconteceram no semiárido, os moradores puderam refletir sobre o “tempo do algodão”, comparando-o com o tempo atual, no qual o assalariamento, juntamente com os direitos trabalhistas, e também a inclusão deles em programas de benefícios sociais do governo federal compensaram, em parte, as vantagens que havia na época em que eram parceiros dos proprietários de terra. Por isso, essas contradições em suas falas. Neste depoimento de Manoel Patrício fica evidente que ele está confrontando o tempo atual com o passado. Embora seja o “tempo do prestígio”, nele havia abandono, fome e tumultos:
No passado não tinha quem ajudasse. Durante os repiquetes e as secas, quando chegava o mês de março, o pessoal tava nos comércio ali quebrando tudo, tomando, morrendo de fome. O cara dava rapadura e farinha e o pessoal escapava lá, tava na calçada, o prefeito fazia isso. Quando faltava, eles tomavam a cidade, pedia, se humilhava, pedia pelo amor de Deus me dê um bocado. Eu vi muito isso. Na época, se você vivia do algodão e não tinha o inverno [que no semiárido é considerado como período de chuvas] aí você ia viver de quê? Ia ter que sair de algum canto. Como era que saía? Ninguém dava nada, o cara ia tomar. Hoje você pega um 2012 desse aí, que não houve inverno, e nós chegamos aqui no mês de abril todo mundo trabalhando nas suas rocinha; aquele motozim ali: o governo tá ajudando. Quem tem sua vaquinha, tira seu leitin, o carro passa lá, ele vende, todo dia apura alguma coisa, e tá sobrevivendo. Ninguém foi mais pra cidade pra tomar nada de ninguém. Hoje tá assim diferente, totalmente. O pessoal tá nos assentamento dos governos aí. Tem gente que acha até melhor, Seguro-Safra e mais algumas vantagens. Hoje o governo dá uma coisinha, tá diferente... A gente sabe que no final do mês tem aquele dinheirinho [do Bolsa-Família]. [...] Hoje a gente vive melhor, naquele tempo era sofrimento. Se você chegar num mercantil desses e comprar 500 reais – não for comprar besteira, a sobrevivência do homem do campo, ele come o mês todim e sobra e ele ainda escolhe lá o que quer. E na época [no passado] não dava, não dava pra nada. Hoje tá um beleza, 742 reais, sobra 300 reais pra você pagar um consórcio, pra você pagar aí uma prestação de alguma coisa, de uma televisão, duma coisa.
De fato, a história social do semiárido é marcada por saques no comércio das cidades do interior e das capitais do Nordeste, pois durante as secas os trabalhadores rurais se retiravam das fazendas e migravam para as zonas urbanas com o objetivo de garantir a alimentação da família, por meio da caridade particular, e, quando não eram atendidos, furtavam os armazéns e as mercearias que encontravam (ver NEVES, 2000). Manoel Patrício utiliza os saques do passado como uma espécie de termômetro para avaliar o tempo presente, e assim percebe que, mesmo em um ano de seca, como foi o ano de 2012, não houve saques ao comércio, o que significa que os tempos mudaram, tornando suas condições de vida mais satisfatórias. Conforme o seu relato, isto se deve à ajuda do governo, seja com as políticas públicas voltadas para a reforma agrária, seja com os programas de transferência de renda, seja com a valorização do salário mínimo, que, “se o homem do campo não for comprar besteira, ainda sobra um dinheirinho para pagar um consórcio”. Essas políticas públicas foram decisivas para a elevação econômica dos trabalhadores rurais, como afirma Jorge Teixeira (2014, p. 210), porquanto “colocaram alternativas de ganho e remuneração para os moradores, que dependiam exclusivamente dos recursos do patrão”.
Mais uma vez, é Manoel Patrício que demonstra que o passado deles não deve ser considerado uma idade de ouro. Pode-se dizer que era uma época na qual “a renda era certa”, mas que havia poucas oportunidades de mobilidade social. Isso quando os moradores não estavam endividados. Assim, Manoel Patrício não se esquece de recordar o fato de que, no “tempo do algodão”, os moradores não conseguiam se livrar das dívidas. E o que mais lhe causava indignação era saber que, ao contrário do que acontecia com as dívidas dos fazendeiros, as dos moradores eram imperdoáveis:
Aí pra trás acontecia dum ano fraco o banco perdoava a conta do fazendeiro. E o fazendeiro não perdoava a do morador. Ele pagava de qualquer jeito. O morador tinha que pagar. Não podia sair sem pagar. A coisa era cruel, vi muito isso. O morador que tava devendo tinha que pagar na próxima safra. Trabalhando dia de serviço barato, descontado. Eu mesmo fiz isso aqui. Na época eu fiz isso. No ano de 81.
Enquanto os bancos livravam os fazendeiros do pagamento de dívidas, os moradores deviam pagar os fazendeiros na próxima safra, tendo assim sua diária reduzida. Isto demonstra que, para o Estado, eram os fazendeiros que tinham “prestígio”, e não os moradores. Nesse caso, a “estrutura de prestígio” dos moradores não os protegia das dívidas contraídas na fazenda. Manoel Patrício revela, então, ter consciência das injustiças que eram cometidas com os trabalhadores rurais que, tradicionalmente, estiveram excluídos das políticas públicas. Desse modo, as dívidas dos moradores se concentravam no barracão das fazendas, de onde recebiam o fornecimento, que se traduzia como mais um pilar da dependência (BARREIRA, 1992). Tal fornecimento os deixava em uma situação de grande vulnerabilidade, de insegurança alimentar, reforçando assim a sua dependência para com os proprietários de terra. É por isso que o morador Silveira ainda se lembra do padecimento passado:
Do passado não tem nada bom, não. De primeiro você tinha um saquim de pano. Pedia dois quilos de uma coisa, três de outra. O comerciante pesava e botava dentro do saquim. Cansei de ir, mais o meu pai, pra bodega, com os saquim na mão, e do jeito que eu levava, trazia seco. O cara não vendia porque nós tava devendo. Hoje, eu trabalho de carteira assinada, né? Aí tenho minhas férias, tenho meu salário todo o mês, tem meu décimo... Eu tenho meu emprego fixo e tenho meu salário todos os meses fixo, né? Hoje, se eu adoecer, eu peço meu atestado ao médico e eu fico ganhando, não é? De primeiro, não...
Ao falar do passado, o morador Silveira não deixa de falar do tempo presente, destacando então os direitos trabalhistas assegurados na carteira de trabalho, tais como férias, salário, décimo terceiro e licença-saúde. Para ele o “tempo do algodão” foi uma época de muito sofrimento: além das dívidas, a fome que os acompanhava, e que deixa o “tempo do algodão” e a “estrutura de prestígio” ainda mais complexos. Estar numa fazenda, plantando algodão “de meia”, recebendo o fornecimento do patrão, comprando no comércio da cidade ou caçando na mata, não significa que os moradores estivessem livres do fantasma da fome. Situação essa que se agravava em decorrência das secas.
Além do morador Silveira, o morador Arnaldo também fala da carência alimentar que experimentou no “tempo do algodão”, ao comparar essa época com o tempo presente, que ele chama de “tempinho dado”:
Naquele tempo passado, você levava o quê [pro trabalho]? Um quarto de rapadura e uma mão cheia de farinha branca dentro de um saco pra passar o dia todim. Quando chegava de noite, olhava pro fogão tava só as cinzas. Hoje, quando você chega, você vê quatro ou cinco panelas no fogo. É o arroz, tem o macarrão, tem a carne e tem o feijão, né? Agora tá um tempinho dado.
O relato de Arnaldo lembra o farmacêutico e historiador Rodolfo Teófilo (1980) que, no começo do século XX, escreveu sobre o que ele definia de “resistência orgânica” dos cearenses, isto é, a força que os cearenses demonstravam no trabalho do campo, embora tivessem apenas farinha e rapadura para a sua alimentação. O “tempinho dado” indica uma maior diversidade de alimentos, uma sensação de fome saciada, e, claro, é o antípoda do “tempo do algodão” em que, em vez de arroz, macarrão, carne e feijão em cima do fogão, só tinha “cinzas”. Assim, os moradores descreveram uma situação alimentar que não se coaduna com a fonte de proteínas que os sertanejos tinham acesso, tais como: carne de boi, carne de carneiro e carne de cabrito (CASTRO, 2006). A alimentação sertaneja, considerada um regime alimentar saudável, estava, de acordo com os testemunhos de Arnaldo e de Silveira, mais próxima das áreas de fome endêmica do que das áreas de epidemia da fome (CASTRO, 2006). Todos esses elementos relativizam a “estrutura de prestígio” dos moradores.
No entanto, em suas rodas de conversas, não demora muito para que, além dos aspectos negativos, sobressaiam aspectos positivos do “tempo do algodão”. Dessa forma, podemos dizer que a experiência de cada morador com a economia do algodão é diversa, confusa, ora o algodão era o “ouro branco”, solução para resolver todos os seus problemas, ora uma economia insuficiente para a sobrevivência digna do homem do campo. Ao idealizarem positivamente o seu passado, os moradores têm dessa época mais uma lembrança favorável: certa autonomia (liberdade), porque o tempo de trabalho do morador não pertencia ao domínio absoluto dos fazendeiros, tal como no “tempo do leite”, mas também era propriedade deles. Como nos disse o morador Jesuíno Soares:
Na era do algodão, a gente não só trabalhava pra ele [para o fazendeiro, como atualmente no “tempo do leite”], trabalhava pra gente também. A gente dava só três dias de trabalho, e ele pagava no dia.
Desse modo, Jesuíno destacava uma das maiores vantagens que ele tinha “no tempo do algodão”: a de poder trabalhar para si, dedicar-se quatro dias da semana ao seu roçado e, assim, aumentar sua produção. Depois que a fazenda Santa Fé trocou o algodão pelo leite, os moradores passaram a trabalhar apenas para o patrão, mas sem ter direito sobre a produção leiteira. Eleva-se assim o grau de exploração e a situação de Jesuíno e dos demais moradores é semelhante à dos trabalhadores da cidade. Quando ele faz essa reclamação, ele está censurando o tempo atual, no qual ele só trabalha para a fazenda Santa Fé.
Atualmente, sem o cultivo do algodão, os proprietários de terra não cedem mais terrenos, uma vez que, para a produção de leite, não é preciso destinar terra aos moradores. Agora, os moradores são assalariados, não precisam dispor de terra para garantir seus meios de subsistência. Tampouco podem criar animais – “ninguém pode criar uma galinha”, como diz Manoel Patrício – porque, além de ser assalariados, a terra e a água da fazenda devem ser destinadas às vacas do patrão e não às ovelhas dos moradores.
Por tudo isso, vemos que são muitas as contradições da “estrutura de prestígio”. Como pode o morador ter prestígio se o fazendeiro não perdoa suas dívidas? Como pode o morador ser prestigiado se era tipo escravo? Como pode o morador dispor de capital simbólico se ele não tem o que comer? Tais contradições demonstram a complexidade dessa sociedade, que se transformará, mas que não deixará de ser contraditória.
A desintegração da “estrutura de prestígio”
A interrupção da produção algodoeira dissolveu a fonte de “prestígio” dos moradores. Nos dias atuais, eles não têm mais o capital simbólico que a economia algodoeira lhes conferia: o “prestígio” foi embora com o algodão. Nesse sentido, a interrupção do algodão demarca um tempo de rupturas, no qual o algodão foi substituído pelo leite, tornando a agricultura do semiárido mais capitalizada, e os moradores foram perdendo suas terras de trabalho, ao serem proibidos de plantar suas lavouras e de criar seus animais. Assim, o morador Zuca desabafa: “Depois do algodão, o prestígio do pobre ficou igual ao do jumento.”
O desabafo de Zuca mostra que, quando se interrompeu o cultivo do algodão, a “estrutura de prestígio” foi dissolvida. O grau de “prestígio” do homem do campo foi rebaixado, igualando-se ao do jumento, ou seja, tornou-se nulo, visto que, hoje em dia no semiárido, o jumento não tem valor, foi desprezado. A comparação de Zuca é elucidativa, pois o jumento era bastante valorizado no passado, mas, após a popularização das motocicletas, ele perdeu a posição de principal meio de transporte do interior. Desse modo, Zuca afirma que, no passado, os trabalhadores rurais tinham “prestígio”, porque eles tinham parte do controle da produção de algodão (uma das principais fontes de renda das fazendas). Mas, atualmente, com a interrupção da produção algodoeira, eles estão desprestigiados, da mesma forma que os jumentos que vagueiam pelo sertão.
Desse modo, para melhor compreensão da “estrutura de prestígio”, que representa a economia do algodão, Zuca coteja o tempo pretérito com os dias de hoje, sobretudo em relação à quantidade de mão de obra nas fazendas:
Hoje, se o patrão quiser um morador, que ele só tenha um filho, que ele seja aposentado, que vá viver lá dentro ganhando qualquer coisinha. Então, é o contrário do passado. No passado, era quanto mais gente melhor. Hoje ninguém quer mais ninguém. Se for tirador de leite, se for um cara que insemine uma vaca, até que ainda vai. Mas se não for, não tem.
Com a interrupção do cultivo do algodão, os moradores não são mais “disputados” pelos fazendeiros. Como os meios de trabalho foram arrancados das suas mãos, o capital simbólico deles caiu, tal como as taxas de produção algodoeira do Nordeste. O “prestígio” agora foi deslocado para os trabalhadores rurais que sabem, por exemplo, inseminar as vacas do patrão. Comparando o tempo presente com o passado, a situação foi invertida: enquanto, “no tempo do algodão”, o número de integrantes da família era um determinante de “prestígio”, hoje família extensa se tornou sinônimo de ônus e os fazendeiros têm por preferência famílias menores e pessoas já aposentadas, que preferem morar no campo e, dessa forma, podem vigiar as fazendas sem custo algum para os proprietários, ou se instalam nelas “ganhando qualquer coisinha”. Em virtude da decadência da cultura do algodão, os proprietários de terra diminuíram o número de moradores sem perderem nenhuma fração de suas terras, por intermédio de uma verdadeira reforma agrária, e, assim, contribuíram para o inchaço urbano das cidades do interior e da capital, pois, no campo, “hoje ninguém quer mais ninguém”.[7]
Desse modo, os moradores que ficaram nas fazendas sofrem com o “desprestígio” atual. Ao confrontarem o passado do algodão, que lhes dava “prestígio”, com o tempo presente, que para eles significa distanciamento da casa-grande e perda dos meios de trabalho, sentem-se nostálgicos. Ressentem-se da ausência dos fazendeiros e seus familiares nas propriedades; na verdade, eles sentem mais a falta da figura do fazendeiro, do patriarca, porque os fazendeiros sabiam tratá-los de forma paternalista, tal como era exigido pelo código do sertão (sobre essas relações, ver HOLANDA, 1995). É como se aquela estrutura social tivesse desmoronado, embora a reconstruíssem constantemente em suas lembranças.
Para se ter uma ideia disso, o morador Arnaldo relata acidente que seu sobrinho, o morador Fabiano, sofreu no trabalho, ao dizer que, se o seu patrão, Ponciano Azeredo de Furtado, ainda estivesse no comando da fazenda, o tratamento dado a Fabiano teria sido totalmente diferente. Fabiano caiu do trator ao ajudar o tratorista na colheita de capim, e o rolamento do veículo decepou sua perna esquerda. E como a fazenda Santa Fé não pagou as cirurgias de Fabiano, Arnaldo chegou a esta conclusão:
Ali foi um desprestígio muito grande. A empresa não fez nada pelo rapaz. Se fosse o dono tinha sido diferente. Ele tinha dado assistência ao rapaz. Foi um desprestígio muito grande...
Arnaldo faz, então, uma crítica aos novos administradores da fazenda Santa Fé, isto é: aos filhos de Ponciano de Azeredo Furtado, pois a relação deles com a fazenda difere totalmente da que o patriarca tinha quando frequentava a Santa Fé. Seus filhos não se interessam pelos negócios rurais que são realizados no semiárido, especialmente porque são poucos lucrativos, e, assim, coloca-os sob a administração de um gerente, visitando, muito raramente, a propriedade rural, que Ponciano tanto amava. Portanto, seus filhos não se compadecem de Fabiano e não fazem nada para ajudá-lo. Tampouco Fabiano procura seus direitos na Justiça. Tudo leva a crer que ele não processa a administração da fazenda porque ele mora de favor na Santa Fé por mais de quatro décadas, e, dessa forma, busca proteger os demais moradores que, além de colegas de trabalho, fazem parte da sua família. Eis, pois, “o tempo do desprestígio”, da dominação do capital, que varre a “estrutura de prestígio” do mapa da região.
Com efeito, o que ainda se mantém da “estrutura de prestígio” são as lembranças dos moradores sobre “o tempo do algodão”. Prestígio esse que, de acordo com os relatos dos moradores, é preciso ser problematizado.
Considerações finais
Realizamos as entrevistas com os moradores e ex-moradores que trabalharam diretamente na produção algodoeira, em Quixeramobim, um dos municípios cearenses que mais produziram algodão. Inicialmente, esse material estava designado somente para a realização de nossa tese de doutorado sobre o sistema de moradores, mas como havia grande riqueza temática a explorar nessas entrevistas, especialmente no tocante ao trabalho na produção algodoeira das décadas de 1970 e 1980 na região, pudemos aproveitá-las para escrever esse artigo sobre a representação dos moradores acerca da economia do algodão. À luz dos escritos de Bourdieu, procuramos demonstrar, por meio dos depoimentos de moradores e ex-moradores, que em suas falas sobressaía a palavra “prestígio”, formando uma “estrutura de prestígio” que, apesar de ser aparentemente mais solidária do que a estrutura social na qual estão inseridos, revela-se, nas contradições de seus testemunhos, uma estrutura cruel na qual estavam submetidos ao princípio da servidão no trabalho. Isto é, buscar os aspectos simbólicos da memória social é de grande valia para a história e as ciências sociais, como demonstra a construção da “estrutura de prestígio” dos moradores que viveram o “tempo do algodão”.
Há entre os moradores entrevistados formas simbólicas comuns de pensamento, cuja base de sustentação está no confronto com as condições sociais do tempo presente, que são antípodas do “tempo do algodão”. Em suas falas, há uma idealização do passado, tendo o algodão como motor da economia regional. Todavia, essa idealização tem limites bem demarcados, pois, no complexo dos seus sentimentos, surgem contradições que são peculiares da formação social que estavam inseridos. Da mesma forma que no “tempo do algodão” havia liberdade, havia escravidão; da mesma forma que, nessa temporalidade criada por eles, davam-lhes autoridade e reconhecimento, sobretudo em relação ao conhecimento empírico da natureza, havia sujeição; e, da mesma forma que havia moradores “prestigiados”, havia moradores “desprestigiados”. Tais pares opostos coexistem, de forma tensa, na memória social dos moradores sobre o “tempo do algodão”, delimitando assim a sua idealização do passado. Portanto, não foi de nosso interesse explorar os componentes ilusórios de tal memória, como alerta Raymond Williams (1989), principalmente porque conseguimos, por meio dos depoimentos de nossos interlocutores, perceber as contradições dessa formação social, isto é, identificar que, em sua memória, coabitam o “sofrimento de hoje” e o “sofrimento do passado”, ao compreender que a violência simbólica do passado é recompensada em sua memória com o “prestígio” que a economia do algodão concedia aos moradores.
É preciso destacar que a censura que os moradores fazem à economia da região se concentra majoritariamente no tempo atual, na exploração derivada do capitalismo, apesar de não definirem tal exploração como capitalista. Mas é preciso dizer também que a censura do tempo presente tem, tal como a idealização do passado, limites, especialmente por causa da ação do Estado e das políticas sociais de enfrentamento à pobreza. Assim, os direitos trabalhistas assegurados, a valorização do salário mínimo e os programas de transferência de renda são sempre lembrados como conquistas fundamentais para a melhoria de suas condições de vida.
Mas, ao mesmo tempo que eles ressaltam a importância do Estado em sua vida social, reclamam da ausência do patrão na fazenda, pois, no “tempo do algodão”, o patrão sempre estava presente, reforçando portanto os vínculos entre eles, porém o Estado não: “o Estado só ajudava o patrão”. No pretérito, não havia políticas sociais direcionadas a essa população rural, e os lavradores deviam contar apenas com a classe dos proprietários de terra. Dessa forma, a parceria do algodão aproximou fazendeiros e moradores, sendo que estes eram reconhecidos pela classe fazendeira como fundamentais para a economia do algodão. Reconhecimento esse que lhes falta hoje em dia, em razão das mudanças estruturais, mas que não foram capazes de lhes tirar da memória a relação amistosa que devia existir entre eles na parceria do algodão.
O seu mundo ideal seria a reunião da autonomia do processo de trabalho e de uso dos meios de produção que tinham no “tempo do algodão”, com os direitos trabalhistas assegurados e a inserção de uma política social robusta, sem, no entanto, desfazer a cultura do favor, da dependência, que lhes reforçava o “prestígio”. Uma mistura de intervenção do Estado com o reforço da casa-grande, da ordem privada. É, sem dúvida, uma visão de mundo conservadora, mas que não deixa de considerar as transformações sociais que lhes são positivas. Portanto, nem o pretérito, marcado por uma sociedade que violava seus direitos, ainda com resquícios do escravismo (GARCIA JR., 1989), nem o tempo presente, identificado com uma carta ampla de direitos e proletarização, escapam do seu escrutínio. Nesse sentido, a visão de mundo dos moradores lembra Bourdieu (2001), quando o sociólogo defende que há “consciência demais” naqueles que sofrem os efeitos da dominação simbólica.
Referências
BARREIRA, César. Trilhas e atalhos do poder: conflitos sociais no sertão. Rio de Janeiro: Rio Fundo, 1992.
BARREIRA, César. Parceria na cultura do algodão: Sertões de Quixeramobim. 1977. 116 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Sociais) – Departamento de Ciências Sociais, Instituto de Ciências Sociais, Universidade de Brasília, Brasília, 1977.
BEAUD, Stéphanie; WEBER, Florence. Guia para a pesquisa de campo: produzir e analisar os dados etnográficos. Petrópolis: Vozes, 2007.
BRAGA NETO, Edgar. Fazendas e casas de taipa: a dinâmica do sistema de moradores. 2017. 289 f. Tese (Doutorado em Sociologia) – Programa de Pós-graduação em Sociologia, Centro de Humanidades, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2017. Disponível em: https://repositorio.ufc.br/handle/riufc/24244. Acesso em: 14 out. 2022.
BRAGA NETO, Edgar. O algodão e a “estrutura de prestígio” dos moradores. 2018. 97 f. Monografia (Graduação em História) – Bacharelado em História, Centro de Humanidades, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2018.
BRANDÃO, Carlos Rodrigues. Tempos e espaços nos mundos rurais no Brasil. Ruris, Campinas, v. 1, n. 1, p. 37-64, 2007.
BOURDIEU, Pierre. A produção da crença: contribuição para uma economia dos bens simbólicos. Tradução de Guilherme J. de Freitas Teixeira e Maria da Graça Jacintho Setton. 3. ed. Porto Alegre: Zouk, 2015.
BOURDIEU, Pierre. Meditações pascalianas. Tradução de Sérgio Miceli. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2001.
CANDIDO, Antonio. Os parceiros do Rio Bonito: estudo sobre o caipira paulista e a transformação de seus meios de vida. 11. ed. Rio de Janeiro: Ouro Sobre o Azul, 2010.
CARVALHO, Rejane Vasconcelos Accioly (Org.). O Ceará na década de 1980: atores políticos e processos sociais. Campinas: Pontes; Fortaleza: UFC, 1990.
CASTRO, Josué de. Geografia da fome: o dilema brasileiro: pão ou aço. 6. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2006.
DAVID, Creusa Checoni. Abertura comercial, políticas econômicas e exportações brasileiras de algodão. 2005. 69 f. Dissertação (Mestrado em Economia) – Coordenação do Curso de Pós-Economia, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2005. Disponível em: https://repositorio.ufc.br/handle/riufc/6599. Acesso em: 20 out. 2022.
FURTADO, Celso. A saga da Sudene. Rio de Janeiro: Contraponto, 2009.
GARCIA JR., Afrânio Raul. Terra de trabalho: trabalho familiar de pequenos produtores. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1983.
GARCIA JR., Afrânio Raul. Libres et assujettis: marché du travail et modes de domination au Nordeste. Paris: Ed. de la maison des sciences de l’homme, 1989.
GARCIA JR., Afrânio Raul; PARPET-GARCIA, Marie-France. Mudança social sob a ótica de etnografias conjugadas a métodos estatísticos: ferramentas de Pierre Bourdieu em mundos rurais na Argélia e no Nordeste do Brasil. Estudos, Sociedade e Agricultura, Rio de Janeiro, v. 30, n. 2, p 1-31, 2022. Disponível em: https://revistaesa.com/ojs/index.php/esa/article/view/esa30-2_st02. Acesso em: 5 nov. 2022.
HALBWACHS, Maurice. A memória coletiva. Tradução de Laurent Leon Schaffer. São Paulo: Vértice, 1990.
HOLANDA, Sérgio Buarque de. Raízes do Brasil. 26. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 1995.
LEITE, Ana Cristina. O algodão no Ceará: estrutura fundiária e capital comercial (1850- 1880). Fortaleza: SECULT, 1994.
LOUREIRO, Maria Rita Garcia. Parceria e capitalismo. Rio de Janeiro: Zahar, 1976.
MARTINS, José de Souza. Capitalismo e tradicionalismo: estudos sobre as contradições da sociedade agrária no Brasil. São Paulo: Pioneira, 1975.
MARTINS, José de Souza. Caminhada no chão da noite: emancipação política e libertação nos movimentos sociais no campo. São Paulo: Hucitec, 1989.
MARTINS, José de Souza. Os camponeses e a política no Brasil: as lutas sociais no campo e seu lugar no processo político. Rio de Janeiro: Vozes, 1981.
MARTINS, José de Souza. O cativeiro da terra. 9. ed. São Paulo: Contexto, 2013.
MENDRAS, Henri. Les sociétes paysannes. Eléments pour une théorie de la paysannerie. Paris: Armand Colin, 1976.
NEVES, Frederico de Castro. A multidão e a história: saques e outras ações de massa no Ceará. Rio de Janeiro: Relume Dumará; Fortaleza: Secretaria de Cultura e Desporto, 2000.
NEVES, Delma Pessanha; SILVA, Maria Aparecida de Moraes. Introdução. In: NEVES, Delma Pessanha; SILVA, Maria Aparecida de Moraes. Processos de constituição e reprodução do campesinato no Brasil: formas tuteladas de condição camponesa, v. 1, São Paulo: NEAD/Unesp, 2008.
PONTE, Sebastião Rogério. Fortaleza na Belle Époque: reformas urbanas e controle social (1860-1930). 4. ed. Fortaleza: Demócrito Rocha, 2010.
PRATA, Flávio da Cunha. Principais culturas do Nordeste. Fortaleza: Imprensa Universitária, 1977.
RAMOS, Graciliano. São Bernardo. 67. edição. Rio de Janeiro: Record, 1997.
SABOURIN, Eric. Paternalismo e clientelismo como efeitos da conjunção entre opressão paternalista e exploração capitalista. Estudos Sociedade e Agricultura, Rio de Janeiro, n. 19, v. 1, p. 5-29, 2011. Disponível em: https://revistaesa.com/ojs/index.php/esa/article/view/334. Acesso em: 27 out. 2022.
SILVA, Marlene Maria da. Sertão Norte: área do sistema gado-algodão. Recife: Sudene, 1982.
SIGAUD, Lygia. A percepção do salário entre os trabalhadores rurais. In: SINGER, Paulo (Org.). Capital e trabalho no campo. São Paulo: Hucitec, 1977.
TAKEYA, Denise Monteiro. Um outro Nordeste: o algodão na economia do Rio Grande do Norte (1880-1915). Fortaleza: BNB; Etene, 1985.
TEIXEIRA, Jorge Luan Rodrigues. Na terra dos outros: mobilidade, trabalho e parentesco entre os moradores do Sertão dos Inhamus (CE). 2014. 222 f. Dissertação (Mestrado em Antropologia) – Programa de Pós-graduação em Antropologia Social, Museu Nacional. Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2014.
TEÓFILO, Rodolfo. A seca de 1915. Fortaleza: Edições UFC, 1980.
TEÓFILO, Rodolfo. A seca de 1919. Rio de Janeiro: Imprensa Ingleza, 1922.
WILLIAMS, Raymond. O campo e a cidade: na história e na literatura. Tradução de Paulo Henrique Britto. São Paulo: Companhia das Letras, 1989.
ZANINI, Maria Catarina Chitalina; SANTOS, Miriam de Oliveira. Colonos italianos no Sul do Brasil: reflexões partindo da obra de Bourdieu. Estudos, Sociedade e Agricultura, Rio de Janeiro, v. 30, n. 2, p. 1-22, 2022. Disponível em: https://revistaesa.com/ojs/index.php/esa/article/view/esa30-2_st04. Acesso em: 19 dez. 2022.
Como citar
BRAGA NETO, Edgar. A estrutura de prestígio dos moradores na reconstrução do “tempo do algodão”. Estudos Sociedade e Agricultura, Rio de Janeiro, v. 31, n. 2, e2331201, 19 jul. 2023. DOI: https://doi.org/10.36920/esa31-2_01.
|
Creative Commons License. This is an Open Acess article, distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License CC BY 4.0 which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium. You must give appropriate credit, provide a link to the license, and indicate if changes were made. |