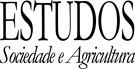 Recebido: 02.out.2023 • Aceito: 20.maio.2024 • Publicado: 06.jun.2024
Recebido: 02.out.2023 • Aceito: 20.maio.2024 • Publicado: 06.jun.2024
Vivendo o pós-cativeiro: proposições de quebradeiras de coco babaçu negras sobre territórios e alianças de libertação
Living after
captivity: Black babassu nut breakers on territories and liberation alliances
|
Igor Thiago Silva de Sousa[1] |
|
|
|
Resumo: Neste artigo é discutido como quebradeiras de coco babaçu negras têm construído lutas comunitárias e criado estratégias políticas no Maranhão/Brasil. A partir das reflexões propostas por Maria do Rosário, importante liderança negra do território quilombola de Sesmaria do Jardim, são construídas visões sobre seus vínculos territoriais, memória e processos de organização, focando em engajamentos coletivos e relações entre mulheres e homens negros. As reflexões expostas são oriundas do trabalho de campo com as quebradeiras de coco e ancoradas em discussões sobre terror racial; violência antinegra e engajamentos coletivos.
Palavras-chave: quebradeiras de coco babaçu; violência antinegra; Maranhão.
Abstract: This article discusses how Black babassu nut breakers have constructed community struggles and created political strategies in Maranhão, Brazil. From the reflections of Maria do Rosário, an important Black leader in the quilombola territory of Sesmaria do Jardim, we construct visions of her territorial ties, memory, and organizational processes, focusing on collective engagements and relations between Black women and men. These reflections are the product of fieldwork with the nut breakers and are rooted in discussions about racial terror, anti-Black violence, and collective engagement.
Keywords: babassu nut breakers; anti-Black violence; Maranhão.
Introdução
Neste artigo verso sobre como quebradeiras de coco babaçu negras têm construído lutas comunitárias e traçado estratégias de resistência coletiva desde seus territórios tradicionais. A partir das reflexões propostas por Maria do Rosário, importante quebradeira negra do território quilombola de Sesmaria do Jardim,[2] construí visões sobre seus vínculos territoriais, memória e processos de organização, focando em seus entendimentos e em como têm se realizado engajamentos coletivos. Parte destas reflexões expõe as relações que quebradeiras de coco babaçu negras possuem com homens em suas comunidades, tema caro para as comunidades negras em diáspora e na África, sobretudo por apontar possíveis caminhos de libertação.
As quebradeiras de coco babaçu compõem um grupo étnico-racial distribuído pelo Brasil, com presença destacada nos estados do Maranhão, Pará, Tocantins e Piauí. Seu modo de vida está associado diretamente ao uso das palmeiras de coco babaçu, remetendo a dimensões de existência física e sociocultural. Dessa forma, a dimensão produtiva abarca o uso integral das palmeiras de babaçu, com destaque para a alimentação familiar, seja por meio das amêndoas extraídas dos cocos, que possuem alto teor nutritivo, e seus usos derivados, como na produção de óleo de cozinha, farinha que serve de base para mingau e a casca como fonte de carvão vegetal. Outros usos são palhas para coberturas de casas e confecção de cestos, talos para construções de casas de pau a pique, bem como o tronco da palmeira como adubo.
Ao pensar na dimensão cultural é fundamental ter como perspectiva existências coletivas ligadas a modos de vida e práticas socioculturais assentadas em pertencimentos relacionados a territorialidades e usufrutos do que se convencionou chamar de natureza. Assim, não se trata de uma natureza intacta, presa em esquemas de preservacionismo que não levam em consideração a vida de comunidades rurais. Também não é meramente o uso de recursos naturais que podem ser retirados da ociosidade e aproveitados em escalas crescentes. São comunidades atravessadas por pertenças coletivas e acionamentos que dizem respeito à complexidade da vida no campo e seus usos socioambientais. Um dado destacável é a dimensão de gênero, uma vez que essas mulheres, recorrentemente, relacionam a si mesmas e suas vidas à presença das palmeiras, em uma relação que remete ao cuidado, à conservação ambiental e ao sustento de filhos e famílias por meio do babaçu.[3]
Essas mulheres partem de um de local concreto, da vida no chão dos territórios de povos e comunidades tradicionais em diferentes regiões do Maranhão, estruturalmente marcados de um lado pela presença do agronegócio, de projetos de desenvolvimento econômico, da pecuária extensiva de búfalos e que têm como resultado a privação de acesso a florestas de babaçuais ou mesmo sua derrubada direta, mediante maquinário pesado ou o uso de agrotóxicos direto nas palmeiras de babaçu. Por outro lado, há constantes resistências por parte das comunidades, tendo as mulheres, em especial mulheres negras, e não brancas, como ponta de lança de processos de luta por autonomia e autodeterminação em seus territórios.
Em seguida, me debrucei sobre como quebradeiras de coco babaçu negras têm feito emergir potências libertadoras não com meros esforços individuais, mas ancoradas em memórias e vivências comunitárias. Seus esforços, ao mesmo tempo que rememoram e sentem as marcas do cativeiro, produzem no agora tentativas incessantes de liberdade coletiva.
O texto está dividido em uma breve introdução, uma primeira seção em que discuto a relação entre corpos-territórios e mulheres negras quebradeiras de coco babaçu, já na segunda seção são discutidos os vínculos comunitários, com foco nas mobilizações de mulheres e suas relações com homens negros nas lutas por seus territórios. Por fim, são expostas as considerações finais.
‘Pra mostrar que se é gente’: memória, quilombo e libertação negra
Ao adentrar no território quilombola de Sesmaria do Jardim, especialmente na comunidade quilombola de Bom Jesus, é fácil ver uma pequena fábrica local, fruto de intensas mobilizações de mulheres por infraestrutura para sua reprodução material. Com sede reformada, equipada com forno elétrico e prensa novos, tem a produção de azeite de coco babaçu como principal finalidade. À sua frente, Maria do Rosário, quebradeira de coco babaçu negra, liderança do Movimento Interestadual das Quebradeiras de Coco Babaçu (MIQCB) e figura de destaque nas discussões sobre territórios de povos e comunidades tradicionais, que é a responsável local por organizar a produção e o beneficiamento no território. Ali, na pequena fábrica, ao lado de sua neta, comenta sobre os dilemas da organização de mulheres e famílias. Ressalta que, apesar dos esforços, grande parte dos babaçuais “está presa”, o que lhes impede o acesso a um volume significativo de amêndoas para o processamento do azeite. Pontua que estão cercadas em propriedades privadas e que o pouco que conseguem quebrar de coco ou que negociam com outras comunidades é o que possibilita o beneficiamento na fábrica local. Além disso, acrescenta que, apesar dos equipamentos novos e das reformas para otimização das capacidades produtivas, a ausência de energia elétrica em volume suficiente para ligar e manter em funcionamento as máquinas faz com que todos os processos sejam por via manual, mantendo os equipamentos ociosos, apesar da conquista que foi ver tudo arrumado e novo.
A entrevista em questão foi realizada como parte do trabalho de campo em meados de 2019, acompanhando trabalhos da Assessoria Técnica do MIQCB e reuniões de quebradeiras de coco babaçu no Maranhão, em especial daquelas na microrregião da Baixada Maranhense.[4] Assim, ao relatar sobre os dilemas de organização local e dificuldades, Maria do Rosário pontua que:
Eu como mulher negra, como mulher quebradeira de coco, como mulher quilombola, eu enxergo no meio dessa sociedade, né, eu enxergo uma luta e enxergo uma posição ainda muito disputada. É, uma coragem, assim, muito, muito grande, da mulher, da mulher negra, da mulher quilombola, da mulher quebradeira de coco. Ao mesmo tempo, ela está na sociedade, ela está na atividade, ela está dentro da luta no seu território e ao mesmo tempo ela está também, na sociedade convivendo, combatendo tanto por si, quanto pelas outras, pelas demais que ainda não entenderam essa mesma posição, esse mesmo poder, esse mesmo valor, esse mesmo conhecimento. E até mesmo esse, a valorização de sentimento de pertença, porque ainda temos muitas mulheres negras, muitas mulheres quilombolas que ainda estão isoladas, que ainda não saem para discutir, que não tem essa mesma visão. (2019, entrevista concedida ao autor durante trabalho de campo)
A partir da argumentação de Maria do Rosário, é interessante perceber como a luta das quebradeiras de coco babaçu negras se dá por seus territórios, pela vida dos seus e de suas comunidades. Tais passos não as desatrelam tanto de uma luta por si mesmas, que poderia ser classificada apressadamente como por “direitos”, quanto por outras mulheres que, como apontado por Maria do Rosário, não têm o mesmo sentimento de pertencimento, seja ele racial ou mesmo territorial. Isto é, que estão “isoladas” e sem uma visão potente de si mesmas. Assim cabe sinalizar que sua visão é integral, envolve tanto uma luta intensa pelo chão da vida, considerado territórios de produção de uma existência potente (o que envolve suas comunidades), quanto por si mesmas e por outras mulheres em posições que poderiam ser consideradas apartadas, não integrantes de uma luta organizada.
É profícuo perceber como há uma relação direta entre pertença racial e corpos-territórios, em que simultaneamente situam-se os desafios de grupos negros para a coletiva e as reverberações individuais de processos de subalternização. Ao pensar em territórios é fundamental vislumbrar um tipo de uso que não se limite ao valor de troca em termos marxistas, mas excedendo-o, pois congrega dimensões espirituais e ancestrais. Ao atentar para a dimensão de uso, é indispensável perceber a fuga de aspectos utilitários, funcionais, reconhecendo que em boa medida o conceito pode mostrar-se limitado, não atentando para as relações entre humanos e não humanos, para dimensões que posicionam árvores, rios, igarapés e animais não apenas como meros recursos, mas dando a eles uma vida plena.
A noção de liberdade aparece intimamente ligada ao território, e tudo que nele há, pois não se pode recortar o que é sagrado, e é com o território que se tem uma vida em comunidade. Nesse sentido, é essencial destacar que a luta por território materializa um esforço de construção de espaços de vida em comunidades que têm forte presença de quebradeiras de coco negras. A partir de reflexões sobre corpo-território, entende-se que se o corpo é o primeiro território de luta e (r)existência, este corpo sendo de mulheres quebradeiras de coco babaçu negras não se esgota em si mesmo, mas encarna-se no território como uma luta pela vida digna, numa tecnologia capaz de produzir outro modo de viver, de produzir contralugares.
Ao pensar em vida plena, é importante atentar para como estas comunidades fazem a luta territorial. Acerca disso, Maria do Rosário relata:
Eu avalio isto com muita posição, com muita firmeza e com muita certeza de que um dia vai dar tudo certo, temos conhecimento. Conhecimento pela nossa raça e pelos conflitos que nossos antepassados, nossas bisavós, nossos avós sofreram, é o quanto a gente tem e pode ver isso. Por exemplo, eu tenho muito consorciado comigo de quando eu comecei a me entender foi aqui dentro de um território, dentro de um território quilombola e quando eu comecei a descobrir a história daqui deste território, quando eu comecei saber de que a minha história, o quanto eu vejo o tamanho dos pedaços de ferro, eu vejo o tamanho do que tem ainda até hoje e foi alguém que me antecipou, que chegou antes de mim, e que lutou para eu sobreviver, sabe? E que lutou com fome, e que lutou com sede, e que apanhou surra dentro deste território, que deu sua costa a surra e que derramou seu suor, conduzindo canas de açúcar, conduzindo os carros de boi, como se fosse um animal. Isso para mim, me deixa cada vez mais, mais com vontade de lutar, com vontade de mostrar que somos gente, para dizer que somos mulher. Isso eu digo, digo com muita firmeza. (2019, entrevista concedida ao autor durante trabalho de campo)
A exposição de Maria do Rosário mostra um tipo de conhecimento que é ancestral, oriundo das e dos que a antecederam e que mesmo em condições tão adversas lutaram para sobrevivência dos seus. Se ela inicialmente fala em “dar as costas para a surra”, isso não se dá por aceitação de sua condição (imposta) de “besta de carga”, de não humanidade, mas pela condição de aviltamento causada pela escravidão negra. Nesse sentido, as reflexões propostas possibilitam perceber esforços contemporâneos de resistência, de estruturação da vida em comunidade e construções de lugares de existência física e espiritual, como nos sugere Beatriz Nascimento:
Esse devir-utópico pode estar na produção de “subjetividades territorializadas no eu, no corpo físico”, livres da ética de produção e da acumulação que secciona o homem, segundo a ordem do sistema do capital. Estaríamos falando de um outro sistema em construção, vindo de um território de origem africana, não mais de um lugar do passado, mas moderno. Não mais o escravo, mas o aquilombado num esforço de guerra e estruturação. (2018, p. 427)
Porém, como nos relembra Norman Ajari (2019),[5] o que seria mais desumanizador que o devir-mercadoria a que escravizados africanos estavam sujeitos nas plantations, tratados como peças a serem repostas na medida em que pereciam? Para o autor, em diálogo com Aimé Césaire, há um lastro de desumanização que percorre a modernidade e que está diretamente associado à condição negra. Ajari expressa de que forma a lógica escravagista teve como um dos seus resultados mais frutíferos a criação de insensibilidades, nas quais a desumanização sem remorsos é parte indispensável. Assim, a criação de apatia coletiva diante dos sofrimentos e dores expõe um continuum racial ontem e hoje nas vidas negras. Conforme o autor:
A insensibilidade é a capacidade de infringir sofrimento a um outro humano, ou de testemunhá-lo, sem provar o menor desejo de fazê-lo cessar ou diminuir. Trata-se, no seio de qualquer organização social racista, de uma qualidade valorizada, para não dizer indispensável. (2019, p. 81-82)
Ao mesmo tempo, é o próprio Ajari que situa os esforços incessantes de luta contra a opressão a partir das memórias e relatos de ex-escravizados, em como rememoram e a partir disso constroem ações contra a sujeição. Dessa forma, aponta como as lembranças do cativeiro oferecem chaves para as lutas subalternas contemporâneas, na medida em que no esforço de lembrar, na possibilidade de partilhar sobre, tenta-se retomar aquilo que lhes foi negado: o direito a um passado e uma memória, o direito sobre seus corpos e vidas. Assim, o esforço sobre o ontem é também uma forma de lidar com o agora e uma aposta sobre como será possível prosseguir, viver.
Por sua vez, também chama a atenção como esse tipo de reflexão lança olhares para de que forma temos produzido uma ciência social seletiva quanto às dores que compactua, ao tipo de empreendimento metodológico que se debruça e trilha, fazendo caminhos que descorporificam pesquisadores e interlocutores, e realiza uma ciência que em nome do universal perde a dimensão dos lugares, sujeitos, possibilidades inventivas de escrita e criação.
Assim, ao tratar como Maria do Rosário elabora seu passado, é importante dar vazão às perspectivas de tratamento da memória. Ao discorrer a respeito da condição dos indignos, Norman Ajari (2019), nos diz sobre a condição dos escravizados, aqueles que apesar de terem um passado, não têm direito a ele. Que depois do rapto, devem se afastar de tudo anterior à captura, de pertencimentos e sensos de comunidade. Devem se encharcar na abjeção, ser peças móveis pertencentes a outrem, sem direito ao passado e à memória, presos na alienação natal. A indignidade, assim, seria uma indistinção entre vida e morte, uma vida tornada inabitável, exaurida, vencida.
Ela é espectral porque está no deslocamento das margens entre vida e morte. É tão rebaixada que é invivível no presente. É indigna justamente porque carrega ínfima possibilidade de uma existência outra, radicalmente diferente.
Porém, é o mesmo Ajari que nos fala sobre como ex-escravizados acionaram suas memórias, sobre como ousaram elaborar seu passado, conseguiram rememorar o que não lhes era permitido, ser atravessados por dores e esforços ancestrais, e talvez, com base nisso, transformar as feridas acumuladas em algo a mais. Frantz Fanon (2008) mostra que ao trazerem suas memórias, foi necessário vencer o assombro. Nesse esforço, se produziu um conhecimento que ao mesmo tempo que reconhece a dor, produz a partir dela, mapeia suas causas e os efeitos da assombração, por isso ao tempo que evoca, transcende e planeja.
A liberação dos efeitos de uma paixão, da assombração de uma memória, não nasce da ignorância de suas causas e da dissimulação de seus efeitos. Ela procede, ao contrário, de uma anamnese e de uma implementação de um saber. Não mais ser escravo da escravidão é conhecer sua trama, se tornar familiar de suas maquinações infernais e suas engrenagens sangrentas. É identificar o que permanece vivo das exigências de dignidade dos escravos do passado, apesar das profundas transformações que entranham a história. É apenas a partir da consciência desta memória e do que ela lega ao presente que poderá surgir uma libertação da escravidão. Em outras palavras, para não se “deixar engolir pelas determinações do passado”, não é suficiente decidir isso em um esforço voluntário do livre arbítrio. É necessário reunir forças intelectuais, sociais e políticas; de se engajar em favor de um mundo descolonizado. (Ajari, 2019, p. 67)
Sugere-se que, em sua exposição sobre seus antepassados e suas vivências, Maria do Rosário mostra que em condições tão vis como as da escravidão negra, se construiu um território livre, no qual vive e onde produziu suas primeiras reflexões e engajamentos. Em seus acionamentos, o passado não se mostra puramente relacionado com aquilo que lhe é anterior, mas um atravessamento que permite elaborações do que transcorreu a partir das vivências, a partir da própria pele. Assim, opera o reconhecimento das condições em que se vivia, o mapeamento de seus efeitos e prolongamentos no tempo presente. Ao comentar sobre a condição de seus antepassados, situa a exploração da escravidão, o tratamento bestial, a servidão compulsória dos seus. Formula a partir de um conhecimento racializado, que sabe das cicatrizes das chicotadas, dos dias ao sol em canaviais, da má alimentação e condições degradantes. Ao mesmo tempo, sabe bem o que, apesar das mudanças temporais, permanece. Conhece os esforços incessantes para “mostrar que é gente” e sabe a “fonte de energia” que tem no agora, materializada na territorialidade do quilombo. Oferece assim um conhecimento que não é propriamente seu, é de base comunitária, fruto de esforços ancestrais concretizados em seu quilombo e que aciona em enfrentamentos no agora.
Dessa forma, a memória não são vestígios sobre o que aconteceu outrora, pedaços pálidos de passado, mas matérias que permitem a visibilização do constructo da libertação negra como uma elaboração permanente. É assim que é possível que Maria do Rosário se encontre, seja impactada pela história que a circunda e da qual ela é sujeito central no incessante esforço do momento, como nos diz. Por sua vez, o conhecimento que possui não se trata de um mero esforço individual. É um conhecimento ancestral, e ao remeter a uma vivência coletiva, ela nos mostra que o esforço de rememorar é também o esforço de construção de uma vida livre, plenamente humana. Assim, há conhecimentos racializados e territorializados com base nas vivências dos corpos negros na diáspora. Conhecimentos mapeados por meio dos conflitos de ontem-hoje que são possíveis a partir da materialidade da raça, em como esta conforma vivências e expectativas, situa acontecimentos não como acidentes ou erros, mas resultados diretos de pertencimento.
Ao pensar sobre como Maria do Rosário fala, deste esforço de mostrar que se é gente a partir de seu quilombo, diz não de uma súplica por uma humanidade concedida ou de uma entrada pela porta dos fundos no Ocidente, mas de uma construção de mundo possível a partir de heranças, arrancando, com passos acompanhados, humanidade de quem lhes nega. Estes passos acompanhados, ontem e hoje, possibilitam a construção do território quilombola e situam seus desafios. Assim, ao pensar neste esforço, este esforço coletivo, a noção de territórios negros, quilombolas, guiam além de uma mera métrica escalar, posicionam perante a legados, constrangimentos e acionamentos potentes de uma dimensão que por meio da raça nos possibilita sentir. Rogério Haesbart, ao refletir sobre o processo de elaboração de conceitos sobre os territórios construídos por grupos subalternos na América Latina, explica que:
A conceituação de território em nosso contexto vai muito além da clássica associação à escala e/ou à lógica estatal e se expande, transitando por diversas escalas, mas com um eixo na questão da defesa da própria vida, da existência ou de uma ontologia terrena/territorial, vinculada à herança de um modelo capitalista extrativista moderno-colonial de devastação e genocídio que, até hoje, coloca em xeque a existência de grupos subalternos, habitantes de periferias urbanas (especialmente descendentes de negros e indígenas) e, de modo culturalmente mais amplo, os povos originários em seus espaços de vida. (2021, p. 162)
Cabe sinalizar que a construção de territórios de existência e de enfrentamento se dá de diferentes formas entre os povos colonizados, vinculando-se a uma defesa da vida, de uma existência livre das amarras do agora, ao mesmo tempo que lidam com as constantes agressões e interferências do modelo capitalista, fundamentado em práticas extrativas e de destruição/privação dos bens comuns. Maria do Rosário, ao tratar das lutas que desenvolve, coloca que:
Eu, como mulher negra, como mulher quebradeira de coco, como mulher quilombola eu vejo as sonegações, as negações dos poderes, as negações do poder, de quem está no poder, de quem está à frente de um direito, do que nega os direitos quando lutamos para sobreviver, lutamos pela vida, lutamos pelo não desmatamento. A mulher negra que tá na frente disso tudo, é a mulher quilombola, é a mulher que não estudou, é a mulher que não tem um estudo, que não fez uma faculdade aqui hoje, tá? Mas é essa mulher negra, essa mulher preta, essa mulher quilombola, essa mulher que tá à frente, que tá dando sua cara também. Dando sua cara também à tapa para vencer. Para fazer vencer uma história. Eu penso muito nesse lado. Desse lado, bastante sofrido para mim. Vejo a quebra do coco, o quanto essas mulheres, a história dessas mulheres quebradeiras de coco que lutam pra tirar a sua sobrevivência da natureza, luta pra tirar, pra voltar a sua história, fazer ver na sua história de direito, de dignidade, mas os conflitos, o machismo mesmo, é, o racismo, o racismo é muito grande, o preconceito é muito grande. E isso eu vejo a coragem da mulher, a coragem da mulher negra, das poucas mulheres que vão à frente, mesmo, que estão à frente. Ainda falta mais mulher ter essa consciência, mais mulheres, mais povo negro. (2019, entrevista concedida ao autor durante trabalho de campo)
A primeira reflexão, a partir da interpelação de Maria do Rosário, é como grupos subalternos, em especial mulheres negras, leem a realidade: enxergando perfeitamente bem quem são seus inimigos; entendendo o sistema institucional de poder e como ele opera realizando sonegações, isto é, lhes negando garantias e acessos. Aqui, mais do que a necessidade de grupos externos para guiá-las, auxiliando na análise sobre a realidade, Maria do Rosário demonstra conhecimentos oriundos de suas lidas diárias. Não se trata de dispensar grupos auxiliares, mas de reconhecer o protagonismo e a autonomia dessas mulheres em seus territórios, em suas lutas por sobrevivência travadas naquele chão de existência. Essas mulheres, portanto, encabeçam tais lutas, realizam mobilizações e auxiliam nos processos organizativos em seus territórios e comunidades.
Maria do Rosário, em alusão aos seus antepassados, que constituíram o território Sesmaria do Jardim, também “dá a sua cara a tapa”, ou seja, se levanta, se ergue diante das injustiças e expõe de onde extrai os conhecimentos sobre os quais reflete e que pratica como mulher negra, quilombola, quebradeira de coco babaçu, em posição destacada na organização tanto local quanto no movimento das quebradeiras de coco babaçu. Ao se erguer, faz um movimento incessante, assim como seus antepassados. Se a luta não vem de hoje, ela também não se encerra no agora, é constante, que deságua nas experiências contra a subalternização que marcam as comunidades negras.
Por sua vez, o processo de organização também é cercado de dores. Maria do Rosário reflete acerca do sofrimento e em como se relaciona com ele. Ela faz interpretações da luta pela sobrevivência e por dignidade, por conhecer a sua história, que é também a história da comunidade em certa medida. As dores não são de hoje, elas também são ancestrais. Assim, mais do que refletir sobre um território qualquer, ela fala de um lugar, um lugar com um legado de lutas, de gente que, para permanecer, tenta interromper ontem e hoje processos intensos de desumanização, de animalização. Ela então pondera que:
Eu consorcio a minha luta, né, a minha luta pelos territórios, a minha luta pelo livre acesso aos babaçuais, a minha luta pelo meio ambiente, pela alimentação saudável, a minha luta pela terra, a minha luta pela água, a minha luta pelos povos e comunidades tradicionais, a minha luta pelo sentimento de pertença das pessoas negras, entre homens e mulheres que foram massacrados naquele antigo tempo e aqui ainda. Eu ainda nem existia, mas por saber hoje da luta e desses massacres, desse racismo contra o nosso povo negro, contra o nosso povo preto, e é isso que me faz a cada dia mais lutar. E eu consorcio isso, isso tudo eu consorcio dentro do MIQCB. Eu tenho para mim tudo isso estava dentro de mim, eu trazia dentro de mim, crescendo, é… eu vinha crescendo com tudo isso, mas eu não tinha aquela força de botar isto em prática, de colocar em prática. (2019, entrevista concedida ao autor durante trabalho de campo)
Se a dor causa marcas profundas, nem todas são somente atomização. Elas são carga e, como tais, são carregadas e guardam consigo impulsos. Elas servem de força quando oportuno, quando podem romper as amarras e sair ao mundo. É assim que Maria do Rosário nos faz uma explanação sobre como relaciona as lutas que considera indispensáveis (sua lista envolve desde a pertença racial e étnica, terra-território-águas e acesso aos babaçuais até a alimentação saudável) e as possibilidades dentro do MIQCB. É sobre este consórcio que ela expõe brilhantemente como realiza operações de aproximação. Essas operações, porém, não se dão no vácuo, dão-se somando aquilo que encontrou e que foi possível construir com o movimento e o que faz com a sua própria história, em como cuidadosamente pode aprender sobre os massacres contra o povo negro, o povo preto, de homens e mulheres naquele tempo antigo e hoje, como ressalta. Ao pensar nesses massacres, é possível ver a universalidade da experiência negra que, se por um lado está sob o jugo da escravidão póstuma, como alerta Orlando Patterson (2008), nem por isso deixou de produzir insurgências, fugir do mundo posto, construir, sublevar-se, ou seja, oferecer um convite para a libertação. Dessa forma, a partir de sua entrada no movimento, Maria do Rosário comenta os passos que se seguiram:
Todo esse machismo, todo esse preconceito, eu consegui reconhecer, isso é o mais importante, eu consegui me reconhecer, tirar de tudo dentro de mim, desde quando eu comecei, quando eu abracei o movimento, quando eu entrei no movimento, quando eu achei ali, essa é a minha casa. Essa aqui é a minha mãe. Esse MIQCB é a minha mãe, esse MIQCB é o meu pai. É ele que tá me ensinando, me ensinou, me deu, me mostrou como ter autonomia. Como buscar autonomia, me ensinou, me mostrou a igualdade. Me mostrou que a nossa cor, a nossa cor nos faz feliz. A minha cor me faz feliz, a minha cor me faz feliz mesmo, a palavra, me faz feliz. O meu cabelo, o meu cabelo é a minha identidade. Então, dentro de mim descobri no movimento, no MIQCB, me ajudou a me achar. E no MIQCB eu descobri que eu podia tudo. O MIQCB me deu liberdade pra que eu pudesse dizer em voz alta e me achar, dizer “eu sou bonita”, dizer, bater no peito, “eu sou preta, eu sou preta com orgulho, eu sou preta de valor, eu sou preta de reconhecimento, eu nasci, eu nasci de uma família preta, nasci de uma família quilombola, nasci de uma família trabalhadora rural, quebradeiras de coco e de uma família que me fez, que me dá orgulho, me dá orgulho hoje, eu sou orgulhosa, moro dentro de um território quilombola, aonde a minha, os meus antepassados foram escravizados e é por isso que eu luto e vou lutar até o fim pela regularização deste território, eu tenho o meu sonho, o meu sonho é a titulação, é a regularização deste território quilombola, Sesmaria do Jardim, que um dia nós possa viver livre e ter, e ter nas nossas mãos este território, poder gritar e dizer, eu sou quilombola, dizer mesmo, eu sou quilombola e resido aqui neste território e neste território foi onde eu nasci, me criei e é por onde eu vou lutar. (2019, entrevista concedida ao autor durante trabalho de campo)
A partir de uma experiência própria, no processo de se reconhecer, de ver beleza em si mesma e onde nasceu, reconhecer seu cabelo como traço ancestral, em positivar a sua história, não há simplesmente o movimento de empoderamento no sentido liberal, ele vem atrelado a outro compromisso, um sonho e uma prática de libertação de um território negro. Assim, ao mesmo tempo que o MIQCB é reconhecido como uma mãe, ele também é um pai. Estar no movimento é a possibilidade de dar munição para o enfrentamento do racismo e do machismo partindo de seu lugar, em outros termos, é potencializar, é poder interferir com firmeza em processos locais e regionais, potencializar enfrentamentos de tantas outras mulheres, ao mesmo tempo que se aprende.
Dessa forma, reconhecer essa dimensão de pertencimento e de vinculação impõe pensar na relação de mulheres negras entre si e com os homens ao seu redor, pois estes territórios não estão ilesos. O reconhecimento do machismo, inclusive praticado por homens negros, o reconhecimento do racismo, que coloca sujeitos negros, e mulheres negras, destacadamente em posições aviltantes, conduziu nossa interlocutora a uma potente relação entre sua história pessoal, de seu território e a de tantas outras mulheres que, vivendo em condições semelhantes, podem com base em suas vivências, histórias, dores, mas também conquistas, construir outros mundos.
Vilma Piedade, ao conceituar dororidade, nos chama a atenção para as dores das mulheres negras, a naturalização da violência contra seus corpos, sucessivos estupros, violência e morte, bem como o recorrente apagamento de suas memórias. Nessa mesma lógica, denuncia:
Sabemos que o Machismo Racista Classista inventou que Nós – Mulheres Pretas – somos mais gostosas, quentes, sensuais, lascivas. Aí, do abuso sexual e estupros, naturalizados até hoje, foi um pulo. Pulo de 129 anos, e passamos a ser estatística. Os dados oficiais sobre violência sexual falam disso. Estamos na frente, morremos mais nas garras desse Machismo do que Mulheres Brancas... é simples e banalizado no cotidiano – Mulher Preta é Pobre. Mulher Pobre é Preta. Pelo menos na sua grande maioria. (2020, p. 14)
Se para dor não se tem régua, nem por isso são iguais. As dores ocorrem de maneiras diferentes, desiguais. É a própria Maria do Rosário que nos auxilia nessa reflexão. Ela faz um esforço de retomar os desafios e feitos de seus antepassados, de trazer à tona suas dores, para assim apontar que é a partir delas que suas lutas de hoje são abastecidas. É por reconhecer que alguém o fez antes dela, e para que ela aqui estivesse, que hoje encontra forças.
As lutas de hoje de Maria do Rosário, porém, enfrentam inimigos próximos aos de outrora, como também ajuda a pensar Vilma Piedade. O machismo e o racismo, como apontam em seu consórcio, têm atingido níveis de letalidade cruelmente retratados nas estatísticas que relatam a violência e a morte de pessoas negras, destacadamente, mulheres negras. É por isso que se levantam. É construindo a partir da dor de ontem e hoje que se movem.
Ao apontar a situação das mulheres, Maria do Rosário explica:
É questão da gente, é o quanto na luta pelos territórios, na luta pela defesa dos quilombolas, da mulher negra, são as mulheres negras que tão à frente disso tudo. Elas vivem todas ameaçadas de morte. Já ultrapassou a questão da ameaça. Quando há ameaça de morte, de tirar a vida, então tira a vida de quem está, por que isso para os poderosos, tirando a vida, é a única forma que eles encontraram, o que os poderosos encontraram para se livrar da gente, para se livrar de quem busca direito, de quem busca sobrevivência, é tirar a vida. Porque tirando a vida, não existe mais, não tem mais luta, acabou. Eles tentam calar nossa voz. (2019, entrevista concedida ao autor durante trabalho de campo)
Se Maria do Rosário fala sobre a “coragem da mulher negra”, ao mesmo tempo aponta que ainda faltam mulheres negras no front. Essa falta não se dá à toa, muitas se encontram em situação de risco, sofrendo graves ameaças e a ronda da morte. Ela mesma está em acompanhamento pelo Programa Estadual de Proteção a Defensores e Defensoras de Direitos Humanos (PEPDDH), por pedido direto do MIQCB. Se comenta com orgulho sobre os desafios do que é ter voz ativa nos enfrentamentos, também sabe bem o que isso significa. Se a ausência é um fato, esta não é simples. Morte, caça, ataque constante dos poderes instituídos, sejam à direita, sejam à esquerda, essa é a realidade.
A guerra racial está dada, e é mais bem analisada por quem está na lida pela sobrevivência. Não se trata de estatísticas nem de dados frios, é a perda aterrorizante. A falta é um projeto, é uma forma de gestão da desgraça e da morte. Não nos enganemos, uma mulher negra calada, um homem negro falando dentro do script definido, incapazes de questionar o posto é um movimento organizado. Assim, pensar no inverso, em como sob a égide do risco eminente mulheres e homens negros têm questionado, é questão fundamental. Trata-se aqui de pensar em convites para alianças e levar a sério a hipótese que estamos mais seguros entre nós, e isso significa elevar radicalmente a condição do que significa nós.
Maria do Rosário relata com cuidado que “ainda faltam mais mulheres, mais povo negro”. Esse tipo de constatação faz refletir a respeito de um segundo tópico, sobre a participação dos homens negros em atividades e protestos, em como se dão as relações com eles. Para isso, será discutida no próximo tópico a possibilidade de alianças entre homens e mulheres negras, em como mulheres quebradeiras de coco babaçu têm conseguido domesticar, senão potencializar a favor da vida comunitária, a masculinidade de seus companheiros, filhos, sobrinhos e afins.
Quem é quem no jogo do bicho: alianças negras nas lutas por território
Em atividades de campo, ao aproveitar pequenas folgas entre os momentos de oficinas e atividades formativas, este autor perguntava acerca de situações de ameaças e intimidações. A maioria das pessoas que relatava abertamente sobre isso eram mulheres. Em Sesmaria do Jardim não era diferente. O que inicialmente era uma conversa em meio a uma atividade sobre economia solidária, sobre o beneficiamento de produtos locais ou outro tema de enfoque de atividades comunitárias organizadas pelo MIQCB, rapidamente se transformava em relatos sobre intimidações e conflitos pelo território.
Maria do Rosário relatava que “os conflitos e as ameaças são muitas”. Ao comentar, pontuava como lideranças do território são recorrentemente ameaçadas por pretensos proprietários e criadores de búfalos, por conta da luta pela titulação e manejo dos recursos naturais de forma coletiva. Esses proprietários têm impedido o acesso a campos naturais, áreas de babaçuais, quando não realizam a derrubada dessas últimas. Para acessar esses bens coletivos, que cruzam ou fazem fronteira com seu território, é preciso vencer cercas, adentrar o arame farpado que prende a terra e os campos naturais, porém é recorrente o uso de cercas eletrificadas, como forma de impossibilitar a circulação de pessoas, a pesca, a coleta de babaçu ou pequenas roças.
Em 2018, com a Operação Baixada Livre, 21 km e 400 m² de cercas foram retiradas do território de Sesmaria do Jardim a mando do governo do Maranhão (Maranhão, 2018). Além disso, 11 proprietários da área foram autuados pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais (Sema) por crimes ambientais, cercamento de áreas públicas e privação de acesso à água dos campos naturais. Houve ainda condução de proprietários para as delegacias locais por causa da utilização de cercas elétricas, o que é crime, pois colocam intencionalmente em perigo a vida de terceiros.
Atualmente o território de Sesmaria do Jardim está com o processo de titulação em fase final, aguardando na Casa Civil do estado do Maranhão o Decreto de Desapropriação ser assinado pelo governador Carlos Brandão. Segundo matéria produzida pelo MIQCB, a partir de tratativas com o governo do estado, afirma-se que, por intermédio do Instituto de Colonização e Terras do Maranhão (Iterma),
há uma relação nominal de 16 pretensos proprietários que colocam cercas no território, inclusive eletrificadas. Há empresas associadas a alguns deles. São posseiros que chegaram no território após as comunidades já estarem estabelecidas, ou que, mesmo tendo uma história de assentamento antigo, passaram a ter práticas de privatização de várias áreas dentro do território, impedindo a permanência e o desenvolvimento dos modos de vidas tradicionais, baseados na preservação e no uso comum dos recursos naturais. (MIQCB, 2021)
Ao lidar com o assunto, as quebradeiras tratavam de priorizar os grandes proprietários locais, criadores de búfalos, grileiros e políticos da região, porém também comentavam sobre problemas com posseiros em relação ao uso coletivo de campos naturais e acesso às faixas de babaçuais. Existem grandes proprietários, que se utilizam de cercas para limitar o acesso aos campos naturais, onde mantêm seus rebanhos bubalinos indeterminadamente e ainda impedem a realização da pesca e a circulação de pessoas, enquanto grilam faixas de terra significativas, transformando o acesso aos babaçuais, roças e áreas comunitárias em escassas e longínquas.
Por sua vez, há também pequenos proprietários e posseiros, aqueles que incorporaram a criação de búfalos, passando a cercar faixas dos campos naturais em proveito de suas criações, limitando o acesso coletivo. Essas situações têm gerado inquietude entre as mulheres e lideranças locais; homens, que comentavam que mesmo antigos “cumpades” e pessoas de sua convivência passaram a destratá-los ou mesmo ameaçá-los à medida que passaram a ter suas criações expandidas. Um exemplo apresentado nessas conversas era de um antigo conhecido, um pequeno comerciante local que, com o decorrer do tempo, passou a adquirir búfalos e, hoje, ameaça moradores locais que “invadem suas terras”.
Em críticas ao desfecho da operação de retiradas de cercas nos municípios da Baixada, quebradeiras de coco e assessoras do MIQCB comentavam que apenas “os pequenos” foram alvos da operação, mantendo grandes criadores e políticos locais com suas cercas intactas. Dessa forma, apenas pequenos proprietários e posseiros tiveram suas cercas retiradas, porém sendo rapidamente recolocadas, porque o problema se tratava “do território”, conforme apontavam, pois somente assim conseguiriam conter o cercamento dos campos.
À medida que a interlocução aumentava, alguns temas podiam ser tratados e certas questões emergiam. Assim, em conversa com Maria do Rosário, ao ser perguntada sobre a participação de homens nas lutas por território, fez uma inquietante consideração: pontuou frouxidão dos homens em relação às lutas. Se a questão inicial era compreender, a partir das situações de ameaça, as possíveis alianças locais, estas se mostram sob condução quase, senão exclusiva, de mulheres. Como enfatiza Maria do Rosário:
Eu quero lhe dizer, lhe responder que os homens na luta, na participação pelo território, os homens são covardes. São covardemente! Não, em nenhum território de atuação do MIQCB tem homem de frente. Isso aí eu lhe digo com toda firmeza, digo com toda clareza que nas, nas atuações do MIQCB nas comunidades tradicionais, é, que o povo luta por território. Existe a luta pelo não desmatamento, existe a luta pelo babaçu livre, existe a luta pelas águas. Então, são várias lutas consorciadas no território e aí nenhuma dessas lutas, em nenhuma tem um homem de frente. Sempre eles estão, vem por último, vem atrás, mas não vão na frente. Pode me acreditar. Tão junto nos grupos, nos grupos produtivos, nos grupos produtivos tem homem, no grupo produtivo, todos os grupos produtivos temos homens no grupo, mas não estão de frente, mas não pegam a luta de frente, não encaram a luta de frente. Eles não vão à frente. Eles não vão nos órgãos. Eles não vão nos órgãos, onde temos que buscar, por exemplo, ir no Iterma, dar entrada no documento, ir no Incra, ir nesses órgãos público, não vão, não vão. Esperam, ficam na moita, ficam aguardados, ficam por de trás, ficam atrás das nossas costas, mas não vão. Quem sempre está à frente, quem sempre está à frente é a mulher, é a mulher. (2019, entrevista concedida ao autor durante trabalho de campo)
A partir das reflexões propostas, Maria do Rosário coloca que estar à frente seria ter a capacidade de inspirar, de produzir agenciamentos que transformam práticas em um intenso exercício de resistência que se retroalimenta. Para além de um certo coletivismo, o que estaria em jogo seria a capacidade de implicar diferentes corpos. Nesse sentido, o que colocaria homens nesta postura de covardia e ao mesmo tempo sobrecarregaria mulheres nas posições de front? Houria Bouteldja (2017), ao comentar sobre as masculinidades oriundas da colonização, as trata como relações de subordinação, nas quais uma prisão, uma caixa de servidão é ofertada pelos colonizadores aos colonizados, assegurando relações de dependência e patronagem. Se a patronagem é mencionada é porque essas relações são úteis para o mundo colonial, na medida em que mantêm relações de enclausuramento de corpos negros e colonizados sob o manto da modernidade.
Este é o mesmo manto que torna o corpo de mulheres negras os mais violáveis, lidos como disponíveis para incursões sexuais pelo seu calor e permissividade, e assegura a condição de homens negros, e não brancos, como a de potenciais estupradores e criminosos que devem ser contidos por sua barbaridade. Essa caixa assegura masculinidades sob o signo da patronagem branca colonial.
Osmundo Pinho (2018) fala da masculinidade negra como um poder precário, subalterno, que mesmo em suas facetas contestatórias – como as construídas a partir de discursos sobre a nação, regionalidade ou mesmo de emancipação racial – são calcadas na tentativa de afirmação da masculinidade, e essa está a serviço da supremacia branca, ou ao menos, dependente de sua permissão, pois adotam o modelo patriarcal ocidental de poder e o operam estruturalmente. Seu argumento consiste na construção da ideia de nação ou mesmo de emancipação racial como generificadas, uma vez que estas empreitadas por reconhecimento partem de um certo lugar permitido no jogo patriarcal-colonial. Seus exemplos são os limites do afrocentrismo e do nacionalismo negro como chaves de luta que acabam por reproduzir, mesmo que não intencionalmente, a busca por uma masculinidade aceita, a fuga de sua subalternidade e não o rompimento com os esquemas de dominação sobre corpos negros.
Esta permissão tem uma dupla faceta: de um lado assegura as regras do jogo colonizador-colonizados, ou seja, mantém padrões de reprodução das relações sociais em seus termos. De outro, assegura a possibilidade de intervenção sempre constante do mundo branco, da qualificação em seus próprios esquemas daquilo que deve ser combatido, eliminado, logo, assegurando para si a condição de juízes da vida e da morte negra.
Assim, a condição de mulheres oprimidas por homens “de cor” tem sido recorrentemente usada como explicação para intervenções ou mesmo para decretar a abolição de instituições e práticas.
Gayatri Spivak (2010) fala do modo como a posição das mulheres nativas era e é usado para justificar o projeto colonial como uma missão civilizatória. Ela descreve a intervenção britânica na prática Sati da Índia como “homens brancos salvando mulheres pardas de homens pardos”. Outra faceta, não menos conhecida, é o imperialismo maternal, em que mulheres “nativas” são usadas como objeto de oportunidades para agências de pesquisa e financiamento de projetos poderem demonstrar sua benevolência e cuidado com aquelas desprovidas de liberdade e sensos de cuidado próprios.
Houria Bouteldja, ao dissertar sobre a situação de racismo na França, na qual homens negros e árabes são incessantemente apontados como cruéis, selvagens e agressivos por uma cumplicidade branca que não olha seus próprios dilemas, mas sabe bem onde procurar culpados, reflete:
¿Qué vemos? Primeramente, la indiferencia cuasi total de esa élite frente al patriarcado blanco que estructura la sociedade francesa, y determina la vida de millones de mujeres. Y, sin embargo, todos los índices muestran que la condición de las mujeres francesas se degrada (violaciones, violências conyugales, cortes salariales, explotación del cuerpo feminino para fines comerciales...). Luego, hacen fila para denunciar radicalmente las violencias cometidas a mujeres de los suburbios, cuando el autor es negro o árabe. El sexismo de los muchachos de barrio es una barbaridad sin causa ni origen. Vean a todos esos falócratas blancos que se descubren feministas cuando la gente de los suburbios aparece. No tienen palabras suficientemente duras para crucificarlos, ni compasión suficientemente fuerte para compadecernos. El mundo blanco, en su conjunto, muchas veces se ha pronunciado, com voz temblorosa, contra el chico malo de las ciudades. (2017, p. 72)
E em nosso caso, onde estão os homens negros? O que lhes cabe? Há dedos em riste, apontando para suas incapacidades, suas agruras e estes se deparam com a atualização de sua condição de abjeção. Cabe frisar que desde os estudos de Frantz Fanon (2008), os corpos de homens negros são entendidos como corpos feminilizados, no sentido de encurralados e disponíveis para a violência. Ou seja, seu estatuto não é propriamente de homens, sendo sua masculinidade recorrentemente violada, e o que isto significa é que homens são considerados menos homens, lhes são outorgados títulos de infantis, doentios, alcoólatras, preguiçosos, incapazes e, neste ínterim, o efeito deste aviltamento tem consequências desastrosas na comunidade negra. A violência impetrada contra homens negros é a mesma que anjos cometem contra demônios, e nem é preciso ir longe para conseguir distinguir quem é negro e quem é branco, quem salva e tem a glória celeste e quem é condenado às chamas eternas. E nessa dimensão de violência, o que recai sobre homens negros, recai ainda mais dolorosamente sobre mulheres negras e suas famílias.
A subalternização, exploração, humilhação diária, o trabalho enfadonho, mal conseguindo alimentar os seus, um horizonte material de mínimo conforto sempre a se distanciar; a fome rondando, a morte prematura como um fato inconteste, a prisão. Nessas circunstâncias, o conseguido é defendido. Seus bens, posses, suas mulheres e irmãs estão sob o jugo de uma masculinidade tão apodrecida, que a violência sofrida é intensificada em níveis brutais sobre si e sobre os corpos próximos. Quem paga a conta é quem já deve a banca. O círculo de horror parece não ter fim.
Nessa situação, ao abordar as reflexões de Maria do Rosário, na qual a dimensão de covardia dos homens nas comunidades é ressaltada, cabe sinalizar a condição de emasculação destes, pois por operarem mediante um pacto de subordinação patronal, do desejo de se tornarem homens e de serem reconhecidos como tal, é que lhes é retirada duplamente a segurança, porque querem ser homens, mas são negros. É por terem uma masculinidade concedida, logo que não lhes pertence e pode ser violada a qualquer momento, que há um duplo acontecimento.
Houria Bouteldja (2017) comenta que na medida em que não renunciam sua masculinidade precária, homens colonizados são um alvo móvel, são abatidos justamente por disputarem com o mundo branco. É a partir deste abate que a própria nação, a supremacia branca e o mundo colonial moderno advogam para si a condição de heteropatriarcais, pois asseguram a condição de modeladores do mundo. Essa masculinidade é funcional ao sistema colonial, a abastece e lhe dá sustento. Com este ato tem a condição de tutores, mostram seu poderio, sua capacidade de recolher e silenciar. Advogam para si a capacidade de matar rebeldes, arredios, contestatórios. O efeito concreto, além da morte, é a própria frouxidão, a reafirmação da condição de subordinação. A revolta não pode eclodir sobre o corpo de homens caçados ou pelo menos como supúnhamos.
A frouxidão aqui não é nada além do que o efeito outro do hiperestresse ao qual homens negros estão expostos, da falsa ostentação de uma masculinidade, da radicalização de sua agressividade que tem como vítimas os próprios homens e mulheres negras. É sua outra faceta que opera a partir da mesma chave: o moderno mundo colonial racista. É assim que Maria do Rosário fala de homens que “ficam na moita”, ou seja, que ficam escondidos, participam das atividades e mobilizações, mas não estão na frente, ou, preferencialmente, não estão em posições de front. Estão lá, mas estão amedrontados.
É interessante observar que em uma geografia da morte, os corpos de homens negros são construídos como geografias puníveis, são inimigos públicos do Estado, e não é diferente no caso brasileiro. Eles estão sob uma governança necropolítica (Alves, 2011a, 2011b, 2016), em que a mesma faceta que mata é aquela que também dociliza. As narrativas do homem negro como inimigo público são constantemente atualizadas, seja em programas policiais diários, telejornais, no cinema, ou mesmo em nosso próprio senso comum, por meio das figuras do estuprador desconhecido, que mesmo sem face, é negro. O assaltante, vagabundo, desordeiro, traficante de drogas, a maldade inata, a fábrica de marginais são imagens que informam, por exemplo, ações policiais, mas também nosso medo ao percorrer as ruas do centro ou bairros periféricos.
Ao mesmo tempo, cabe destacar que os homens estão lá, eles estão nas comunidades. Fazem parte dos grupos produtivos, das atividades diárias de roça, pesca, criação de animais, na venda de produtos nos centros urbanos ou mesmo entre as comunidades. Assim, para além da faceta do amedrontamento, propõe-se um segundo dado: como a masculinidade de homens negros é domesticada por quebradeiras de coco babaçu em favor das comunidades, como transformam homens negros em menos masculinos, ou no mínimo, transformam essa masculinidade em proveitosa para as lutas e a vida comunitária. Os homens estão lá, vivem nas comunidades e assumem a posição “de menos homens”, menos ocidentalizados em certa medida.
O que está em jogo é transformar masculinidades em prol da luta territorial comunitária a partir da capacidade de quebrar vínculos coloniais modernos e produzi-las em prol das lutas de libertação e não dos usuais esquemas de opressão. Ao produzir “sujeitos menos homens”, atenta-se para a dimensão fundante do terror racial, pois amplamente ancorado em formas de opressão sexual contra mulheres negras desde a escravidão até o pós-cativeiro (Alves; Vargas, 2023). Estas formas de sujeição têm retroalimentado esquemas de violência, genocídio e lugares subalternos amplamente ocupados por grupos negros.
Dessa forma, trata-se de domesticar masculinidades e produzir desvios emancipatórios diante das formas cotidianas de violência contra as comunidades, reproduzidas por meio da frouxidão e/ou hiperestresse de homens negros. Mediante o protagonismo de mulheres negras quebradeiras de coco babaçu, vê-se emergir formas de luta assentadas na pertença racial negra, ao passo que não renunciam vínculos comunitários em um esforço incessante por construir espaços seguros perante as espacialidades antinegras e suas formas cotidianas de violação.
Conclusões
As quebradeiras de coco babaçu negras no Maranhão têm realizado intenso esforço de organização de suas comunidades, tendo como objetivo central assegurar seus territórios. Tanto nos esforços organizativos no âmbito local como no acionamento de memórias coletivas e na criação de alianças com outros grupos subalternos, elas têm destacado que é fundamental assegurar espaços de vida e insurgência contra a morte.
Sua liderança e protagonismo na dimensão comunitária, animando a mobilização local, organizando processos produtivos e protestos, bem como na esfera extracomunitário, na participação em espaços com outras organizações da sociedade civil, debates em universidades, intercâmbios e trocas de experiências com outros povos e comunidades tradicionais, fóruns, conselhos municipais e/ou estaduais, são destacáveis. Assim, elas têm investido em práticas que reforçam uma dimensão de vida local como fonte de energia para as lutas. Não se trata de acordos simples, mas da possibilidade de redimensionar as masculinidades negras e subalternas em favor da vida comunitária, de auxiliar os homens de suas comunidades a perceber condições subservientes a que estão sujeitos por uma lógica patronal branca que se retroalimenta de formas de poder precárias.
Como descrito por elas, tem sido comum uma dimensão de afrouxamento de homens em processos de luta, dada a violência recorrente a que estão expostos. Assim, elas têm assumido posições-chave nas lutas territoriais, conclamando a partir de suas práticas, para que homens se somem a elas, alimentem resistências coletivas e rompam lógicas hegemônicas. Em seus esforços, comentam como têm animado os homens para que rompam com as masculinidades hegemônicas e se transformem em “menos homens”, no sentido das práticas usuais de machismo, intolerância ao protagonismo das mulheres e de sua ação política, que se reorientem e canalizem esforços em favor da vida local.
Com esse objetivo elas têm insistido na necessidade de um pacto que construa lugares seguros. Ao realizarem suas lutas, as quebradeiras negras, em boa medida, desenvolvem um processo de domesticar a masculinidade de homens negros. Oferecerem a eles uma vida além dos limites e expectativas ofertadas por uma masculinidade patriarcal branca em favor da vida comunitária. Nesse sentido, é enfático como estas mulheres se lançam em processos de resistência local e auxiliam tantos outros, reinventando formas de liderança, atualizando saberes e, sobretudo, produzindo enfrentamentos ao Estado, dada sua dimensão colonial-moderna-antinegra.
Em suas lutas, mais do que manifestarem-se puramente com base em sua condição ímpar de gênero, oferecem exemplos de formas comunitárias conduzidas por corpos de mulheres negras a partir de um pacto que lhes dá autoridade. São esforços capitaneados pela liderança de mulheres negras que não renunciam à pluralidade da composição de suas comunidades, não à toa, em diferentes espaços, continuamente comentam que não falam unicamente por si mesmas, mas por suas famílias, filhos, filhas, companheiros e companheiras.
Para essas mulheres, a descolonização mais do que um roteiro pronto com as instruções a seguir, é a possibilidade de aprender sobre si mesmas, suas vidas e histórias do presente-passado, trata-se de reunir esforços que não partem do agora, mas que possibilitaram a vida até aqui, mesmo que recortada por dores, angústias e incertezas. Dessa forma, rememorar é mais do que um empenho sobre o passado, mas a possibilidade de enxergar a potência criativa que as trouxe até o agora. Rememorar é o vigor de vencer o assombro, planejar e enfrentar o mundo. Dessa forma, descolonização é a chance de conhecer melhor feitos locais, positivar vivências e assim enfrentar as facetas tanto mais agressivas quanto sutis da colonização em suas vidas.
Assim, quebradeiras de coco babaçu negras têm feito de sua negrura fundamento de suas lutas. Essa negrura é diretamente associada à possibilidade de vida comunitária através de seus territórios. Nesta relação, sobreviver, comungar dimensões, ver florescer vida, só é possível a partir de um lugar que assegure dimensões ontológicas da vida negra. Esse tem sido um esforço incessante, ao gritarem porque querem territórios e não meramente pedaços de terra. Para elas, os territórios contemplam sua presença por inteiro, lhes asseguram a manutenção de sociabilidades traçadas com base em rotas de fuga do genocídio.
Em suas formulações, terras seriam pedaços esquálidos e sem vida porque são domadas pelo mundo branco e seus anseios, não comportam tempos, jeitos e relações. Aqui, a dimensão de relação de humanos e não humanos é fundamental, pois essas quebradeiras negras falam reiteradamente sobre como lidam com babaçuais, rios, igarapés, animais e a própria vida comunitária. Desse modo, não se trata de meras relações utilitárias, não são acessos ou a quantidade disponível de babaçuais, mas a manutenção da vida, o que envolve sociobiodiversidade, relações com não humanos, práticas culturais e lógicas locais.
Com base nesta pesquisa é possível a percepção da relação intrínseca entre a dimensão racial e socioambiental, pois quebradeiras negras trazem à tona como genocídio negro e ecocídio caminham lado a lado. A violência causada por grandes projetos, frutos de investimento estatal e empresarial, caminha de mãos dadas com a degradação socioambiental, com o aviltamento de comunidades negras. Assim, a devastação de babaçuais demonstra a sanha pela eliminação de grupos negros, fazê-los sumir em favor de mãos brancas, ou, em última instância, domá-los por meio de lógicas de mercado que os domestiquem a partir do consumo. Nesse sentido, extensos cultivos de soja e eucalipto, fazendas de gado de corte e búfalos, empreendimentos minerais, trazem consigo expulsões maciças de comunidades, assassinatos e jagunçagem, a ausência de acessos básicos à justiça ou mesmo água potável compõem um cenário de guerra conhecido. Trata-se não de efeitos indesejáveis do progresso, mas sua faceta mais notadamente antinegra, na medida em que para além de meras dimensões econômicas, estes projetos buscam reiteradamente limpar as terras, dar-lhes brancura.
Referências
AJARI, Norman. La Dignité ou la mort: éthique et politique de la race. Paris: Éditions La Découverte, 2019.
ALMEIDA, Alfredo Wagner Berno de. Quebradeiras de coco babaçu: identidade e mobilização. São Luís: MIQCB, 1995.
ALVES, Jaime Amparo. Necropolítica racial: a produção espacial da morte na cidade de São Paulo. Revista da Associação Brasileira de Pesquisadores/as Negros/as, [s. l.], v. 1, n. 3, p. 89-114, 2011a.
ALVES, Jaime Amparo. Topografias da violência: necropoder e governamentalidade espacial em São Paulo. Revista do Departamento de Geografia – USP, São Paulo, v. 22, p. 108-134, 2011b.
ALVES, Jaime Amparo. Inimigo público: a imaginação branca, o terror racial e a construção da masculinidade negra em ‘Cidade de Deus’. In: PINHO, Osmundo; VARGAS, João H. Costa (Orgs.). Antinegritude: o impossível sujeito negro na formação social brasileira. Cruz das Almas: EDUFRBA; Belo Horizonte: Fino Traço, 2016.
ALVES, Jaime Amparo; VARGAS, João da Costa. Polis Amefricana: para uma desconstrução da ‘América Latina’ e suas geografias sociais antinegras. Latitude, Maceió, v. 17, n. 1, p. 57-82, 2023.
ANDRADE, Maristela de Paula. Conflitos agrários e memórias de mulheres camponesas. Revista de Estudos Feministas, Santa Catarina, v. 15, n. 2, 2007.
BOUTDELJA, Houria. Los blancos, los judíos y nosotros: hacia una política del amor revolucionário. México: Ediciones Akal, 2017.
FANON, Frantz. Pele negra, máscaras brancas. Salvador: EDUFBA, 2008.
FIGUEIREDO, Luciene Dias. Empates nos babaçuais: do espaço doméstico ao espaço público – lutas de quebradeiras de coco no Maranhão. 2005. 199 f. Dissertação (Mestrado em Agricultura Familiar) – Centro Agropecuário, Universidade Federal do Pará, Belém, 2005. Disponível em: https://www.repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/1736. Acesso em: 15 mar. 2022.
HAESBART, Rogério. Território e descolonialidade: sobre o giro (multi)territorial/de(s)colonial na América Latina. Buenos Aires: Clacso; Niterói: UFF, 2021.
MARANHÃO. Governo do Estado. Operação Baixada Livre derruba cercas e garante livre acesso aos campos. Ma.gov., 2018. Disponível em: https://www3.ma.gov.br/agenciadenoticias/?p=219988. Acesso em: 10 mar. 2022.
MIQCB. Relatório do I Encontro Interestadual de Quebradeiras de Coco Babaçu (MA, PI, TO, PA). São Luís: I EIQCB, 1991.
MIQCB. ‘Nós queremos o território livre’: MIQCB e quilombolas de Sesmaria do Jardim se reúnem com a SAF. Miqcb.org., 2021. Disponível em: https://www.mi-qcb.org/post/n%C3%B3s-queremos-o-territ%C3%B3rio-livre-miqcb-e-quilombolas-de-sesmaria-do-jardim-se-re%C3%BAnem-com-a-saf. Acesso em: 8 out. 2021.
NASCIMENTO, Maria Beatriz. Beatriz Nascimento, quilombola e intelectual: possibilidades nos dias de destruição. Diáspora Africana: Filhos da África, 2018.
PATTERSON, Orlando. Escravidão e morte social: um estudo comparativo. São Paulo: Edusp, 2008.
PIEDADE, Vilma. Dororidade. São Paulo: Nós, 2020.
PINHO, Osmundo. O sacrifício de Orfeu: masculinidades negras no contexto de antinegritude em Salvador. In: CAETANO, Marcio; SILVA JÚNIOR, Paulo Melgaço (Orgs.). De guria a cabra-macho: masculinidades no Brasil. Rio de Janeiro: Lamparina, 2018.
PORRO, Noemi Sakiara Miyasaka. Rupture and resistance: gender relations and life trajectories in the babaçu palm forests of Brazil. 2002. 380 f. Tese (Doutorado em Antropologia Social) – Department of Anthropology, University of Florida, Gainesville, 2002.
PORRO, Noemi Sakiara Miyasaka. Changes in peasant perceptions of development and conservation. 1997. Dissertação (Mestrado em Estudos Latino-Americanos) – Center for Latin American Studies, University of Florida, Gainesville, 1997.
RÊGO, Josoaldo Lima. A identidade quebradeira de coco babaçu: políticas da natureza e o sentido do Local/Global. 2011. Tese (Doutorado em Geografia) – Departamento de Geografia, Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011.
SHIRAISHI NETO, Joaquim. A reconceituação do extrativismo na Amazônia: práticas de uso comum dos recursos naturais e normas de direito construídas pelas quebradeiras de coco babaçu. 1997. Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento Sustentável do Trópico Úmido) – Núcleo de Altos Estudos Amazônicos, Universidade Federal do Pará, Belém, 1997.
SOUSA, Igor Thiago Silva de. As rosas negras: quebradeiras de coco babaçu, raça e território no Maranhão contemporâneo. 2022. Tese (Doutorado) – Programa de Pós-graduação em Sociologia, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2022.
SPIVAK, Gayatri Chakrovorty. Pode o subalterno falar? Belo Horizonte: Editora da UFMG, 2010.
Como citar
SOUSA, Igor Thiago Silva de. Vivendo o pós-cativeiro: proposições de quebradeiras de coco babaçu negras sobre territórios e alianças de libertação. Estudos Sociedade e Agricultura, Rio de Janeiro, v. 32, n. 1, e2432105, 6 jun. 2024. DOI: https://doi.org/10.36920/esa32-1_05.
|
Creative Commons License. This is an Open Acess article, distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License CC BY 4.0 which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium. You must give appropriate credit, provide a link to the license, and indicate if changes were made. |