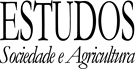 Recebido: 27.nov.2022 •
Aceito: 19.maio.2023 •
Publicado: 30.jun.2023
Recebido: 27.nov.2022 •
Aceito: 19.maio.2023 •
Publicado: 30.jun.2023
Seção Temática
Mulheres, territorialidades e epistemologias feministas – conflitos, resistências e (re)existências
Novos modos de resistência protagonizados
por ‘mulheres atingidas’ a partir das intervenções no âmbito territorial
New expressions of resistance by women affected by territorial interventions
|
Rodica Weitzman[1] |
|
|
Resumo: Este artigo propôs analisar as dinâmicas protagonizadas pelas mulheres que são impactadas de algum modo pelos efeitos de intervenções no âmbito territorial. Os processos indenizatórios, implementados pelas autoridades estatais e empresariais a partir de acontecimentos que alteram o cotidiano de uma forma drástica –, seja uma tragédia ocasionada pelas forças da natureza, seja uma obra que faz parte de uma megaprojeto – acarretam a conversão das perdas em valores monetários. Ser sujeitada, de forma repentina, à contabilização de bens simbólicos coletivos – a casa, o quintal e as áreas dedicadas às atividades agroextrativistas, que são carregados de valores e emoções não mensuráveis – representa a domesticação das experiências de violência mediante técnicas e instrumentos. Examinamos de que maneira mulheres atingidas por estas tragédias criam estratégias para subverter os modos hegemônicos de controle da gestão territorial. Constituem marcas de uma práxis política que se integra a uma epistemologia ecofeminista relacional.
Palavras-chave: mulheres; atingidas; territórios.
Abstract: This article analyzes the dynamics utilized by women impacted by territorial interventions. The process of calculating indemnities from government authorities and business after events that drastically alter the daily lives of families and communities (whether natural disasters or large-scale development projects such as dams or mining operations) involves converting losses into monetary values. Suddenly being subjected to calculations of the symbolic value of assets such as a home, a backyard, or areas dedicated to extractivism (which are all associated with emotions that cannot possibly be measured) is a domestication of violent experiences through techniques and instruments. This article examines how women affected by these tragedies create strategies to subvert the hegemonic modes of exercising control over territorial management, tactics which signal a political practice that is part of an ecofeminist and relational epistemology.
Keywords: women; affected; territories.
Introdução
Este artigo tem como principal objetivo abrir um campo de reflexão que aponta em duas direções. Primeiramente, buscamos trazer uma leitura aguçada dos impactos dos grandes projetos de desenvolvimento a partir das perspectivas daqueles que são diretamente afetados – “os” e “as atingidas”–, demonstrando de que maneira estes processos de expropriação territorial, que chegam de forma unilateral, recaem principalmente sobre os grupos sociais de modos distintos de acordo com marcadores sociais (gênero, raça, etnia, classe, geração e nacionalidade). À luz de vertentes das teorias e epistemologias feministas interseccionais (HOOKS, 2000; HILL COLLINS, 2015), decoloniais (SEGATO, 2012; LUGONES, 2014) e de feminismo comunitário e territorial (PAREDES, 2008; CABNAL, 2010; SVAMPA, 2021), propõe-se entender os múltiplos “efeitos” (SIGAUD, 1992) das intervenções do setor empresarial e governamental sobre os modos de subjetivação[2] das mulheres, o que tem rebatimentos sobre suas territorialidades em diferentes escalas.
Em segundo lugar, exploraremos algumas estratégias que são construídas por mulheres que se situam nos territórios impactados com o principal objetivo de problematizar e subverter os modos hegemônicos de controle da gestão territorial, que se revelam no cerne dos processos de indenização e deslocamento compulsório. Os dois casos trazidos para este exercício analítico, tanto aaqueles(as) que são afetados(as) pelos processos de implementação de megaprojetos quanto aqueles(as) que são sujeitados(as) aos efeitos de desastres ambientais, desvelam as tensões inerentes ao gerenciamento dos conflitos socioambientais dentro de uma densa “rede de responsabilidades” (DAS et al., 2000), envolvendo diversos atores sociais. Na gestão de procedimentos que buscam aliviar e compensar danos ocasionados – como as medidas indenizatórias –, é importante pontuar que amiúde as fronteiras entre os agenciamentos estatais e empresariais se tornam bastante acinzentadas. De acordo com Mitchell, “a divisão Estado-Empresa não é uma simples distinção entre dois objetos ou domínios autônomos, mas uma fronteira complexa, interna ao reino das práticas” (MITCHELL, 1999, p. 83).
As situações vivenciadas por mulheres atingidas por uma “tragédia das chuvas” nas comunidades urbanas do Rio de Janeiro e por mulheres afetadas pela instalação de uma obra hidrelétrica em Tucuruí, Pará, obviamente apresentam distinções importantes, as quais são exploradas no corpo deste texto, mas sinalizamos que estaremos fiéis ao fio condutor da análise a ser efetivada: as reações que são desencadeadas quando as autoridades estatais e/ou empresariais passam a regulamentar e controlar as condições da ocupação territorial e orquestrar uma nova linguagem: a mensuração dos danos. As ações que são ativadas nestes momentos críticos se dividem em dois campos distintos:
(i) uma postura de questionamento da lógica que esteja na base das medidas “compensatórias” e a proposição de um outro modo de reconhecer e valorar os significados de “bens”, “objetos” e “territorialidades”;
(ii) formas de ação política que passam pelas múltiplas expressões de “cuidado coletivo” no âmbito territorial, propondo outras lógicas do bem viver.
Em relação ao segundo ponto, é importante exercer um olhar aguçado sobre as transformações nas estratégias de luta de mulheres que manifestam suas identidades coletivas por meio de um processo de territorialização. Como Svampa (2021) afirma, no bojo das estratégias protagonizadas por mulheres “atingidas” pelos impactos do neoextrativismo, testemunhamos “as bases de uma nova linguagem comum de valorização da territorialidade, que podemos denominar de giro ecoterritorial, ilustrado pela convergência de diferentes matrizes e linguagens” (SVAMPA, 2021, p. 63). Sinalizam novos fundamentos entre dádiva e mercado dentro de uma reescritura das relações “natureza-cultura” (GUÉTAT-BERNARD; VERSCHUUR; GUÉRIN, 2015), além de revelar novos significados para a gestão dos recursos naturais, enquadrados como “bens comuns”[3] (FEDERECI, 2014; OROZCO, 2014). Distintas expressões de agência – com base nas configurações de redes de interdependência e apoio mútuo que atestam a força do “trabalho de cuidados” para a sustentabilidade da vida (CARRASCO, 2006, 2018) – podem ser lidas como manifestações do que Svampa nomeia de “feminismos ecoterritoriais”. Como bandeira política de movimentos inspirados nos “feminismos ecoterritoriais”, a noção de bem viver se torna mais tangível, como “um conjunto de ideias plurais, que insistem na mudança do paradigma desenvolvimentista para uma visão de crescimento econômico limitado, solidário e sustentável, incentivando a (re)criação de espaços comuns (da comunidade), além de colocar os direitos da natureza como uma premissa incontornável” (COCATO, 2021, p. 9). De acordo com Svampa, “a denominação específica de ‘feminismos ecoterritoriais’”, que tem surgido com força nos países latino-americanos, enfatiza “seu vínculo com o giro ecoterritorial das lutas, assim com as mobilizações dos afetados socioambientais, que também constroem sua narrativa em torno da justiça ambiental” (SVAMPA, 2021, p. 1).
Tanto Cabnal (2010) quanto Svampa (2021) destrincham os princípios subjacentes a uma postura política epistémica que ganha inteligibilidade a partir da denúncia da violência sobre os territórios/corpos e da crítica contundente aos processos de desenvolvimento capitalista e extrativista. Um elemento central desta visão de feminismo – feminismo comunitário ou “ecoterritorial” – é a geopoliticização do espaço em diversas escalas, começando pela ligação estreita entre “corpo-território.” Estas “narrativas ecopolíticas”, que emanam de coletivos protagonizados por mulheres em diversos contextos sociopolíticos, nos dizem respeito ao fortalecimento de identidades coletivas – “guardiões de sementes”, “razeiras”, “quebradeiras de coco babaçu” e assim por diante – e evocam a emergência de uma “subjetividade comum” (SVAMPA, 2021, p. 8), enraízada nos solos dos territórios. Sinalizamos a potência destas iniciativas que tem surgido nos últimos anos nas configurações organizacionais e que devem ser objeto de análise de uma futura investigação. A avaliação das formas organizativas protagonizadas pelos coletivos de mulheres que são sujeitados às ameaças de expropriação territorial será o foco de outro trabalho a ser desenvolvido posteriormente, como uma continuidade deste processo inicial de pesquisa.
A seguir, fazemos algumas ponderações sobre algumas dimensões metodológicas: as vozes que foram ouvidas e as fontes de informação que foram consultadas. Ressaltamos que este trabalho apresenta um mapa polifônico de vozes sobre o tema analisado, uma vez que foi possível estabelecer interlocuções com perfis diferentes de entrevistados(as): mulheres atingidas em contextos urbanos e rurais, um dos seus filhos, e também uma assessora de uma organização que atuava nos grupos atingidos.
Trazemos alguns elementos que consideramos ser fundamentais para entender as fontes de informação que subsidiaram a análise a ser efetivada neste empreendimento intelectual. Um dos casos analisados constituiu o foco da pesquisa de mestrado da autora em Antropologia Social no período de 2010 a 2011, que abordou os processos de deslocamento de mineiros para favelas cariocas. Assim, incorporamos alguns dados etnográficos das sistematizações feitas durante o trabalho de campo, incluindo as entrevistas com as principais interlocutoras. O outro caso focalizado – os grupos atingidos pela usina hidrelétrica de Tucuruí –, foi o alvo de um projeto aprovado pela Capes em 2015, dentro do Edital no 12/2015, “Memórias Brasileiras: Conflitos Sociais”, durante estágio do pós-doutorado no Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional da Universidade Federal do Rio de Janeiro (Ippur/UFRJ) no período de 2017 a 2018. Um acervo que foi constituído no Ippur/UFRJ ao longo de 30 anos a partir de diversas fontes (documentos, gravações de entrevistas e fotos) foi acessado para a construção das análises dentro deste artigo. Ao longo do engajamento no projeto de pesquisa, foi efetivado um trabalho de análise documental a partir dos diversos arquivos fabricados pelos grupos atingidos – tais como folhetos, boletins, cartas e atas de reuniões –, muitas vezes de forma artesanal – com o intuito de disseminar suas bandeiras de luta e construir uma via de comunicação com o setor elétrico de forma mais efetiva. Esta base de sistematizações prévias foi utilizada para as finalidades deste trabalho. Merece destaque os registros das palestras realizadas por lideranças e ex-técnicos(as) de organizações locais durante o Seminário “Tucuruí: Memórias de uma luta em curso” (Auditório de Geociências, UFF, Belém, Pará, 24 de abril de 2018), que forneceu subsídios para a análise efetivada no escopo deste artigo.
Adentrando no universo das ‘mulheres atingidas’: questões norteadoras da análise a ser efetivada
Ao adentrar no universo das mulheres “afetadas” por desastres, acontecimentos e eventos críticos no âmbito territorial, primeiramente, é importante esclarecer que jogamos luz em uma categoria identitária que vem se consolidando e ganhando força política – “atingida” –, e que unifica, de algum modo, um amplo leque de mulheres que se identificam mutuamente a partir de sua condição, embora sejam atravessadas por distintos marcadores sociais. De acordo com Furtado e Andriolli (2021), o foco para a análise efetivada é o plano empírico da vida social das mulheres como “sujeitos” que demonstram diferentes formas de agência, uma vez que, “apesar das suas diferenças – quilombolas, camponesas, na sua maioria negras, e indígenas, além de outras formas de identificação (de geração, por exemplo) –, têm em comum o fato de serem “atingidas” (FURTADO; ANDRIOLLI, 2021, p. 69). O conceito de “atingido(a)”, como Vainer (2008) pontua, representa uma categoria “em construção”; por assim dizer, não é uma nomeação cristalizada e fixa, mas tem sido sujeitada às disputas e às divergências imanentes ao campo político em diferentes marcos históricos. No entanto, apesar destas oscilações, a categoria identitária – atingido(a) – tem sido um elemento-chave no processo de reconhecimento e legitimação das vozes das pessoas que são afetadas em diferentes graus por alterações no seu entorno que já os(as) deslocam para uma “situação do risco”, seja em função do modo de operacionalização de um empreendimento, seja por causa de uma tragédia ocasionada por fatores oriundos “da natureza” (enchentes, deslizamentos de terras, entre outros). No caso das megaprojetos, vemos que a conceituação sobre ser ou não ser atingido(a) sofre oscilações ao longo do ciclo de implementação das obras, justamente em função da ampliação paulatina dos seus efeitos no espaço físico.[4] Ao mesmo tempo, esta categoria identitária é moldada no decorrer das interações, a partir de um jogo de interesses que transcorre ao longo de um processo árduo de negociação com as autoridades estatais e empresariais para colocar em ação medidas voltadas para a reparação dos danos.
Ao trazer nossa reflexão para o universo das mulheres “atingidas”, cabe ressaltar dois pontos-chaves em relação ao uso desta nomeação como dispositivo de articulação, luta e negociação de direitos e deveres. Em primeiro lugar, representa um caminho fundamental para a afirmação de sujeitos que tiveram seus direitos violados e que articulam este processo de violação a partir do lugar que ocupam. Em segundo lugar, de acordo com Furtado e Andriolli (2021), “indica também a necessidade de reconhecimento dessa violação e da justa reparação”, o que possibilita ainda uma postura proativa perante um campo de disputa assimétrica e extremamente polarizada, que se exprime na dicotomia entre os poderes instituídos e suas armas de intervenção, por um lado, e os grupos e indivíduos atingidos, enraizados nos seus respectivos territórios, por outro (VAINER, 2008). As assimetrias de poder potencialmente interditam a capacidade criativa e adaptativa dos grupos “atingidos” em face das condições ambientais que se apresentam no cerne dos regimes de expropriação e expansividade mercantil sobre os bens comuns.
O pano de fundo: as manifestações do neoextrativismo desde a ótica das mulheres atingidas
Svampa (2021) nomeia este período que revelou o domínio do neoextrativismo de “Consenso das Commodities”, marcado pelos “altos preços das commodities, de uma balança comercial favorável para os países exportadores e de uma nova fé na doutrina do desenvolvimento produtivo a partir dessas explorações” (SVAMPA, 2021, p. 8). Levando em conta a lógica neoextrativista que se embasa na extração dos recursos oriundos dos territórios a qualquer custo (FURTADO; ANDRIOLLI, 2021), percebemos que os impactos não podem ser apreendidos a partir de uma leitura neutra, uma vez que as mulheres são “atingidas” por intervenções dos setores empresariais e estatais no âmbito territorial de uma forma muito desigual. Cruz Hernández (2017) nos alerta que os espaços extrativistas são altamente masculinizados e que a instalação de empresas provoca uma “patriarcalização dos territórios” (CRUZ HERNÁNDEZ, 2017). Este processo de “patriarcalização dos territórios” é revelador de um processo de transmutação dos territórios, o que Augé chama de um “verdadeiro não lugar” (AUGÉ, 2003), uma vez que, por meio dos fluxos de capital e da difusão de tecnologias que estes projetos demandam, o local se transforma em um espaço de produção transnacional. Assim, a existência de outros esquemas referenciais que são fundamentais para as mulheres na costura de suas territorialidades, como o acesso às fontes de água ou matas e a diversidade de plantas nas áreas de produção agrícola são sistematicamente negados.
Torna-se imprescindível adotar uma abordagem mais abrangente e multidimensional das intervenções assentadas na lógica neoextrativista, de forma alinhada com a posição endossada por Furtado e Andriolli (2021) que propõe “examinar os megaprojetos, levando em conta as mulheres não como um apêndice a outras análises sobre os Grandes Projetos de Desenvolvimento (GPI), mas como uma maneira de reexaminar o processo de construção das suas lógicas com base nos feminismos, nas experiências das mulheres: a partir da expropriação dos territórios e do trabalho das mulheres; dos seus corpos; e da capacidade de ação política” (FURTADO; ANDRIOLLI, 2021, p. 89). Assim, a perspectiva analítica que trazemos para este artigo envolve a incorporação de um enfoque de gênero com base em diferentes óticas das vertentes feministas, na leitura destes conflitos socioambientais.
Os contextos sobre os quais desenvolvemos este exercício de análise crítica revelam as assimetrias estruturais que caracterizam conflitos ambientais agudos e que se materializam nos territórios[5] e nas formas de relacionalidade com territorialidades[6] distintas. Tomamos como ponto de partida uma visão acerca dos conflitos socioambientais inspirada nas leituras de Sigaud (1992) e Acselrad (2006). É sabido que os projetos de grande envergadura – como a Usina Hidrelétrica em Tucuruí, PA, ou em Sobradinho, BA – desencadeiam “um conjunto de conflitos entre diferentes forças sociais” (SIGAUD, 1992, p. 34), tendo início destas situações conflitantes a intervenção estatal. Acselrad (2006) define “conflitos socioambientais” como processos deflagrados por modos diferenciados de uso e apropriação do território, nos quais seus significados estão no cerne da disputa, sendo foco de interpretações diferenciadas e reformulações. São desencadeados geralmente com base em pressões e ameaças sofridas por grupos sociais em função das práticas de intervenção de agentes externos e da distribuição de “externalidades.”[7] Na visão da pesquisadora Lygia Sigaud,[8] as diferentes forças sociais que transparecem em situações de conflito “não estão dadas a priori, mas se constituem no próprio processo, a partir de uma estrutura social preexistente, da lógica de atuação do Estado, que varia historicamente, e também das alianças construídas e desfeitas” (SIGAUD, 1992, p. 34).
Introduzimos também aqui a leitura crítica sobre determinadas localidades que são sujeitadas à superposição de empreendimentos e instalações responsáveis por danos e riscos ambientais, as chamadas “zonas de sacrifício” (BULLARD, 1996; VIÉGAS, 2006), que nos revelam nitidamente de que modo os territórios são racializados dentro de uma lógica operante de “naturalização” das catástrofes ambientais. Em alguns cenários, percebemos de que modo os agentes governamentais, em aliança com o mundo empresarial, constroem práticas discursivas embasadas na culpabilização daqueles(as) que ocupam determinados espaços que se caracterizam como “áreas de risco”, o que agrava o grau dos conflitos que se eclodem dentro dos territórios. Svampa (2021) realça os significados de uma “zona de sacrifício”, que pressupõe “a radicalização de uma situação de desigualdade e de racismo ambiental”, onde se encontra as intersecções entre “o social, o étnico e a problemática de gênero” (SVAMPA, 2021, p. 10).
Zhouri e Oliveira (2007) nos alertam para o fato de que os conflitos ambientais não deveriam ser lidos estritamente a partir da chave interpretativa de “conflitos de interesses”, uma vez que também se configuram como “conflitos de valores, cosmovisões, racionalidades e modos de vida” (ZHOURI; OLIVEIRA, 2007, p. 4). No cerne dos processos de construção de empreendimentos ou de gestão de “crises” (enchentes, chuvas fortes), testemunhamos de que modo “a base cognitiva para os discursos e as ações dos sujeitos neles envolvidos configura-se de acordo com suas visões sobre a utilização do espaço” (ZHOURI; LASCHEFSKI; PAIVA, 2005, p. 4). Observa-se um certo reducionismo em relação ao valor atribuído aos espaços e seus usos dentro dos territórios impactados por parte do setor empresarial, o que suscita diversos pontos de tensionamento. Deste modo, podemos citar alguns exemplos concretos que revelam a falta de entendimento dos modos de vida de comunidades tradicionais, como populações ribeirinhas, nos processos de negociação. De acordo com Zhouir, Laschefski e Paiva (2005), percebe-se uma contraposição entre duas lógicas que dificultam a implementação de medidas compensatórias: por um lado, as populações ribeirinhas atribuem significados à terra e ao rio como componentes essenciais de seu “metabolismo territorial” (ZHOURI; LASCHEFSKI; PAIVA, 2005, p. 4), defendendo a noção destes bens comuns como parte da memória coletiva, que passa por regras de uso e compartilhamento dos recursos. Por outro lado, o setor elétrico, incluindo o Estado e empreendedores públicos e privados, “adotam uma ótica sobre a terra e seus usos restrita ao funcionamento do mercado, que reduz a apreensão do território à propriedade e, como tal, o concebe como uma mercadoria passível de valoração monetária” (SIGAUD; MARTINS-COSTA; DAOU, 1987; VAINER, 2008).
A maleabilidade das categorias identitárias se torna um elemento central que rege o fluxo de acontecimentos que eclode nos territórios atingidos. Como referência, seguimos a leitura de Weber (1987), que parte de uma noção da identidade não como uma ideia descritiva ou naturalizante, mas como uma categoria afirmativa e propositiva, que vai se consolidando a partir da construção de um repertório[9] de ações coletivas, inaugurado quando acontece um evento de ordem “extraordinária” (DAS et al., 2000).[10] A abordagem adotada neste artigo endossa a linha de pensamento que é defendido por Bell Hooks (2000), que propõe pensarmos em termos plurais como saída para que as identidades sejam tratadas fora do escopo das noções ocidentais de um ser unitário. Ao abordar as formas de agência das mulheres “atingidas” – em todas suas dimensões –, torna-se fundamental problematizar a noção de uma experiência vivida por mulheres agricultoras e extrativistas como algo universal e uniforme,[11] desafiando o entendimento padronizado de gênero como uma categoria estável, homogênea e autocontida (SCOTT, 1995), ao mostrar as múltiplas dimensões da construção identitária de mulheres que ocupam distintas posições sociais. Neste sentido, adotamos uma concepção da “agência” que tira o peso do “indivíduo” como sujeito de mudança e contextualiza as diferentes posições que as mulheres ocupam – muitas vezes desde o lugar da “fronteira” (ANZALDÚA, 1987)[12] e/ou a partir de formas inusitadas de resistência que surgem no cerne dos coletivos autogestionados (ABU-LUGHOD, 1986; MAHMOOD, 2005; LUGONES, 2014). A abordagem interseccional de feminismo[13] nos habilita para compreender as interseções entre relações de poder, indo além do simples reconhecimento da multiplicidade dos sistemas de opressão que operam para iluminar os cruzamentos entre marcadores de gênero, raça, etnia, geração e classe na produção e na reprodução das desigualdades sociais. Algumas formas de agência perante os processos indenizatórios impostos pelos agentes empresariais e/ou do Estado são perscrutadas aqui a partir de um recorte espacial e temporal. Este recorte se justifica pelo fato de que a modalidade do poder estatal e empresarial nestes dois contextos – da implantação de uma obra hidrelétrica em Tucuruí, PA, e da tragédia das chuvas e deslizamento de terras nos morros dos Prazeres e do Escondidinho/RJ – está fundada no culto de expertise, uma manifestação do saber técnico inerente à figura do especialista que efetiva suas mensurações com base em um mapeamento dos danos cometidos sobre os corpos e territórios em um determinado período de tempo – a instalação da crise e a etapa pós-crise. Tendo como parâmetro de nossa análise a interpretação foucaultiana do “biopoder”,[14] definido como “o conjunto dos mecanismos pelos quais aquilo que, na espécie humana, constitui suas características biológicas fundamentais, vai poder entrar numa política, numa estratégia política, numa estratégia geral do poder” (FOUCAULT, 2008a, p. 3), é evidente que os marcadores de “tempo” e do “espaço” se tornam fundamentais para decifrar as dinâmicas construídas dentro de uma “micropolítica” de resistência que brota no cerne dos grupos subalternos.
Esta ótica de análise permite ampliar nosso olhar para além de iniciativas que busquem responder aos eventos críticos – a partir de sua capacidade reativa – e contemplar, de algum modo, um amplo leque de lutas que exprimem outras lógicas de resistência, visando à resiliência e à sustentabilidade de modos de vida. Assim, embora este artigo não tenha a pretensão de explorar a fundo cada uma destas iniciativas, é importante reconhecer suas dimensões subversivas, reveladas em situações etnográficas distintas: as lutas das quebradeiras de coco babaçu pela preservação e livre acesso a este bem comum (para que “não tenhamos babaçus livres em territórios presos”); a participação de apanhadoras de flores vivas em um sistema tradicional agrícola que combate um processo veloz de erosão genética; as resistências vivenciadas pelas mulheres nas casas de sementes contra a uniformidade genética e o poder das corporações; e o engajamento das raizeiras na fabricação de remédios naturais que contrapõem o domínio dos seus saberes tradicionais. Todas estas expressões, protagonizadas por mulheres nas suas comunidades e territórios demonstram a força dos “comuns” como princípio da organização da sociedade (FEDERECI, 2014), que rege as experiências de reciprocidade e possibilita a sustentação do “bem viver.”
É inegável que as mulheres “atingidas” por situações adversas que revelam as facetas do poder corporativo, empresarial e estatal desvelam os princípios fundantes de um modo de vida que vai na contramão das lógicas predominantes do capital a partir da criação de modos políticos “de composição, de feitura do território” (COELHO, 2019, p. 15) ao longo das etapas da “crise” instalada. Nestes pequenos gestos de resistência perante o modus operandi do setor empresarial e governamental, é possível enxergar a reprodução deste modo de vida específico, que sinaliza a potência da ação coletiva nos termos do que Stengers e Pignarre (2011) chamam de uma espécie de “contrafeitiçaria.” De acordo com estas autoras, muitos gestos que surgem de forma espontânea[15] com base nas iniciativas embrionárias das mulheres nos diversos contextos socioculturais poderiam ser enquadrados como indícios de um modo alternativo de resistência. É esta ótica que orienta as análises das experiências concretas a partir de duas situações etnográficas, como veremos a seguir.
Os múltiplos ‘efeitos’ das estratégias e táticas de intervenção por parte dos agentes empresariais e governamentais no âmbito territorial
Neste texto, partimos do entendimento de que a categoria de “atingido(a)” não apenas se refere a aqueles(as) que são afetados(as) pelos processos de implementação de megaprojetos, mas também a aqueles(as) que são sujeitados(as) aos efeitos de desastres ambientais, a maioria dos quais pode ser interpretada como “tragédias anunciadas”, pelo fato de que sua ocorrência se deve a uma postura de negligência e descaso com as repercussões sociais, políticas, econômicas e ambientais de tais acontecimentos por parte de autoridades políticas. De algum modo, tanto as crises enquadradas como “ambientais” (enchentes, deslizamentos de terras) quanto os empreendimentos – obras hidrelétricas, de mineração ou de infraestrutura – podem ser perscrutados como eventos “críticos” que, como Das et al. (2000) nos lembram, se enquadram no que poderíamos classificar como o plano “extraordinário” da vida social. Na sua análise da catástrofe industrial que ocorreu em Bhopal em dezembro de 1985, a autora se empenha na tarefa de mostrar de que forma atos que “aparecem como frutos de contingência absoluta podem ser revelados como carregando os vestígios de histórias, de falhas institucionais e da violência rotineira do cotidiano” (DAS et al., 2000, p. 130). Assim, estes dois eventos críticos – a Usina Hidrelétrica (UHE) em Tucuruí/PA e a tragédia das chuvas nas comunidades dos Prazeres e do Escondidinho no Rio de Janeiro/RJ – serão perscrutados a partir da interpretação de Das et al. (2000). São apresentados, de alguma maneira, pelos setores do mundo empresarial e estatal, como eventos que têm sua origem no plano “extraordinário” – frutos dos fenômenos alheios, fora do controle da agência humana e submetidos às forças do acaso (DAS et al., 2000).
Nota-se que esta leitura de um evento como um fenômeno movido por fatores alheios se torna mais acentuada ainda no caso das crises enquadradas como “ambientais”, como enchentes ou chuvas fortes que acarretam deslizamentos de terra,[16] afetando as populações que habitam localidades que, em muitos casos, têm sido classificadas como “áreas de risco”. O tom ambientalista, que pervade o discurso oficial das autoridades, camufla que as tragédias ocorridas com mais frequência nos últimos anos não são apenas fatos aleatórios, mas sim decorrentes de uma relação assimétrica, estabelecida historicamente entre diferentes segmentos sociais. Atentamos para os detalhes da narrativa de uma das moradoras, Dona Lúcia, uma mulher negra de aproximadamente 68 anos, que chegou ao Rio de Janeiro nos anos 1970, vinda de seu lugar de origem, Caratinga, Minas Gerais, onde trabalhou por muitos anos nas fazendas, feliz por ter encontrado a cessão de uso de um terreno que poderia chamar do “seu” no contexto do morro dos Prazeres, localizado na região central do Rio de Janeiro. A fala dela é marcante na construção de uma denúncia sobre o fato de ter sido “atingida” por uma crise desta natureza, no dia 6 de abril de 2010, quando chuvas intensas provocaram o desabamento de 15 casas e a morte de 21 pessoas. Revela as lacunas existentes dentro desta linha de argumentação, endossada pelos “técnicos” e experts que protagonizam estas intervenções:
Acho que eles pensam muito assim – como se fosse coisa somente da natureza. Chovia muito, encharcou e aí desceu tudo. Mas não era apenas isso que aconteceu. Tenho pouco estudo. Mas tenho uma visão – eu vejo o que pode ser prevenido antes. Poderiam ter prevenido tudo isso aqui. (Entrevista com Dona Lúcia, 2010)
As “armas” utilizadas pelos poderes instituídos – sejam instituições privadas ou governamentais – são pautadas na construção de práticas discursivas estritamente “tecnicistas” – cujas interpretações são incorporadas nos instrumentos (planilhas, tabelas) e documentos produzidos (relatórios, laudos) –, e que ocultam a cadeia de causas e efeitos que esteja por trás de tais acontecimentos. A estratégia utilizada pelo setor empresarial e pelo Estado – que, nas suas extensões, engloba os técnicos de órgãos públicos – envolve uma apropriação burocrática e científica do evento, por meio de uma linguagem puramente tecnicista que transmite a certeza dos fatos. Como Das et al. (2000) afirmam, responder às situações de incerteza “como se certeza fosse possível” é promover uma visão ilusória sobre a própria natureza de um acontecimento como esse. A autora mostra de que modo o enquadramento de uma experiência de sofrimento na linguagem de ciência tem como um dos seus efeitos reforçar a culpabilização da vítima por seu sofrimento (DAS et al., 2000, p. 156).
À luz da orientação foucaultiana, podemos entender como as autoridades políticas que efetivam intervenções antes, durante e depois de tais “eventos críticos” desencadeiam um processo de desumanização e apagamento da “agência” dos sujeitos diretamente envolvidos(as), a partir da mobilização de recursos, regras e técnicas em torno de um projeto civilizatório voltado para a racionalização do seu processo de intervenção que reforça esta sensação de estar “fora do controle” e reféns das forças do “acaso.” Abrams (2006) afirma que faz parte da construção do Estado a dissociação de suas estruturas – de tal forma que deixa transparecer que apenas fatores alheios provocam este tipo de acontecimento – as quais fogem do domínio do aparelho estatal. São os modos pelos quais o poder camufla seu próprio mecanismo de funcionamento (SHORE; WRIGHT, 1997, p. 8).
A gestão das medidas ligadas a tais acontecimentos (deslocamentos compulsórios, indenizações, remoções e assim por diante), passa por redes capilares – formas não institucionais – que revelam as nuances do funcionamento de um complexo sistema de poder. De acordo com Zhouri e Oliveira (2007), estes mecanismos de poder são construídos com base em um paradigma em vigência – o “paradigma da adequação” – que consiste na apresentação do empreendimento ou qualquer outra intervenção do setor empresarial “de forma inquestionável e inexorável” (ZHOURI; OLIVEIRA, 2007, p. 122). Esta concepção apresenta “o ambiente” – o território e seus respectivos ecossistemas, que são apropriados pelos sujeitos – “como externalidade, paisagem que deve ser modificada e adaptada aos objetivos do projeto técnico” (ZHOURI; OLIVEIRA, 2007, p. 123).[17] O processo de naturalização do empreendimento e das medidas de mitigação empregadas gira em torno de uma concepção de que é um processo “inevitável” que foge ao controle dos atores que residem nas localidades diretamente impactadas, de modo que a “necessidade” e a viabilidade socioambiental da obra” não são consideradas questões dignas de serem “colocadas em pauta” (ZHOURI; OLIVEIRA, 2007, p. 5).
Tanto no caso de um grande projeto de desenvolvimento, no qual se observa um processo de intervenção que passa por distintas etapas – antes, durante e após a implantação da UHE – quanto no caso de um desastre ambiental que é enquadrado como um acontecimento abrupto e inesperado provocado pelas forças da natureza, percebe-se que há semelhanças no gerenciamento de tais conflitos socioambientais por parte das autoridades governamentais e empresariais. A partir da ótica dos grupos sociais atingidos, podemos constatar que esta sensação de serem atravessados(as) por um acontecimento que seja ocasionado por forças alheias se consolida na medida em que as intervenções coordenadas pelo setor empresarial, em aliança com instituições governamentais, se concretizem: sem nenhuma interlocução efetiva e dialogada. Esta falta de diálogo se revela em distintos marcos temporais: seja pelas falhas no processo de exercitar os direitos dos povos e comunidades tradicionais à “consulta livre, prévia e informada”[18] antes da implementação dos grandes projetos de desenvolvimento, seja durante o estágio posterior, que visa à construção das medidas compensatórias, entre elas as indenizações. Nestas etapas dentro do processo de implementação dos megaprojetos, “o controle”, que se revela na gestão dos espaços e na disciplinarização dos corpos e das populações, é transmitido por “tecnologias políticas” (FOUCAULT, 1979, 1991) que, na linguagem foucaultiana, são permeadas por racionalidades específicas. O saber técnico opera com base nas mensurações, cálculos e estimativas que são efetivados dentro de “estudos preliminares”, compreendidos como um requisito para viabilizar a implementação da obra. Instrumentos como “mapeamentos” e “cadastramentos” visam à transformação dos territórios em “áreas de intervenção” e à classificação das comunidades como “populações atingidas”. No caso de momentos críticos que são enquadrados como “tragédias ambientais”, podemos entender que a medição da área de risco, por exemplo, pode ser configurada como uma estratégia que consolida o saber técnico inerente à figura de expert – aquele que calcula –, o que contribui para comprovar a legitimidade do discurso empresarial e estatal.
Nos casos a serem analisados, deparamos com os impactos dos processos indenizatórios sobre os grupos atingidos, o que engloba uma análise aguçada das reações das mulheres perante as medidas adotadas nas áreas de intervenção, incluindo suas formas de contestação. Partimos de uma conceituação da “indenização” como uma reparação que assume um valor monetário, no intuito de que os bens ou infraestruturas destruídas, ou ainda a situação social prejudicada, sejam repostas ou reconstituídas. Grosso modo, o processo indenizatório é regido pela contabilização de processos e bens. Assim, na etapa posterior ao surgimento de crise, quando as repercussões se tornam tangíveis, os(as) “técnicos(as)” dos órgãos que efetivam as intervenções se empenham em um esforço voltado para a conversão das perdas em medidas compensatórias a partir de “cálculos” e “estimativas”, o que inegavelmente suscita pontos de tensionamento com os grupos atingidos.
É importante pontuar a primazia atribuída ao viés tecnicista de um conjunto de documentos (inquéritos, cadastros, planilhas) que integram os chamados “programas” de “amparo social”, voltados para aliviar os efeitos destes acontecimentos – desde a implantação de um megaprojeto até uma crise enquadrada como sendo “da natureza” – dentro de uma lógica compensatória. Segundo Brown (2006), esta modalidade do poder – que se operacionaliza por meio do preenchimento de inquéritos e planilhas – está fundada no culto de expertise, a partir de uma aposta no plano técnico como um valor supremo no contexto de intervenções no campo de cunho social e ambiental, o que reforça a hierarquização inerente às estruturas organizacionais do Estado e do mundo empresarial (BROWN, 2006).
Os processos indenizatórios, na maior parte dos casos, têm sido conduzidos de forma que o registro de danos se enquadre em uma fórmula padronizada e objetivada que, de acordo com Laschefski (2020), representa uma perspectiva empresarial “urbana e/ou agroindustrial”, que desconsidera “as dimensões específicas dos agricultores familiares, camponeses, pescadores artesanais, grupos tradicionais e étnicos” (LASCHEFSKI, 2020, p. 120). De acordo com este autor:
Essa lacuna limita o instrumento à aferição de dados majoritariamente patrimoniais e censitários, subsumidos em uma lógica que é estranha ao modo de vida da maioria da população. Assim, os instrumentos para o levantamento dos danos não englobam as redes de relações sociais territorializadas (trabalho, parentesco, vizinhança e apoio), formas de significação e uso do espaço e dos recursos, valores culturais, entre outros. (p. 121)
A afirmação de Laschefski (2020) ganha maior potência quando se aplica também à realidade diferenciada das mulheres agricultoras e extrativistas nos territórios impactados. Na seção seguinte, a intenção foi explorar as limitações inerentes à visão endossada pelos agentes do mundo empresarial e estatal na construção de instrumentos que não consideram as formas difusas e capilares de construir relações com a gestão dos territórios por parte das mulheres que pertencem a distintas comunidades (vazanteiras, ribeirinhas, periurbanas e assim por diante) e as estratégias que elas desenham para contrapor a lógica hegemônica que predomina nestas medidas e instrumentos.
Os espaços de interlocução com o setor empresarial e/ou com outras autoridades políticas têm sido relatados pelos grupos atingidos em diversos contextos como momentos assentados em dinâmicas de poder que se expressam de forma assimétrica, reforçando a automatização dos sujeitos como indivíduos (FOUCAULT, 1979), uma vez que, de acordo com Vainer (2008), a abordagem dos grandes projetos de desenvolvimento tem sido historicamente norteada pela estratégia “territorial-patrimonialista”, quase sempre “indenizatória”. Dentro desta abordagem vertical, constata-se uma tática de tratamento “caso a caso” (proprietário por proprietário) por parte do setor empresarial, o que, para Vainer e Araújo (1990), tem constituído sistematicamente uma forma de repelir a validade de processos coletivos de negociação na maior parte dos casos que tratam de deslocamento compulsório. Dentro desta lógica, a população é tomada “como um obstáculo a ser removido, de modo a viabilizar o empreendimento” (VAINER, 2008, p. 41), por meio da negociação dos valores da desapropriação. O autor afirma que o tratamento focado no indivíduo/unidade familiar representa “uma prática constante do setor elétrico, na esperança de que a recusa em se sentar à mesa de negociações acabe por inviabilizar a legitimação da representação e, em consequência, deixe o campo aberto aos acordos individuais” (VAINER; ARAÚJO, p. 23, 1990).
No caso da implantação da obra hidrelétrica no contexto de Tucuruí, Pará, com base nesta perspectiva “territorial-patrimonialista” (VAINER; ARAÚJO, 1990), observamos de que modo a empresa Eletronorte restringiu seu olhar para um determinado segmento – “os proprietários atingidos pela água” – e se propôs apenas a negociar com “indivíduos proprietários”, o que implicava a negação de uma gama de outras “identidades” que se enquadram na categoria de “atingidos”: posseiros, vazanteiros, assalariados, agregados, parceiros e arrendatários. No caso das comunidades morro dos Prazeres e do Escondidinho, na cidade do Rio de Janeiro, também nota-se a abordagem dos(as) moradores(as) de modo individualista, restringindo seu olhar sobre a “casa” – como estrutura habitacional –, o que excluía deste jogo de negociação as formas de se relacionar com outros espaços (ex.: quintal) e os processos de territorialização vivenciados pelas mulheres a partir de suas práticas agroextrativistas.
Nos dois casos analisados, este viés individualista, inerente às estratégias de intervenção, focado nos atingidos como se todos(as) fossem donos de pequenas propriedades ou de habitações, fomentou a divisão entre os sujeitos afetados, um efeito que inegavelmente recai de forma diferenciada sobre as mulheres, seus corpos e seus territórios, como veremos a seguir.
Distintas situações etnográficas: ressignificação de práticas e instrumentos que contrapõem a lógica indenizatória
As reações das mulheres que foram afetadas pelas estratégias de intervenção das forças empresariais e estatais no âmbito territorial assumem diferentes roupagens de acordo com cada situação, o que revela sua capacidade para ressignificar práticas e instrumentos que são implementadas a partir de um modus operandi empresarial e estatal, no processo de conversão de perdas em medidas compensatórias. Para entender melhor as diferenciações entre as reações das mulheres atingidas, se torna importante situar os(as) leitores(as) em relação aos processos indenizatórios em cada um dos contextos analisados: a Região Amazônica (Tucuruí, Pará) e a região metropolitana do Rio de Janeiro (morro dos Prazeres e do Escondidinho). A primeira situação etnográfica a ser retratada diz respeito a uma tragédia que foi deflagrada nas comunidades dos morro dos Prazeres e do Escondidinho no Rio de Janeiro, na terça-feira, 6 de abril de 2010, quando chuvas intensas provocaram o desabamento de 15 casas e a morte de 21 pessoas. Considerando o evento em nível microscópico, revela-se a vulnerabilidade dos que constroem suas casas em condições precárias nas periferias das grandes cidades. Subjacente a todos os planos de intervenção, havia um tom de culpabilização dos pobres por terem efetivado a ocupação ilegal do solo, um discurso oficial que teve início durante a administração de Pereira Passos, no início do século XX, e se enraizou nos anos 1940, ao longo do governo Vargas. Algumas lideranças comunitárias, como Eliza, presidenta da Associação do morro dos Prazeres, apontavam o caráter político do acontecimento, a partir da afirmação do que foi uma “tragédia anunciada”. Em uma das entrevistas que realizada com Elisa, uma mulher negra de 35 anos, que desde 16 anos de idade se engaja ativamente nos processos organizativos, ela aponta a falta de compromisso com a finalização das obras já iniciadas, como foi o caso do Programa Favela-Bairro. De acordo com Eliza, este Programa “parou pela metade”, impedindo a priorização de projetos emergenciais como a contenção de encostas, o que poderia ter prevenido a contingência de situações desastrosas.
No contexto da “tragédia das chuvas” – nomeada assim pelos próprios moradores destas comunidades –, o discurso remocionista ganhou força com os deslizamentos ocorridos em diversas favelas no Rio de Janeiro, nos seus arredores e no interior do estado, por ocasião das fortes chuvas em 2010. Na etapa “pós-tragédia”, o primeiro passo da intervenção por parte de técnicos(as) de órgãos públicos, envolveu a delimitação de uma “área de risco.” As famílias entrevistadas contaram que logo depois da tragédia, um raio de 60 m foi traçado em torno do lugar de deslizamento que foi atingido pelas chuvas, o que passou a representar simbolicamente “uma chaga”, “uma ferida aberta” – termos utilizados pelos(as) entrevistados(as). Segundo Eliza, o ato de interdição foi conduzido de forma arbitrária. Ela defendia a demolição apenas das casas próximas aos deslizamentos e denunciava a tendência por parte da Defensoria Pública e Defesa Civil de fazer uma leitura superficial da situação de todas as moradias, como se todas estivessem ocupando lugares de risco. Em seguida, percebemos de que modo as pessoas “atingidas” foram rapidamente transformadas em atores sociais deslocados e desarraigados – objetos de um amplo leque de medidas dentro de uma política orientada pela contingência da “remoção”, desde indenizações até o pagamento de “aluguel social.”[19] A maior parte das entrevistadas cujas residências eram localizadas dentro de um espaço considerado uma “área de risco” recebeu visitas por parte dos técnicos destes órgãos públicos para negociação das medidas indenizatórias, o que gerou diversos tipos de conflitos, como será retratado a seguir.
A segunda situação etnográfica em foco se refere ao processo de implantação da obra hidrelétrica durante o período de 1978 a 1990 em Tucuruí, Pará, que afetava tanto a população ao redor do lago quanto as famílias na região jusante embaixo da barragem, que formalmente não eram vistas como sendo parte da área de intervenção da Eletronorte. Os grupos de atingidos – constituídos por uma diversidade de comunidades tradicionais: ribeirinhas, vazanteiras, pescadoras, indígenas e assim por diante – vivenciaram diversas etapas de mobilização social a partir do seu mergulho em processos contenciosos de negociação perante a empresa Eletronorte e seus aliados. No período de 1978 a 1985, os Movimentos de Atingidos se mobilizaram de forma veemente, se apoiando em uma crítica contundente da condução dos processos indenizatórios e das proposições dos agentes do setor elétrico para efetivar o reassentamento destes grupos sociais para outras áreas. A primeira bandeira de luta disseminada amplamente pelos movimentos embrionários evocava a noção de “indenização justa” pelas terras e benfeitorias por meio da introdução das seguintes palavras de ordem: “Terra por Terra”, “Casa por Casa, Vila por Vila” nos diversos documentos produzidos e disseminados. Estas palavras de ordem eram articuladas a partir da concepção de que deveria existir uma equiparação nas situações que demandavam algum tipo de compensação, como é perceptível em um dos primeiros abaixo-assinados direcionados às autoridades municipais, estaduais e federais por parte de moradores de Tauri e Ipuxina, localizados no baixo Tocantins e pertencentes ao município de Itupiranga, Pará, em 1979.
Os empecilhos nos processos de negociação estavam relacionados aos significados atribuídos a cada uma das “palavras de ordem” que compunham a agenda política dos grupos de atingidos, as quais se diferenciavam drasticamente dos enquadramentos conceituais trazidos pelo setor elétrico. Seguindo a linha de pensamento posta por Fraser (2000), é possível ver de que maneira a palavra “justiça”[20] foi ressemantizada nas mobilizações protagonizadas pelos atingidos, dentro de um horizonte que visualizava o acesso à terra como um condicionante, atrelado a determinados critérios (como a proximidade ao lago), no intuito de garantir a eles reprodução social como produtores rurais.
Nos dois cenários trazidos para nossa reflexão, corroboramos de que modo as mulheres demonstram diferentes formas de construir novos significados para determinados objetivos e bens no decorrer dos processos indenizatórios, o que, de algum modo, envolve a subversão dos princípios que são inerentes aos procedimentos técnicos que operacionalizam a lógica gerencial e administrativa das empresas e dos órgãos governamentais nos territórios atingidos. Assim, uma gramática de resistência que vai sendo costurada não se caracteriza por enfrentamentos diretos perante condições repressivas, mas assume novas configurações. São estratégias que ganham inteligibilidade por meio de formas difusas e pulverizadas de contrapor os elementos que predominam as práticas do mundo empresarial e estatal nestes contextos. Refletem modos de atuação que problematizam a capacidade de mensurar “o imensurável” a partir da lógica subjacente aos processos indenizatórios.
Dona Ana: um modo de resistir dentro de uma ‘área de risco’ no espaço periférico urbano
A primeira situação etnográfica a ser retratada nesta análise focaliza a trajetória da Dona Ana, uma mulher que se identificava como “filha de índios”, e falava, em diversas ocasiões, de suas “andanças” intermináveis, até chegar no seu lugar de destino – morro dos Prazeres – há 35 anos. Originária de Águas Claras, distrito próximo a Carangola, Minas Gerais, sua casa foi classificada como sendo um bem localizado em uma “área de risco” logo depois da crise que se deflagrou no dia 6 de abril de 2010. Na etapa “pós-tragédia”, quando houve uma intervenção por parte de técnicos(as) de órgãos públicos, foi possível testemunhar o medo vivenciado pelos(as) moradores(as), muitos dos quais provenientes da área rural de Minas Gerais nos anos 1970,[21] perante a ameaça representada pelo Estado, que acenava com uma possível remoção, em função da precariedade das moradias em uma área que passou a ser rotulada como “área de risco”. Após o acontecido, os(as) moradores passaram a se ver pelas lentes do Estado; ou seja, a partir de uma leitura tecnicista que os reduzia a uma “população de risco” e classificava a tragédia como um acontecimento que foi ocasionado apenas por fatores ambientais. O que observamos é que tal evento desencadeou uma nova relação com o lugar de moradia – no âmbito privado – e também com o Estado – que, na esfera pública, passa a regulamentar e controlar as condições da ocupação territorial, como veremos a seguir.
Para as pessoas que vieram de Minas Gerais, que representam uma grande parcela dos(as) habitantes destas comunidades, a ameaça da remoção e a possibilidade de ter que se deslocar mais uma vez – seja para um apartamento alugado com o recurso recebido, seja para o antigo presídio da Frei Caneca –, geraram frustrações por causa dessa perda irreparável que é “a casa” construída e seus arredores. Segundo o autor Klauss Woortman (1981), a casa é fundamental “não apenas de um ponto de vista material, óbvio, mas igualmente por constituir uma categoria central de um domínio cultural e um mapa simbólico de representações ideológicas” (WOORTMAN, 1981, p. 119), uma lógica que também se estende para o espaço do quintal, em função dos significados materiais, simbólicos e imateriais associados a ele. Outra mulher “atingida” por este acontecimento, Dona Vitalina, uma mulher branca que também é oriunda de Carangola, expressa o sacrifício que envolveu a construção das casas: “não tem preço”. Portanto, não é negociável em termos financeiros: “vai espremendo todo o dinheiro para investir em construção. Constrói com sacrifício danado – e aí, acontece uma coisa dessas e querem te retirar. E a verdade é que nunca dão o valor que você realmente gastou”. Percebemos que o valor simbólico da casa na territorialidade urbana é derivado do processo de sua construção, o que envolve uma série de negociações, reestruturações do espaço, recursos e estratégias, como Marcelin (1996) aponta em sua tese sobre famílias negras na Bahia, ao explicitar os vários fatores que influenciam a construção de uma casa, como operação coletiva.
A sensação expressa por muitos(as) moradores(as) é a de que estão sendo sujeitados a um processo de negociação estabelecido a partir de parâmetros assimétricos, em função de uma lógica que reduz e contabiliza um bem simbólico coletivo – a casa e o quintal –, que é carregado de valores e emoções não mensuráveis.
Para pessoas que, na maior parte dos casos, residiam anteriormente nas casas cedidas pelos fazendeiros, a vigência da relação de moradia – por assim dizer, sentir “dono” de uma casa e seus arredores – apenas ocorreu no contexto da área urbana. Mesmo que este direito não esteja formalizado pelas vias legais e por meio de medidas formalizadas e documentadas, há uma sensação de enraizamento que se consolida a partir da casa construída e seus arredores – em alguns casos, encarnado pelo quintal,[22] como extensão do espaço doméstico. Também é importante considerar que, para as camadas populares, a casa e suas extensões – principalmente o quintal –, constituem elementos emblemáticos de uma rede afetivo-espacial e refletem nitidamente um modelo representativo de organização das relações familiares, como demonstram Duarte e Gomes (2008) em seu estudo etnográfico sobre histórias familiares. Nas comunidades dos Prazeres e do Escondidinho, como em outras comunidades urbanas, periurbanas e rurais, a construção desta rede afetivo-espacial que alimenta a sociabilidade e que vai se configurando em torno do espaço do quintal é protagonizada pelas mulheres, que também, de modo geral, se responsabilizam no âmbito familiar pelos cuidados em relação às diversas zonas de manejo, onde elas tendem a conjugar a criação de pequenos animais com a plantação de verduras, legumes, frutas, plantas medicinais e flores ornamentais (PACHECO, 1997).
Chamamos a atenção aqui para as formas pelas quais o espaço do quintal também proporciona o que Sabourin (2008) identifica como o princípio da “reciprocidade generalizada” que, de acordo com as premissas trazidas por Mauss (1974), pode ser compreendida como a “rocha” ou “matriz” das relações sociais, que se exprime na tendência a viver a tripla obrigação: “dar, receber e retribuir” (SABOURIN, 2008). No contexto destas comunidades, cabe salientar que este fluxo de doações e trocas de mudas, sementes e alimentos constituem estratégias protagonizadas na maior parte dos casos por mulheres que visam garantir a diversificação de espécies. Muitas mulheres que foram entrevistadas testemunharam que “um quintal diversificado” – ou seja, repleto de uma variedade de alimentos – geralmente foi construído não apenas por uma ou duas pessoas, mas “a muitas mãos”, a partir de doações e trocas com seus vizinhos, o que foi fundamental para a consolidação dos vínculos afetivos no âmbito territorial. É interessante notar que, desta ampla variedade de plantas alimentícias e medicinais, muitas foram trazidas de Minas Gerais, durante as viagens de volta para o lugar de origem, representando, assim, uma forma de estreitar os vínculos entre os espaços urbano e rural.
À luz de algumas vertentes da Economia Feminista, podemos afirmar que estas transações “não econômicas” – de doação e troca de mudas, sementes e plantas – que se evidenciam de forma expressiva nos processos de interação social que as mulheres têm nutrido na vida cotidiana, constituem expressões de “cuidado” com os espaços, as pessoas e as relações que de algum modo são voltadas para a “produção do viver”, embora não sejam compreendidas como “formas de trabalho” dentro da visão econômica neoclássica (CARRASCO, 2006). Um dos esforços dentro dos estudos feministas é justamente trazer um novo olhar para estas práticas que têm sido invisibilizadas a partir de uma nova nomeação – “o trabalho de cuidados” –, o que envolve uma ruptura com a visão dicotômica dos dois polos – “trabalho” x “não trabalho” –, que faz parte da operacionalização da ideologia da divisão sexual de trabalho como princípio organizador das relações sociais no interior das famílias das comunidades urbanas e rurais.
No caso da Dona Ana, que se enquadra na categoria classificatória de “atingidos(as)”, a partir dos processos indenizatórios que sucedem no estágio “pós-tragédia”, é evidente que, como Halbwachs (2006) afirma, a memória coletiva está sedimentada em um contexto espacial. Quando ocorre uma modificação nesse arranjo material, isto é, a transformação espacial de um bairro ou cidade ou a demolição de uma casa. os hábitos são perturbados e é como sentir que “uma parte sua morreu” (HALBWACHS, 2006, p. 164). Assim, quando houve a nomeação da área onde está localizada sua morada como “área de risco” e houve a ameaça de uma mudança iminente no arranjo material – a casa a ser interditada e a perda da casa e do quintal –, Dona Ana relata que foi tomada por sentimentos intensos de dor aguda e tristeza.
Diante das “opções”[23] oferecidas pelas autoridades estatais durante suas visitas à “área de risco”, Dona Ana mostrou sinais de resistência à aceitação das regras do jogo, expressando seu apego à localidade, que não apenas se limitava às fronteiras da casa, como estrutura física, mas também englobava os arredores – o quintal e as plantações contidas nele. Seu filho José relatou que a dificuldade que sua mãe tinha, de desapegar da casa e aceitar a recompensa oferecida pelo Poder Público, está extremamente ligada aos seus anos de dedicação à horta, pois “cada planta aí tem uma história para contar”. Nas palavras dele:
Ela gosta de espaço... ela vai ali...vai aqui. Gosta muito de ter sua horta. Eu trabalho o dia inteiro – aí tem como esquecer mais rápido. Mas, ela fica em casa. Aí complica. Ela ama suas plantas. Sempre está doando o que tem ali para os vizinhos. Todo mundo tem costume de visitar seu quintal para pedir alguma mudinha. Não consegue nem pensar em largar todas aqui.
Este gesto de apego ao espaço que Dona Ana ajudou a criar e enriquecer com plantas oriundas de múltiplos lugares pode ser lido como um processo de enraizamento territorial que resiste aos modos inestáveis de composição das territorialidades. Se enquadra nas “formas cotidianas de resistência” às quais Scott (1985)[24] se refere, que são ativadas a partir de situações que ameaçam maneiras de existir e criar territorialidades.
O que observamos neste caso é que estas expressões de resistência se tornaram mais acentuadas na medida em que as pressões alheias se intensificaram a partir da maior frequência das visitas de autoridades dos órgãos públicos. Dona Ana não concordava com a posição expressa pelos técnicos do “Poder Público” e negava a possibilidade de ser retirada, até o último instante do prazo estipulado pelas autoridades. Ela também se posicionava contra as medidas impostas pelas autoridades estatais – indenização ou aluguel social –, ambas vistas como paliativos para a crise instalada. Sua posição era que não se conformaria com nenhum tipo de negociação, uma vez que não estava de acordo com a lógica subjacente às medidas de indenização. O ápice deste processo de resistência foi contado por seu filho, José, quando ela ficou “plantada” em frente da casa sem embalar as coisas para a mudança, mesmo ante os avisos da iminência da remoção.
Cabe salientar que esta iniciativa – de resistência, até o último momento, ao processo indenizatório pautado nos termos determinados pelas autoridades políticas –, foi articulada de forma individualizada, embora Dona Ana tivesse uma relação estreita com seus vizinhos, por meio das doações e trocas de sementes e mudas. Durante nossas incursões pelo campo, observamos a construção de uma rede de relações no âmbito territorial a partir de um circuito intenso de trocas dentro de um sistema fluído de reciprocidade, pois, como disse uma de nossas interlocutoras, Dona Rosa, “as pessoas pedem porque também plantam” e têm, portanto, condições de retribuir. É importante sublinhar que estes gestos de dar e receber, que marcam as relações entre a vizinhança e que têm como vetor dessa mediação as plantas, mudas e sementes, foram costurados a partir do protagonismo das mulheres que habitam esta localidade, muitas das quais vieram da área rural e fizeram parte de um fluxo migratório incessante desde os anos 1950. Assim, observamos de que modo essa dimensão da “dádiva” aparece de maneira intensa, como um elo entre um segmento de mulheres agricultoras e extrativistas que, paulatinamente, vai costurando formas de “cuidado coletivo” que sedimentam suas sensações de pertencimento aos territórios pelos quais circulam dentro da área urbana. Durante o surgimento de estratégias de resistência perante as medidas de deslocamento compulsório e indenizações este “circuito de trocas” entre vizinhos(as) serviu como base para o amadurecimento de ideias ou proposições; porém, não se consolidou como um espaço de construção de estratégias organizativas de forma coordenada entre todos os atores sociais envolvidos.
A assessora Aida Maria Farias da Silva e as agricultoras e extrativistas na região de Tucuruí, Pará: formas de mensuração dos danos ocasionados pela Usina Hidrelétrica (UHE)
A segunda situação mostra outro modo de “resistir” que surge dentro do processo de negociação dos valores de “bens” depois da implantação da obra da hidrelétrica em Tucuruí, Pará, no final dos anos 1980. As formas de resistência se manifestam aqui pela via da problematização da lógica subjacente aos instrumentos criados e implementados pelo setor elétrico para garantir a calculabilidade dos danos ocasionados. Percebe-se que algumas mulheres que lideravam os grupos de Atingidos na região – uma junção de pessoas de diversas origens: comunidades indígenas, ribeirinhas, vazanteiras e assim por diante –, desempenhavam um papel de protagonistas na articulação de um plataforma de reivindicações ao longo das diferentes fases do seu ciclo de implementação. A partir da análise dos documentos que produziram durante esta época, um tom de reivindicação em torno da condução dos processos indenizatórios por parte da empresa Eletronorte se torna perceptível: os grupos atingidos refutavam a mercantilização dos processos sociais mediante procedimentos que procuravam encontrar equivalentes monetários para experiências subjetivas, materializadas nos objetos e nas coisas. Esta postura de revolta se revela na linguagem dos documentos (cartas, boletins) produzidos na época pelos grupos de atingidos e seus assessores(as), alguns dos quais eram endereçados para as autoridades do setor elétrico, enquanto outros eram utilizados com a finalidade de agregar aliados e intensificar o grau de mobilização em torno das bandeiras “de luta” que eram lançadas no cenário político. De acordo com Aida Maria Farias da Silva, ex-técnica da Comissão Pastoral da Terra – CPT, que prestou assessoria ao longo dos anos 1980, as mulheres atingidas que pertencem aos grupos sociais afetados nos territórios foram as forças motoras de uma crítica contundente sobre uma das lacunas nos inventários aplicados para mensurar os danos e calcular os custos dentro de uma política voltada para os processos indenizatórios. A lacuna identificada reside em uma postura de descaso em relação aos indícios de agrobiodiversidade que se encontravam nos espaços de produção agrícola e extrativismo dentro das propriedades e assentamentos rurais das famílias das comunidades atingidas – fatores que dificilmente são calculáveis, mas que constituem modos de vida que, de acordo com seus posicionamentos, deveriam ser considerados. Ao chamar a atenção para a amplitude das áreas utilizadas como fontes de “bens comuns” dentro dos territórios atingidos, as mulheres lideranças e assessoras (como Aida Maria Farias da Silva), que se envolvem nos processos de mobilização social, trouxeram para a agenda política uma questão que é negligenciada pelo universo empresarial nos processos indenizatórios: os múltiplos usos do território e as relações costuradas pelos grupos locais com os recursos naturais.
Em uma entrevista concedida em 7 de agosto de 2017, Aida Maria Farias da Silva revela que, durante suas visitas e em reuniões coordenadas pela CPT e outras organizações sociais que atuavam na região, as mulheres agricultoras e extrativistas das comunidades atingidas expressavam a seguinte opinião: que a empresa Eletronorte e “os técnicos de Brasília” eram incapazes de enxergar outras “economias menores” que fazem parte do que chamavam das “pequenas lutas”. Estas “economias menores” abarcam as árvores frutíferas e plantas que estejam no quintal e cujo uso é fundamental na promoção da saúde e de segurança alimentar e nutricional a partir da postura de “cuidado” que as mulheres manifestam com os(as) outros(as), especialmente aqueles(as) que são mais desamparados(as) dentro do âmbito familiar e comunitário, como as crianças. De acordo com ela:
As mulheres com quem conversava durante minhas idas para as comunidades sempre mostravam o que ninguém estava vendo. Quando elas olhavam para aquelas tabelas e planilhas que os técnicos de Eletronorte usavam para calcular os custos para as indenizações, elas falavam que o que fazem uma diferença na vida são as economias invisíveis que Brasília não enxergava, não conseguia. Tem a ver com o que acontece quando uma família economiza pelo que ela usa de quintal. As mulheres mostravam para mim o que tinha no seu quintal e diziam: “aqui tem uma bananeira, tem uma laranjeira, tem um canteiro de verdura e também aqui se cria galinha”. E aí, pensava… e você vai colocar ele numa outra terra que não tem nada daquilo. (Entrevista realizada em 17 de agosto de 2017, Brasília/DF)
Outro elemento que Aida da Silva aponta dentro desta reflexão sobre o que deveria ser incorporado na lógica subjacente ao processo indenizatório é o tempo de gestão das árvores para que frutifiquem, uma vez que tudo que se plantou no quintal foi fruto de um esforço empreendido principalmente por parte das mulheres que se envolvem diretamente nestes processos produtivos dentro dos pomares, hortas e quintais. De acordo com ela: “Hoje quando você tira um ou um(a) trabalhador(a) de uma terra que já tem árvores dando fruto, você tem que indenizar o tempo que ele ou ela vai levar para plantar até a árvore chegar nessa condição” (Entrevista concedida em 17 de agosto de 2017, Brasília/DF).
Para Aida, foram as mulheres agricultoras e extrativistas que conseguiram alertar para estas “economias invisíveis” que não eram incorporadas na lógica indenizatória. Sua capacidade perceptiva sobre os fatores que entremeiam as relações costuradas com a terra e com a propriedade, com base em uma compreensão mais ampliada das diversas inserções dos segmentos atingidos no seu ambiente circundante, era fruto de suas vivências na gestão moral dos espaços e dos processos no âmbito territorial (Entrevista concedida em 17 de agosto de 2017, Brasília/DF). Ao mesmo tempo, elas trazem novos significados para o conceito de “recursos naturais”, que são enquadrados, segundo a visão adotada pelo setor empresarial, como “insumos” ou “bens” a serem apropriados para usos particulares dentro de um regime “proprietário”. No entendimento das mulheres atingidas na região de Tucuruí, Pará, a concepção mais adequada para descrever esta correlação com os elementos primordiais de sua gestão territorial seria “bens comuns”, como um eixo orientador de práticas coletivas que articulam modos de vida. Esta perspectiva, apresentada por elas, foge de um olhar puramente econômico, que apenas se refere à relação entre os usuários e os bens. O foco principal se torna as dimensões dos valores compartilhados e a dimensão simbólica desses bens, que são ressignificados dentro da teia de relações sociais.
O modo de resistência que se torna perceptível neste contexto se refere ao processo de dar visibilidade para “os valores” atribuídos aos atos que fogem da lógica econômica padronizada. Testemunhamos aqui os percursos trilhados dentro de um processo inusitado de mensurar o plano “imensurável” da vida social. Estas opiniões foram gradualmente incorporadas na plataforma das reivindicações dos grupos de atingidos, se convertendo em propostas para reformulação dos instrumentos empregados para que pudessem efetivar medições visando à inclusão destes bens e processos que interferem, de forma indireta, na vida econômica dos sujeitos. O desafio inerente a este processo de contestação é não cair no risco de reducionismo, uma vez que os processos sociais constituintes daquilo que se define como “economias menores” dificilmente seriam abarcados dentro de uma lógica estritamente economicista. Cabe ressaltar que estes questionamentos foram articulados de forma coletiva por parte de uma variedade de “grupos de atingidos” que, ao longo dos anos 1980, foram se tornando um grupo mais coeso e unificado, que se autoidentificava como Cahtu – Comissão dos Atingidos pela Barragem e costurou uma relação estreita com o Movimento dos Atingidos por Barragens – MAB. A partir dos subsídios que deram suporte para a análise efetivada – gravações de entrevistas, boletins e atas produzidos –, torna-se evidente que as mulheres que participavam destes processos contínuos de mobilização auxiliaram, de forma direta, na formulação de reivindicações que ampliavam as concepções ortodoxas de território, quintal e recursos naturais, revelando as várias maneiras de se relacionar com o que era enquadrado como “economias menores” dentro da política indenizatória em vigência.
Conclusões
Ao longo deste artigo, houve a tentativa de entender as lógicas que são subjacentes às intervenções do setor empresarial, a partir de uma aposta em instrumentos que transmitem “racionalidades” embasadas em uma noção pura e cristalizada de “ciência” e que, ao mesmo tempo, negligenciam o peso das redes de relações sociais territorializadas e dos usos diferenciados de espaços e recursos. Além disso, os/as leitores/as foram convidados/as a fazer um pequeno mergulho em algumas experiências etnográficas que revelam de que modo as mulheres de diferentes comunidades – vazanteiras, ribeirinhas e periurbanas – se engajam na invenção de estratégias que confrontam a lógica hegemônica que sustenta estas medidas e instrumentos. São estratégias que costuram para dentro dos coletivos com os quais elas articulam, seja um grupo social que se identifica como “atingidos”, seja um “circuito” de vizinhança que nutre práticas de reciprocidade ao nível local. Assim, o foco de nossas atenções são as dinâmicas coletivas desencadeadas a partir das posições sociais ocupadas por mulheres que são, no fundo, plurais e múltiplas, uma vez que tecem conexões entre diversos aspectos que atravessam suas identidades: gênero, classe, raça, etnia e geração.
São as ressonâncias dos feminismos comunitários, territoriais e decoloniais, centrados na circulação e defesa da vida, dos corpos, dos territórios e das forças da natureza perante as ameaças que permeavam atravessam os tecidos socioculturais que encontram seu eco nas narrativas das mulheres que lideram processos de resistência nas comunidades de Tucuruí, Pará, e dos Prazeres e do Escondidinho do Rio de Janeiro. Testemunhamos deslocamentos nas óticas adotadas pelas “grandes lutas” que norteiam os esquemas referenciais da maior parte dos movimentos sociais a partir de uma virada ecoterritorial dentro das abordagens feministas. Assim, nos pequenos gestos das mulheres agricultoras e extrativistas – negras e indígenas – que resistem às pressões de um modo neoextrativista e capitalista de gerir relações e bens, enxergamos uma postura política epistêmica que vislumbra novos percursos de ação política.
As tensões vivenciadas durante os processos de deslocamento compulsório e as negociações acerca das indenizações no âmbito territorial se devem às dificuldades de efetivar uma “tradução” de bens carregados de significados em valores monetários. Da mesma forma que este “sacrifício danado” com que se constrói uma casa no contexto das comunidades periféricas na cidade do Rio de Janeiro envolve inúmeros recursos econômicos e humanos, as “economias menores” que são provenientes dos quintais ou das áreas coletivas de agroextrativismo na região de Tucuruí, Pará, constituem os frutos das redes de sociabilidade que sustentam os bens comuns. Nestes dois contextos, testemunhamos um processo dinâmico de costura de espaços e relações que não são facilmente “calculáveis.”
Dentro de uma micropolítica composta por pequenos atos de resistência, as mulheres atingidas pelos impactos das intervenções no âmbito territorial sinalizam as limitações da lógica calculista e monetária que servem como força motora dos processos indenizatórios dentro de uma política voltada para aliviar os danos e compensar as perdas.
Contrapor o modus operandi do mundo empresarial e estatal envolve, como um primeiro passo, o esforço coletivo de dar visibilidade para as deficiências e lacunas. Desse modo, as mulheres atingidas apontam para a “cegueira” exercida pela “Eletronorte e os técnicos de Brasília”, quando não se mostram capazes de enxergar outras “economias menores” que fazem parte do que chamam de “pequenas lutas”. É importante salientar que a problematização expressa pelas mulheres atingidas nos seus posicionamentos passa por uma crítica dos procedimentos técnicos unilaterais e restritos que são acoplados aos documentos – “cadastros” e “tabelas” –, a partir de cujo uso as pessoas afetadas pela obra são rotuladas, quantificadas e mensuradas dentro de um campo de regulação política.
Observamos um amplo leque de estratégias que as mulheres sujeitadas às intervenções dos agentes empresariais estatais desenham para contrapor as medidas e instrumentos que são instrumentalizados dentro de um processo de controle e regulação dos territórios atingidos. Porém, o que é importante pontuar é que as mulheres atingidas não apenas protestam a respeito dos termos que regem os mecanismos regulatórios, mas buscam construir um modo alternativo de resistência, de acordo com Stengers e Pignarre (2011), que poderia ser enquadrado como novas formas de existir diante das pressões de expropriação territorial. Envolve a renovação de práticas ligadas a outras lógicas operantes – de troca, reciprocidade e construção coletiva – como princípios fundantes de um modo de vida que vai na contramão das lógicas predominantes do capital. São práticas capazes de criar e gerir relações entre pessoas, e entre estas e a terra, as plantas e as águas, que constituem uma espécie de “contrafeitiçaria” – ou práticas de désenvoûtement, como se referem Stengers e Pignarre (2011). São práticas que dão vazão para a expressão de identidades coletivas que se assentam no “aqui e agora”, se enraizando nos solos dos territórios, como o “lugar” que permite a construção de uma nova gramática das relações e bens comunais.
Referências
ABRAMS, Philip. Notes on the difficulty of studying the state. In: SHARMA, Aradhana; GUPTA, Akhil (Eds.). The anthropology of the state: a reader. Oxford: Blackwell Publishing, 2006. p. 112-130.
ABU-LUGHOD, Lila. Veiled sentiments: honour and poetry in a Bedouin society. Berkeley: University of California Press, 1986.
IPPUR/UFRJ – Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Entrevista com Aida Maria Farias da Silva concedida em 17 ago. 2017. Brasília: Ippur, 2017.
ACSELRAD, Henri. Vulnerabilidade ambiental, processos e relações. In: ENCONTRO NACIONAL DE PRODUTORES E USUÁRIOS DE INFORMAÇÕES SOCIAIS, ECONÔMICAS E TERRITORIAIS, 2., 2006, Rio de Janeiro. Anais... Rio de Janeiro: FIBGE, 2006.
ANZALDÚA, Gloria. La Frontera: The New Mestiza. São Francisco: Aunt Lute Books, 1987.
AUGÉ, Marc. Le temps en ruines. Paris: Galilée, 2003.
AUGÉ, Marc. Não lugares: introdução a uma antropologia da sobremodernidade. 1. ed. Lisboa: 90 Graus, 1992.
BROWN, Wendy. Finding the man in the State. In: SHARMA, Aradhana; GUPTA, Akhil (Eds.). The anthropology of the state: a reader. Oxford: Blackwell Publishing, 2006. p. 187-210.
BULLARD, Robert D. Unequal protection: environmental justices and communities of color. São Francisco: Sierra Club Books, 1996.
BUTLER, Judith. Fundamentos contingentes: o feminismo e a questão do pós-modernismo. Cadernos Pagu, Campinas, n. 11, 1998.
BUTLER, Judith. Problemas de gênero: feminismo e subversão da identidade. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003.
CABNAL, Lorena. Acercamiento a la construcción de la propuesta de pensamiento epistémico de las mujeres indígenas feministas comunitarias de Abya Yal. In: ACSUR. Feminismos diversos: el feminismo comunitario. Guatemala: Acsur, 2010.
CARRASCO, Cristina. La economia feminista: una apuesta por otra economia. In: VARA, María Jesús. Escritos sobre género y economía. Madri: Akal, 2006.
CARRASCO, Cristina. A economia feminista: um panorama sobre o conceito de reprodução. Temáticas, Campinas, v. 26, n. 52, p. 31-68, 2018.
CASTRO, Eduardo Viveiros; Lúcia Mendonça Morato de. Hidrelétricas do Xingu: o Estado contra as sociedades indígenas. In: SANTOS, Leinad Ayer; ANDRADE, Lúcia Mendonça Morato de (Orgs.). As Hidrelétricas do Xingu e os Povos Indigenas. São Paulo: Comissão Pró-Índio de São Paulo, 1988.
COCATO, Guilherme Periera. O giro ecoterritorial de Maristella Svampa como a amálgama necessária das tradições emancipadoras na periferia do capitalism. Espaço e Geografia, Brasília, v. 24, n. 1, p. 6-11, 2021. Disponível em: https://periodicos.unb.br/index.php/espacoegeografia/article/view/40262. Acesso em: 9 set. 2022.
COELHO, Karina da Silva. “O GPS perde pra mim longe!” Cartopráticas e políticas caiçaras em navegação no mar de dentro. EntreRios, Teresina, v. 2, n. 1, 2019.
CRUZ HERNÁNDEZ, Delmy Tania. Una mirada muy otra a los territorios-cuerpos femeninos. Solar, [s.l.], v. 12, n. 1, p. 35-46, 2017.
DARDOT, Pierre; LAVAL, Christian. Comum. São Paulo: Boitempo, 2017.
DAS, Veena et al. (Eds.). Violence and subjectivity. Berkeley: University of California Press, 2000.
DUARTE, Luiz Fernando Dias; GOMES, Edlaine de Campos. Três Famílias. identidades e trajetórias transgeracionais nas classes populares. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2008.
ESCOBAR, Arturo. Territorios de diferencia: la ontología política de los “derechos al territorio”. Desenvolvimento e Meio Ambiente, Curitiba, v. 35, 2015.
FEDERICI, Silvia. O feminismo e as Políticas do Comum em uma era de acumulação primitiva. In: MORENO, Renata (Org.). Feminismo, economia e política. São Paulo: SOF, 2014. p. 1-160.
FOUCAULT, Michel. Microfísica do poder. Rio de Janeiro: Edições Graal, 1979.
FOUCAULT, Michel. Segurança, território, população: curso dado no Collège de France (1977-1978). São Paulo: Martins Fontes, 2008a.
FOUCAULT, Michel. Nascimento da biopolítica: curso dado no Collège de France (1978-1979). São Paulo: Martins Fontes, 2008b.
FOUCAULT, Michel. Questions of method. In: BURCHELL, Graham; GORDON, Colin; MILLER, Peter (Eds.). The Foucault effect. Studies in governamentality. Chicago: The University of Chicago Press, 1991. p. 73-86.
FRASER, Nancy. Rethinking recognition. New Left Review, [s.l.], n. 3, 2000.
FURTADO, Fabrina; ANDRIOLLI, Carmen. Mulheres atingidas por megaprojetos em tempos de pandemia: conflitos e resistências. Estudos Sociedade e Agricultura, Rio de Janeiro, v. 29, n. 1, 2021. Disponível em: https://www.revistaesa.com/ojs/index.php/esa/article/view/esa29-1_06_mulheres. Acesso em: 2 set. 2022.
FURTADO, Rafael Nogueira; CAMILO, Juliana Aparecida de Oliveira. O Conceito de biopoder no pensamento de Michel Foucault. Subjetividades, Fortaleza, v. 16, n. 3, p. 34-44, 2016. Disponível em: https://ojs.unifor.br/rmes/article/view/4800. Acesso em: 15 set. 2022.
GUÉTAT-BERNARD, Hélène; VERSCHUUR, Christine; GUÉRIN, Isabelle. Sous le développement, le genre. Marseille: IRD Éditions, 2015.
HAESBAERT, Rogério. Do corpo-território ao território-corpo (da terra): contribuições decoloniais. GEOgraphia. Niterói, v. 22, n. 48, 2020.
HALBWACHS, Maurice. Les cadres sociaux de la mémoire. Paris: Éditions Albin Michel, 1994.
HALBWACHS, Maurice. A memória coletiva. São Paulo: Centauro, 2006.
HARAWAY, Donna. Saberes localizados: a questão da ciência para o feminismo e o privilégio da perspectiva parcial. Cadernos Pagu, Campinas, n. 5, p. 7-41, 1995.
HILL COLLINS, Patricia. Em direção a uma nova visão: classe, raça e gênero como categorias de análise e conexão. In: MORENO, Renata. Reflexões e práticas de transformação feminista. São Paulo: SOF, 2015. p. 13-42.
HOOKS, Bell. Feminism is for everybody: passionate politics. Londres: Pluto Press. 2000.
LASCHEFSKI, Klemens. Com licença – o que o pobre fala não nos interessa: governança ambiental como meio de apropriação de terras por neocoroneis. In: SILVA, Rubens Alves da; SILVA, Franciéle Carneiro Garcês da; COAN, Samanta; MOREIRA, Frederico Luiz (Org.). Patrimônio, informação e mediações culturais. 1. ed. Belo Horizonte: Editora da UFMG, 2020.
LUGONES, Maria. Rumo a um feminismo descolonial. Estudos Feministas, Florianópolis, v. 22, n. 3, p. 935-952, 2014.
MARCELIN, Louis Herns. A invenção da família afro-americana: família, parentesco e domesticidade entre os negros do Recôncavo da Bahia, Brasil. 1996. 348 f. Tese (Doutorado em Antropologia Social) – Programa de Pós-graduação em Antropologia Social, Museu Nacional, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 1996. Disponível em: https://buscaintegrada.ufrj.br/Record/aleph-UFR01-000206916. Acesso em: 3 out. 2022.
MAHMOOD, Saba. Politics of Pity. The Islamic revival and the feminist subject. Princeton: Princeton University Press, 2005.
MAUSS, Marcel. Ensaio sobre a dádiva. Forma e razão da troca nas sociedades arcaicas. In: MAUSS, Marcel. Sociologia e antropologia v. II. São Paulo: Edusp, 1974.
MCADAM, Doug; TARROW, Sidney; TILLY, Charles. Dynamics of contention. Cambridge: Cambridge University Press, 2001.
MITCHELL, Timothy. State, economy, and the state effect. In: STEIMENTZ, George (Ed.). State/culture: state formation after de cultural turn. Cornell: Cornell University Press, 1999.
MOHANTY, Chandra. Feminism without borders: decolonizing theory, practicing solidarity. Durham: Duke University Press, 2003.
MURRIETA, Rui Sérgio Sereni. Dialética do sabor: escolhas alimentares, ecologia e vida cotidiana em comunidades ribeirinhas da Ilha de Ituqui, Pará, Brasil. Revista de Antropologia da Universidade de São Paulo, São Paulo, v. 44, n. 2, p. 39-88, 2001.
OROZCO, Pérez Amaia. Subversión feminista de la economía: aportes para un debate sobre el conflicto capital-vida. Madri: Traficantes de Sueños, 2014.
PACHECO, Maria Emília. Sistemas de produção: uma perspectiva de gênero. Revista Proposta – Desenvolvimento Sustentável, Rio de Janeiro, v. 25, n. 71, 1997.
PAREDES, Julieta. Hilando fino desde el feminismo comunitario, Comunidad Mujeres Creando. La Paz: Deustscher Entwicklungdienst, 2008.
SABOURIN, Eric. Marcel Mauss: da dádiva à questão da reciprocidade. Revista Brasileira de Ciências Sociais, São Paulo, v. 23, n. 66, 2008.
SEGATO, Rita. Gênero e colonialidade: em busca de chaves de leitura e de um vocabulário estratégico descolonial. E-cadernos CES, [s.l.], v. 18, 2012.
SCOTT, Joan. Gênero: uma categoria útil de análise histórica. Educação & Realidade, Porto Alegre, n. 2, vol. 20, 1995.
SCOTT, James. Weapons of the weak: everyday forms of peasant resistance. New Haven: Yale University Press, 1985.
SHORE, Chris; WRIGHT, Susan (Eds.). Anthropology of policy. Critical perspectives on governance and power. Londres; New York: Routledge, 1997.
SIGAUD, Lygia. A dimensão social em uma abordagem antropológica. Crença, descrença e interesses. Por uma sociologia das condutas face ao deslocamento compulsório. In: PINGUELLI, Luiz (Org.). Estado, energia elétrica e meio ambiente: o caso das grandes barragens. Rio de Janeiro: UFRJ/COPPE/PPGAS, 1995.
SIGAUD, Lygia. Implicações sociais da política do setor elétrico. In: SANTOS, Leinad Ayer O. (Org.). Hidrelétricas do Xingu e os povos indígenas. São Paulo: CPI-SP, 1988.
SIGAUD, Lygia. O efeito das tecnologias sobre comunidades rurais: o caso das grandes barragens. Revista Brasileira de Ciências Sociais, São Paulo, v. 7, n. 18, 1992.
SIGAUD, Lygia; MARTINS-COSTA, Ana Luiza; DAOU, Ana Maria. Expropriação do campesinato e concentração de terras em Sobradinho: uma contribuição à análise dos efeitos da política energética do estado. São Paulo: Vértice; Anpocs, 1987.
SIGAUD, Lygia; ROSA, Luiz Pinguelli; MIELNIK, Otávio. Impactos de grandes projetos hidrelétricos e nucleares: aspectos econômicos, tecnológicos, sociais e ambientais. Rio de Janeiro: Marco Zero, 1983.
STENGERS, Isabelle; PIGNARRE, Philippe. Capitalist sorcery: breaking the spell. Londres: Palgrave Macmillan, 2011.
SVAMPA, Maristella. Feminismos ecoterritoriales em América Latina. Documentos de trabalho, [s.l.], n. 59, 2021.
SZTUTMAN, Renato. Reativar a feitiçaria e outras receitas de resistência – pensando com Isabelle Stengers. Revista IEB, São Paulo, n. 69, p. 338-360, 2018.
VAINER, Carlos Bernardo. Conceito de "atingido": uma revisão do debate e diretrizes. In: ROTHMAN, Franklin Daniel (Org.). Vidas alagadas: conflitos socioambientais, licenciamento e barragens. Viçosa: UFV, 2008. p. 39-63.
VAINER, Carlos Bernardo. Planejamento e questão ambiental: qual é o meio ambiente que queremos planejar? In: ENCONTRO NACIONAL DA ANPUR, 5., 1993, Belo Horizonte. Anais... Belo Horizonte: Anpur; UFMG, 1993.
VAINER, Carlos Bernardo; ARAÚJO, Frederico Guilherme. Implantação de grandes hidrelétricas: estratégias do setor elétrico das populações atingidas. Travessia, [s.l.], 1990.
VALLADARES, Licia do Prado. A invenção da favela: do mito de origem à favela.com. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2005.
VIÉGAS, Rodrigo Nuñez. Desigualdade ambiental e “Zonas de Sacrifício”. Rio de Janeiro: FASE; IPPUR, 2006.
WEBER, Max. A ética protestante e o espírito do capitalismo. Tradução de Maria Irene de Q. F. Szmrecsányi e Tomás J. M. K. Szmrecsányi. 5. ed. São Paulo: Pioneira, 1987.
WEITZMAN, Rodica. Entre a roça e a cidade – um processo de invenção de práticas alimentares e agrícolas. 2011. 210 f. Dissertação (Mestrado em Antropologia Social) – Programa de Pós-graduação em Antropologia Social, Museu Nacional, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2011. Disponível em: https://buscaintegrada.ufrj.br/Record/aleph-UFR01-000757110. Acesso em: 8 set. 2022.
WEITZMAN, Rodica. “Documentos” e “procedimentos técnicos”: saberes e métodos em disputa na UHE-Tucuruí. Antropolítica, Niterói, n. 46, 2019.
WEITZMAN, Rodica. A introdução da explicação científica dos acontecimentos ambientais: focos de disputa entre o Setor Elétrico e os movimentos de Atingidos – Tucuruí, Pará. Anuário Antropológico, Brasília, v. 47, n. 1, 2022.
WEITZMAN, Rodica. Mulheres na produção agroecológica: uma ética de ‘cuidado’ e ‘controle.” In: COMERFORD, John et al. (Orgs.). Casa, corpo, terra e violência: abordagens etnográficas. Rio de Janeiro: Faperj; PPGAS/UFRJ, 2021.
WOORTMANN, K. Casa e família operária. Anuário Antropológico. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1981.
ZHOURI, Andréa; OLIVEIRA, Raquel. Desenvolvimento, conflitos sociais e violência no Brasil rural: o caso das Usinas Hidrelétricas. Ambiente & Sociedade, Campinas, v. 10, n. 2, p. 119-135, 2007.
ZHOURI, Andréa; LASCHEFSKI, Klemens; PAIVA, Angela. Uma sociologia do licenciamento ambiental: o caso das hidrelétricas em Minas Gerais. In: ZHOURI, Andréa; LASCHEFSKI, Klemens; BARROS, Doralice (Orgs.). A insustentável leveza da política ambiental: desenvolvimento e conflitos socioambientais. Belo Horizonte: Autêntica, 2005. p. 89-116.
Como citar
WEITZMAN, Rodica. Novos modos de resistência protagonizados por ‘mulheres atingidas’ a partir das intervenções no âmbito territorial. Estudos Sociedade e Agricultura, Rio de Janeiro, v. 31, n. 1, e2331112, 30 jun. 2023. DOI: https://doi.org/10.36920/esa31-1_st07.
|
Creative Commons License. This is an Open Acess article, distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License CC BY 4.0 which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium. You must give appropriate credit, provide a link to the license, and indicate if changes were made. |