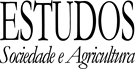 Recebido: 23.set.2022 • Aceito: 7.mar.2023 • Publicado: 29.mar.2023
Recebido: 23.set.2022 • Aceito: 7.mar.2023 • Publicado: 29.mar.2023
Lutar às margens, ser a própria margem: revisitando o debate da fronteira pelo prisma das lutas políticas de mulheres na Amazônia
Fighting on the margins, being the
margin itself: revisiting the border debate through the prism of women's
political struggles in the Amazon
|
Laura dos Santos Rougemont[1] |
|
|
Resumo: Neste artigo, pretendemos revisitar o debate clássico acerca da fronteira dentro das Ciências Sociais e Humanas para, a partir dessas premissas, incluir algumas outras, de modo a situar a análise da fronteira desde a perspectiva de lutas políticas de mulheres na Amazônia – compreendendo a Amazônia como a fronteira interna por excelência. Apontamos que a dinâmica da fronteira é tanto um processo que se repercute socioespacialmente quanto também ideológica e simbolicamente, coadunando cercamentos territoriais com imposições de modos de pensar, ou seja, com “mentalidades de fronteira”. Assim, entendemos que a fronteira é um dispositivo epistemológico que nos permite observar uma condição humana de liminaridade, que extrapola a especificidade espacial, impondo hierarquias e subalternizações de corpos femininos fronteiriços, que são submetidos e violentados por razões e ações tipicamente masculinizadas na fronteira. A violência na fronteira carrega, portanto, um caráter político, que tem um peso diferencial para as mulheres que a habitam. Assim, a fronteira aqui é caracterizada como o lugar da violência política contra “mulheres-fronteira” e, por sua vez, como lugar de destituição de formas políticas que se aproximam das políticas do comum/da comunalidade.
Palavras-chave: fronteira; mulheres-fronteira; violência política; comum.
Abstract: This article revisits the classic debate within the social sciences and humanities on borders, taking these concepts and including others in order to situate analysis of borders from the perspective of women's political struggles in the Amazon, seeing the Amazon as an internal border par excellence. We note that border dynamics comprise a process with socio-spatial as well as ideological and symbolic repercussions, combining territorial enclosures with impositions of ways of thinking (“border mentalities”). In this way, the border is understood as an epistemological device which allows us to observe a human condition of liminality and extrapolate spatial specificity, imposing hierarchies and subordination of bordering female bodies which are subdued and violated through typically masculinized reasoning and actions in border areas. Violence at borders contains a political aspect which has a different dimension for the women who live there. Border areas are consequently characterized as places of political violence against “border-women” and, in turn, as places where political forms that approach the politics of the common or communality are dismissed and made powerless.
Keywords: border; border-women; political violence, common.
Introdução
Desde a colonização, a Amazônia é receptáculo de projetos externos, pensados e executados “de fora para dentro”, sem considerar as particularidades da natureza e dos grupos humanos que ali habitam. Esse modus operandi implica, historicamente, a redução da Amazônia a uma mera reserva de valor, ou melhor, a “fundos territoriais” (MORAES, 2011) ainda não completamente explorados e incorporados pelo capital e pelo mercado. Em consequência dos consecutivos regimes de expropriação que vêm sendo praticados ao longo de séculos na Amazônia, ela é também a região geográfica que apresenta os maiores índices de violência no campo no Brasil, resultado da sua qualificação – simbólica e material – como “a fronteira” interna por excelência, por onde avançam os chamados projetos de desenvolvimento, tanto aqueles pautados em extrativismos, como a mineração e o garimpo, quanto os de cunho agrícola (agronegócio) e projetos hidrelétricos, por exemplo.
Segundo a organização Global Witness, o Brasil hoje ocupa o quarto lugar no ranking dos países que mais matam defensores e defensoras de direitos humanos, ficando apenas atrás de Colômbia, México e Filipinas (WEISSHEIMER, 2021). As investigações em torno do assassinato do indigenista brasileiro Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips, em junho de 2022, no vale do Javari, estado do Amazonas, são os indícios mais recentes desta tragédia humanitária que atravessa a Região Amazônica por séculos.
Neste sentido, entendemos que a violência é um artifício regulador do avanço de projetos privados e/ou estatais no espaço amazônico, resultando numa produção desigual deste espaço. Desta maneira, dada a evidência da Amazônia na recepção de uma série de projetos colonizadores, integradores, modernizadores, desenvolvimentistas, neoliberais e, portanto, violentos e violadores, não podemos desprezar a especificidade amazônica se quisermos falar sobre violência no campo no Brasil e, mais precisamente, para fins de análise deste artigo, no que definimos por “violência na fronteira amazônica”.
Como primeira mediação, entendemos a Amazônia como uma “zona de margens”, no sentido mesmo de sua marginalização histórica estrutural e territorial, apenas evidenciada quando alvo de exploração por parte de agentes estatais e privados. Nas palavras de Malheiro:
A guerra capitalista contra a vida na Amazônia ganha contornos dramáticos. A morte, infelizmente, sempre foi uma realidade próxima para todos que se colocam no caminho dos interesses daqueles que drenam matéria e energia na Amazônia, por meio da agropecuária, da mineração, dos monocultivos...E o pior, no espelho colonial que chamou Brasil, num paradoxo perverso, a morte sempre foi a única forma de sensibilização para a vida em profusão que é a Amazônia. (2022, grifo nosso)
Assim, visibilizada publicamente mais pelas suas sombras e apagamentos do que pela sua luz ou profusão de vida, a Amazônia – falamos aqui da abrangência da Amazônia Legal[2] – é um importante lócus de observação da dinâmica de fronteira. Por esta razão, neste artigo, pretendemos problematizar as noções e sentidos em torno da ideia de fronteira, aprofundando em algumas especificidades submersas em debates que, de certa maneira, já foram iniciados por pesquisadores(as) que se debruçaram sobre o tema. Dando continuidade a estas reflexões, o intento é elucidar alguns aspectos da fronteira que não se encontram tão evidentes ou exaustivamente debatidos. Neste sentido, apostamos na potência de lançarmos um novo olhar para uma já conhecida dinâmica (a dinâmica da/na fronteira), observando quais aspectos já estariam presentes e quais careceriam ainda de uma melhor qualificação. E este novo olhar se expressa, especificamente, a partir de mulheres que estão imbricadas em lutas territoriais na Amazônia.
Tradicionalmente, em sua atribuição mais convencional, a fronteira está associada à ideia de “divisão” ou “separação”. Como pontua Ferrari (2014), o termo “fronteira” é utilizado para uma diversidade de sentidos, associando-se tanto a fronteiras materiais quanto metafóricas. É empregado para indicar a linha divisória entre duas sedes político-territoriais, como países, estados ou municípios, mas também em sentidos simbólicos ou figurados: fronteira social, fronteira moral, fronteira linguística, fronteira militar, dentre outras. De qualquer maneira, fato é que “o uso do termo parece sugerir duas realidades opostas, qualquer que seja a natureza dessas realidades” (FERRARI, 2014, p. 2).
Para delimitar nosso foco, nos atemos mais ao sentido de fronteiras como barreiras ou como margens nas quais se tornam explícitas determinadas divisões, tanto práticas quanto simbólicas, entre formas de ocupação do espaço, culturas, valores, ou seja, entre distintas mentalidades que se desdobram em determinadas formas de configuração socioespacial. Deste modo, não nos interessa analisar a fronteira desde seu sentido administrativo, como convencionalmente a conhecemos, mas em seu sentido como este limite, esta borda que fricciona diferentes maneiras de conceber o estar no mundo e, por sua vez, entre distintas valorações de formas de viver.
Para este exercício, mencionamos panoramicamente o caso de três mulheres e lideranças que em virtude das suas atuações em lutas territoriais foram brutalmente assassinadas na Amazônia: Dilma Ferreira Silva, Nilce de Souza Magalhães e Jane Júlia de Oliveira. Apesar das vidas e atuações políticas de nossas interlocutoras terem se dado em localidades distintas, elas possuem como traço comum em suas trajetórias o fato de serem mulheres que buscaram oportunidades de sobrevivência e que militaram na Amazônia. Todas as três estiveram inseridas em contextos de lutas comunitárias por direitos à terra, às águas, à moradia e, consequentemente, ao território onde viviam. Alguns elementos associados à atuação política destas mulheres em seus contextos de luta serão tratados ao longo deste artigo, de modo a articular a atuação política das três a uma reflexão teórica a respeito das políticas no “feminino”.
Dilma saiu de Esperantinópolis (MA) rumo a Tucuruí (PA). Foi atingida pela UHE Tucuruí, passou a militar no Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB) e, a muito custo, tornou-se assentada em Baião (PA), conquistando um lote de terra dentro do Assentamento Salvador Allende. Além da luta pela reparação dos atingidos por Tucuruí, Dilma também se dedicava à agricultura familiar e articulava-se politicamente a partir de um grupo de base do MAB no local. Foi também no assentamento onde abriu seu pequeno comércio, anexo à sua casa. Mas, desde a instalação do assentamento, Dilma entrou em embate com madeireiros na região, que desmatavam a floresta ilegalmente e faziam circular caminhões carregados de toras. Sua combatividade e representatividade política, todavia, nunca a fizeram desistir de denunciar a continuidade da extração ilegal de madeira dentro do assentamento. Foi lá que Dilma foi brutalmente assassinada, junto de seu marido e de seu vizinho, em 21 de março de 2019, dentro de sua residência.
Nilce, mais conhecida como “Nicinha”, veio de Xapuri (AC) com a família extrativista, na década de 1960, com destino ao distrito de Nova Abunã, perto de Porto Velho (RO). Nas duas primeiras décadas dos anos 2000, tornou-se atingida pelas barragens de Jirau e Santo Antônio, no rio Madeira. Passou a atuar também no MAB, já que em decorrência das barragens perdeu sua casa e também sua atividade principal como pescadora artesanal. Em meio a tantas impossibilidades e no ímpeto pela sobrevivência, ela e seu marido decidiram se mudar para um acampamento próximo ao lago da UHE Jirau, na localidade de Velha Mutum-Paraná (distrito de Nova Mutum-Paraná), em Porto Velho. Lá, tentou se dedicar ao agroextrativismo e à pesca como forma de subsistência. O papel ativo de Nicinha nas denúncias contra as violações de direitos humanos promovidas pela barragem de Jirau alçaram-na a uma posição de liderança no MAB. No dia 7 de janeiro de 2016, ela foi assassinada no acampamento onde vivia e seu corpo desapareceu por meses, tendo sido encontrado no próprio lago da barragem.
Jane partiu de Anápolis (GO) em direção ao Sudeste do Pará, em busca de um pedaço de terra. Era trabalhadora rural por ofício e seu envolvimento com a causa sem-terra resultou na conquista de um lote no Assentamento Nova Conquista, em Redenção (PA), fronteira com Pau D’Arco (PA), onde apesar de assentada continuou lutando em prol de outras famílias sem-terra, tornando-se presidenta da Associação dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais Nova Vitória, vinculada ao assentamento. Por sua atuação, foi convidada a liderar uma ocupação na improdutiva fazenda Santa Lúcia, no município de Pau D’Arco (PA), reunindo cerca de 180 pessoas na luta. Ela passou a utilizar o dinheiro arrecadado pelos(as) acampados(as) para entregar cestas básicas, fornecer atendimento médico e pagar custos do advogado que os representava. O grupo insistia na resolução de um processo aberto pelo Incra para negociar com os proprietários a compra da fazenda Santa Lúcia. Além disso, os(as) acampados(as) questionavam a documentação da propriedade que, segundo eles, também possuía títulos falsos, oriundos de processos de grilagem de terras da união. Jane havia recebido inúmeras ameaças e teve, inclusive, sua prisão decretada. Ela e outros nove ocupantes da fazenda foram assassinados no dia 24 de maio de 2017 por policiais, no que se configurou como Chacina de Pau D’Arco.
Dilma, Nilce e Jane, portanto, foram três lideranças comunitárias femininas na Amazônia. E, pelas suas articulações políticas, foram vítimas, invariavelmente, de uma violência brutal, de uma dinâmica diferencial da fronteira. Suas lutas e as motivações para suas mortes nos deixam alguns indicativos ou vestígios bastante específicos, que trazem elementos para iniciar este exercício de repensar a noção de fronteira desde as lutas de mulheres.
Isto posto, este artigo é dividido em quatro partes principais, que têm como atribuição, cada uma, repensar a fronteira a partir de outras variantes que se conjugam com premissas já tratadas dentro deste amplo debate.
Na primeira parte, tratamos de ampliar a fronteira sob a ótica da despossessão e da banalidade da vida do outro, como ser que habita esse fora, esse limiar. Em seguida, abordamos as representações sobre uma das figuras masculinas hegemônicas encontradas na fronteira amazônica, cuja presença na região está associada às dinâmicas de expansão tanto a partir da apropriação de terras de forma lícita quanto ilícita. Estamos falando dos fazendeiros, pecuaristas, proprietários, grileiros, ou seja, de sujeitos externos, que em geral provêm das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste do país, ascendendo na região amazônica como colonos/colonizadores e que têm como modus operandi uma forma espoliativa de incorporação de terras/territórios, aqui sintetizada no arquétipo de um “sujeito proprietário”, que expressa sua “mentalidade proprietária”. No terceiro tópico, enfatizamos a perspectiva da irmandade e/ou fraternidade entre homens como um aspecto relevante e revelador do caráter dos assassinatos de mulheres ou genocídios de gênero na fronteira, bem como da dimensão expressiva produzida por este tipo de assassinato. Adiante, acrescentamos a discussão acerca do “comum” e dos seus paralelos com a lógica da reprodução da vida protagonizada por mulheres, entendendo que as tentativas de destituição do comum – como sinônimo da produção da vida e das políticas femininas – são parte desta lógica de masculinização da fronteira. Por fim, apresentamos as conclusões.
Os sentidos da fronteira
José de Souza Martins (1997), um dos grandes estudiosos da fronteira no campo da Sociologia, indica que o deslocamento pela fronteira no Brasil é um histórico de destruição. O que define e caracteriza a fronteira é a situação de conflito social iminente. Para ele, a fronteira é “essencialmente o lugar da alteridade” (MARTINS, 1997, p. 150), o que faz dela uma realidade singular, do encontro e da descoberta do outro, mas, ao mesmo tempo, um lugar de desencontro. O desencontro na fronteira é de distintas concepções de vida, visões de mundo e temporalidades históricas, e é por isso que ela se caracteriza como o local do conflito latente.
Imbuída na noção de fronteira está também a concepção de “frente pioneira”, que traz em si a ideia de que a fronteira sempre cria o novo, sendo uma situação espacial e social que “convida ou induz à modernização, à formulação de novas concepções de vida, à mudança social” (MARTINS, 1997, p. 153). Carregada de uma ideologia modernizadora, a fronteira corresponderia, então, a uma situação de contato na qual ocorre uma fricção interétnica, uma zona de estranhamento entre duas ou mais culturas, entre duas ou mais etnias, entre dois ou mais povos. Portanto, a fronteira é por essência o local de contradição e conflito, onde há tensões na aproximação entre os diferentes. É justo no desencontro de tempos na fronteira que entendemos residir uma das interpretações da violência política. O momento de expansão de novas fronteiras é tratado como trunfo e a fronteira aberta equivale a inúmeras potencialidades econômicas latentes. A construção da nação brasileira e de seu gigantismo perpassa pela dinâmica da fronteira, incorporando novas áreas de onde pode se proceder à acumulação capitalista. Por isso, a construção do Brasil reverbera a eloquência da fronteira como um “mito” (WEGNER, 2000; CHAUÍ, 2004; VELHO, 2009a).
No sentido sociológico e antropológico, a expansão sobre as fronteiras está intrinsecamente associada aos diversos ciclos de desenvolvimento, sendo marcos da inauguração de novas ondas de apropriação e expropriação no espaço. As fronteiras, em seu movimento, desenham para a frente e para dentro novos limites de uso do espaço, no qual predomina mais a instabilidade e a mobilidade do que a organização ou a estabilidade. A fronteira, do ponto de vista espacial, é um acúmulo material ainda não inaugurado e não plenamente incorporado à circulação do capital. Portanto, perfaz um momento-movimento dual, em que convivem atraso e progresso, colonial e moderno. Um momento-movimento que, pela sua característica é um barril de pólvora prestes a explodir em conflitos; é o local em potencial das contradições em expansão. Mas a fronteira também aloca um caráter situacional, de uma condição constitutiva sempre em aberto, delegando a determinados contextos uma “situação de fronteira”.
A geógrafa Bertha Becker [1990a]/(2015a) assinala que a fronteira é o espaço de incorporação à cadeia global e fragmentada da divisão territorial do trabalho, de modo que o Estado se empenha para estruturá-la e integrá-la, ao mesmo tempo que manipula a preservação da imagem de “espaço alternativo” na dimensão ideológica. Auxiliando na viabilização da ocupação de áreas novas, o Estado sempre atuou na reprodução combinada do latifúndio e do campesinato (BECKER, 2015a, 2015b). Segundo Brum (2020), as áreas e os financiamentos públicos alimentaram um mercado de especulação em torno das terras na região amazônica em conformidade com os projetos da ditadura militar (1964-1985). Ocorre que hoje, mais do que nunca, o Estado também tem atuado na regularização da grilagem em terras públicas, transformando grileiros em latifundiários bem-sucedidos, que se utilizam deliberadamente de práticas criminosas, como a pistolagem e os incêndios intencionais, para “limpar o terreno” de floresta e de gente – dois entraves ao suposto desenvolvimento e à suposta modernização.
A região amazônica é hoje o principal alvo de um regime de desapropriação de terras, águas e territórios, visto que lá as florestas e os solos ainda não foram completamente incorporados na circulação do capital. Assim, a caracterização da fronteira amazônica hoje, mais do que representar um espaço selvagem ou um “vazio demográfico” que deve ser ocupado, representa um reservatório de fundos territoriais (MORAES, 2011), mas também um fundo de reservas bioculturais (TOLEDO; BARREIRA-BASSOLS, 2015) em forma de terras e saberes indígenas, de territórios e saberes tradicionais e também de áreas protegidas, como unidades de conservação. São reservas de terras ainda não mercantilizadas que se mantêm imobilizadas parcial ou totalmente para os usos capitalistas.
Entendemos que além das fronteiras espaciais e/ou materiais, um debate a respeito das fronteiras de “pensamento”, ou seja, das fronteiras que demarcam diferentes formas de cognoscibilidade da realidade, deve ser aprofundado. Para isso, é necessário discutir a fronteira a partir do seu viés epistêmico e das “divisões” ou “separações” de mentalidades que ela também proporciona. Aqui, acrescentamos a perspectiva de que os movimentos na fronteira não são meros resultados de regimes de desapropriação e acumulação permanentes vistos como processos exclusivamente econômicos, mas também processos de espoliação de humanidades destoantes, resultado de diferentes paradigmas civilizatórios em conflito. Deste modo, tais concepções se complementam, pois as fronteiras geográficas se entrelaçam com as fronteiras cognitivas ou simbólicas.
Na fronteira, por esta razão, os cercamentos de fundos territoriais são acompanhados de cercamentos simbólicos, quando há a dominância de uma determinada mentalidade em relação a outras, criando a figura do humano “subalterno” a um modo de ser-saber-poder hegemônico. Assim, a subalternização na fronteira, bem como a acumulação, não se realiza apenas no momento inaugural do choque entre duas realidades materialmente distintas, mas é uma condição humana e social que está em permanente recriação.
Isso implica considerar que a fronteira define não somente uma temporalidade ou espacialidade em desconstrução ou reconstrução, mas também um limite do ser e do não ser, das vidas qualificadas ou não qualificadas como valiosas. Por isso, a fronteira é ainda um predicado classificatório, uma condição de atribuição de quem é humano e de quem não é, conformando uma distribuição desigual das oportunidades de viver e de morrer, como aponta Achille Mbembe (2014, 2018, 2020). Sendo assim, a fronteira não é apenas uma circunstância ou situação realizada material e concretamente, mas é evidentemente uma condição de existência, pois a condição de fronteira cria indivíduos e coletivos destituídos dos meios básicos e essenciais de sobrevivência, cuja vida é o próprio limite, é a própria fronteira.
Pegando emprestada a proposição de Mezzadra e Neilson (2017), parece-nos fundamental compreender a fronteira, então, como um método, como uma ferramenta para entender as relações que se estabelecem no espaço: “Na medida em que serve ao mesmo tempo para estabelecer divisões e conexões, a fronteira se constitui em um dispositivo epistemológico, que se encontra em funcionamento cada vez que se estabelece uma distinção entre sujeito e objeto”. E torna-se método “precisamente na medida em que é concebida como um lugar de luta”.[3]
É desde ponto de vista que se pretende tratar a fronteira não como um dado em si, mas como dispositivo epistemológico que nos permite observar uma condição humana que extrapola a especificidade espacial. Em síntese, a fronteira reúne um processo de acumulação capitalista/de expropriação com uma condição de existência que é supérflua, assim classificada em decorrência da produção de mentalidades radicalmente distintas, que valorizam algumas vidas em detrimento de outras, vidas estas que estão nas margens e sobre as quais repousa uma indiferença ontológica.
O mito da fronteira é a força motriz que autoriza a ocupação dos fundos territoriais por meio de incursões, sejam elas violentas ou não. Por seu caráter de ocupação ou evolução processual, o espaço de fronteira está sempre inacabado, pois se estivesse cerrado, já não seria mais chamado de fronteira, visto que é o status de estar sempre “em aberto” o que a caracteriza. Por isso, é preciso chegar ao máximo ponto de seu uso, ocupação e expropriação, ou seja, levar ao extremo a prática de conquista, que é o que justifica a sua essência.
Ao mesmo tempo, carregando uma imagem de natureza ainda estocada ou intocada, os fundos territoriais que a fronteira abriga precisam ser incorporados e integrados para entrar em “sintonia” com a nação, com as políticas de desenvolvimento propostas de fora para dentro. Consequentemente, por ser local de interpenetração de tempos e sociedades distintas, os “nativos” da fronteira só poderiam estar posicionados como atrasados, considerando uma linearidade do tempo e do desenvolvimento ocidentais. Neste sentido, torna-se coerente a ideia de que sendo atrasados, estes corpos na fronteira são também inferiores, pessoas em condições de vida e subalternidade que habitam um “não lugar” – afinal, por que seria definido como um lugar aquilo que historicamente foi sempre classificado como um vazio, abordagem reiterada nas políticas de ocupação da Amazônia, por exemplo?
A fronteira, então, é reforçada como terra de ninguém, para que “outros alguéns” possam justificar sua usurpação. Conclui-se que do ponto de vista da subjetividade moderna, capitalista, patriarcal, ocidental e sul/sudestinocêntrica, habitantes de fronteira são considerados “menos gente”. A vida deles(as), portanto, vale menos que outras e não importa se são mortos(as), assassinados(as), violados(as), pois são seres supérfluos. Este é o aspecto fulcral do nosso debate na fronteira.
A violência na fronteira carrega, portanto, um caráter político, que tem um peso diferencial para as mulheres que a habitam. É na fronteira onde se desferem ataques, golpes e assassinatos, sejam eles físicos ou não, contra mulheres que estão vinculadas às lutas pela terra, pelas águas, pelos territórios, pela proteção de uma base de bens naturais, de um acúmulo de natureza, de práticas de subsistência e, consequentemente, de formas de fazer política. Assim, a fronteira também precisa ser caracterizada como o lugar da violência política contra mulheres, contra as “mulheres-fronteira”[4] e, por sua vez, como lugar de destituição de formas de fazer um tipo de política que se aproxima de formas relacionadas ao comum.
Utilizando-se de uma constatação de Mbembe (2018), entendemos que a política do fazer comum é justamente o oposto da guerra, pois ela se define pelo estatuto da autonomia e do acordo em coletividade, aspectos que são negociados por meio da comunicação e do reconhecimento. Do avesso, as macropolíticas da “soberania” não têm como projeto a disputa por autonomia, mas servem para instrumentalizar a existência humana e promover a destruição material de corpos e populações. É a política como “trabalho da morte”.
E é em razão desta política que se executa como trabalho da morte, que a fronteira contemporânea precisa ser reposicionada em seu estatuto. Se a fronteira e seus mitos se desdobram primordialmente como processo ou dinâmica situacional de avanço de uma determinada lógica no espaço físico e material para se conformar, Mbembe (2020) ressalta que as fronteiras de hoje não se desdobram de forma exclusivamente física. O processo de fronteirização é híbrido, incompleto e segmentado, e as fronteiras passaram a ser referidas como os locais onde se manifesta, por excelência, a depredação contemporânea.
Conforme Mbembe (2020), por meio de políticas que se voltam contra as autonomias e os acordos de coletividade, os poderes hegemônicos contemporâneos têm como objetivo maior promover a “extração” e, para isso, é necessário intensificar a repressão. A tônica é eliminar aqueles(as) que são fontes potenciais de incômodo e tornar a emergência o estado permanente de ação do sistema, de modo a desmantelar todas as formas de resistência. O autor está partindo da biopolítica como gestão das vidas e mortes, como um conjunto de políticas direcionadas pelos poderes hegemônicos em relação ao controle das vidas humanas como um todo, calculadas como números. Mas sua acepção é plenamente adaptável às circunstâncias específicas das razões de repensarmos as fronteiras nos moldes das mortes de mulheres amazônidas. Afinal, o que se depreende de seu posicionamento é que se o processo de fronteirização não é exclusivamente físico, mas também circunstancial da depredação contemporânea, então isto nos permite interpretar a condição humana das mulheres e seus corpos como uma modalidade de fronteira contemporânea.
Mais uma vez, reforçamos que isso não implica a exclusão dos processos físicos e territoriais que se produzem no espaço amazônico nos casos especificados, pois eles são causa e consequência de uma lógica ou forma de enxergar a fronteira que explica grande parte da violência a elas acometida. Mas a estes processos soma-se uma condição humana que, por vezes, é ignorada ou tratada menos detidamente nestes casos, condição esta que se generaliza no mundo desde especificidades próprias dos espaços geográficos em que se realizam, mas que agrega, como elemento comum, a disposição de vidas postas na liminaridade.
Repensar a fronteira a partir da despossessão e da descartabilidade do outro
Se a fronteira é o confim do humano (MARTINS, 1997), então nela está imbricado um caráter litúrgico e sacrificial; sua essência é trágica e conflitiva, resultado da divergência de mundos e tempos históricos que nela se opõem. Ao enfatizar a fronteira como zona da execução de sacrifícios do humano, Martins atenta para a descaracterização das formas de sobrevivência na fronteira. Pegando carona com esta ideia como marco essencial para o refinamento do nosso olhar sobre a fronteira, desenvolvemos aqui, mediante as expressões “despossessão” e “descartabilidade do outro” uma perspectiva análoga a esta.
Para Fraser e Jaeggi (2020), a acumulação por meio da “expropriação” vem antes da exploração contratualizada e é somente esse processo que torna a exploração possível. É esta chamada “história de fundo” que precisa se tornar evidente, pois apenas ela explica a realização da história oficial da exploração. Na realidade, a expropriação é uma acumulação por outros meios, de forma que há uma transferência de valor a partir do confisco de bens, tais como a terra, os animais, os minérios ou as fontes de energia e, consequentemente, também de seres humanos e suas capacidades sexuais e reprodutivas.
Enquanto a exploração se realiza a partir de um véu da suposta troca livre e contratual de valores e trabalho, a expropriação o faz por meio de mecanismos de roubo, já que o capital toma para si os valores da terra, do trabalho e das capacidades de sujeitos que o executam sem pagar pelos custos de produção. O que as autoras acrescentam é que alguns grupos são considerados “inerentemente expropriáveis”, ou seja, passíveis de expropriação. E que essa sujeição se dá através de um corte hierárquico definido não apenas pela classe, mas por atributos de raça e de gênero. Elas concluem que é a sujeição de indivíduos não livres aos processos de expropriação, com marcadores raciais e de gênero, o que mantém possível a liberdade daqueles que os exploram.
Outro fator é que a expropriação concerne também a um processo de violência que extrapola as condições materiais e objetivas invocadas pela disputa de terras e territórios, e perpassa pela captura e desvalorização de certas subjetividades. No ato de usurpação dos meios de vida, são corrompidas ainda as formas específicas de lidar com lugares de moradia e vivência, submetendo certos grupos (de raça, de gênero) e suas autonomias ao aniquilamento, tanto a partir de tentativas de eliminação pela destituição de meios de vida quanto a partir da mortificação propriamente dita.
Atendo-se mais especificamente ao termo “despossessão”, a abordagem apresentada por Butler e Athanasiou (2017) também parece se encaixar com as perspectivas de análise para os casos de violência política contra mulheres elencados neste trabalho.
A despossessão, como um modo de separar a gente dos meios de sobrevivência, não é somente um problema de privação da terra, mas também um problema de violência subjetiva e epistêmica; ou, para colocar de outra maneira, um problema de apropriação discursiva e afetiva, com implicações crucialmente sexualizadas e vinculadas à política de gênero. Esta apropriação de espaços corporais e afetivos, a qual está imbricada na construção social da vitimização, é um aspecto crítico da despossessão (pós) colonial e seus mecanismos de normalização. (BUTLER; ATHANASIOU, 2017, p. 43)
Como destacado pelas autoras, mais que privar o acesso à terra, é a privação dos meios de sobrevivência que, antes da morte, produz como efeito uma violência subjetiva e epistêmica, vinculada a uma política de gênero. Segundo afirmam, as formas de poder colonial são marcadas pela racialização e pela sexualização da economia, dado que criam um tipo ideal de humano, em oposição aos “não humanos. Enquanto alguns/algumas possuem o direito de ter uma vida longa, outros(as) estão relegados(as) a ter uma morte lenta. Há localizações diferenciais entre humanos e “não humanos”, seres que ocupam uma posição hierárquica distinta em termos do acesso aos direitos, posição sempre reafirmada por critérios de raça e gênero.
Esta classificação de humanidades supérfluas ou não, provém de processos de espoliação colonial, que desde sempre produziram diferenças entre a valoração do colonizador e dos povos colonizados. Para Castro-Gómez (2005), o colonizado é “o outro” inventado, lado obscuro da razão dentro de um imaginário que legitima a superioridade do colonizador. E os atributos de raça, cultura e gênero são essenciais para produzir tais definições, que são históricas, mas também atemporais, dado que permanecem como matriz de classificação até a contemporaneidade. O “outro” é reduzido a noções como barbárie, maldade e irracionalidade, o que justifica por parte do colonizador medidas disciplinares e corretivas. Assim, cria-se, em oposição, o imaginário da civilização e o imaginário da selvageria, pois para que o lado da subjetividade cidadã e moderna predomine e se reafirme, é imprescindível que se construa o seu oposto, produzindo, por sua vez, uma violência igualmente epistêmica em relação ainda ao conjunto de práticas e saberes do “outro”.
Continuando nesta perspectiva, Mbembe (2018) afirma que a invenção do outro se desdobra na leitura deste como ameaça ou perigo, fazendo com que somente a iminência de eliminá-lo contribua para o reforço do potencial da vida e da segurança daqueles cuja vida merece ser vivida, pois não são descartáveis. É a morte de alguns que paradoxalmente permite a plenitude da realização da vida por outros. Esta maneira de conversão do outro em inimigo foi típica das colônias do Terceiro Mundo, as quais sempre foram encaradas por parte do estado como fronteiras habitadas por selvagens. Nelas, houve suspensão absoluta da lei e de qualquer vínculo racial e humano entre o conquistador e o nativo, este último visto como semelhante a um animal, cuja eliminação não era tida como um crime. A violência, neste caso, operou sempre como mecanismo de exceção em favor de um serviço de “civilização”.
Sob o respaldo civilizatório, a violência aparece como chave de interpretação desde as colônias até as regiões de fronteira mais recentes, inclusive no âmbito da demarcação de territórios voltados para a exploração de recursos específicos, formando verdadeiros enclaves econômicos pelos quais jorram fluxos de capitais, convertendo-os em “espaços privilegiados de guerra e morte” (MBEMBE, 2018, p. 57). Aos destituídos(as) e despossuídos(as), resta a descartabilidade das suas vidas e de seus meios de sobreviver. As violações acometidas em afronta a estes sujeitos “sem humanidade” são por vezes omitida ou sequer compreendida como uma violação.
Isto poderia ser considerado o modus operandi do que Agier (2015) chama de “política da indiferença”, que se dá em relação ao mundo que nos circunda e à existência do outro, o ser diverso e diferente que habita o nosso redor. Disso decorrem relações incertas, relações partidas, que o autor sintetiza como situações “entre-dois”. Quando não se reconhece o outro como tal, produz-se uma condição de alienação do outro, como se estes seres estivessem constantemente fora do lugar. É esta condição de ritualização da situação do outro como um marginal, como habitante do limiar, que produz a condição de fronteira hoje, no sentido atribuído por Agier.
Deste modo, para além das fronteiras como limites internacionais de transição entre países – como muros que ao mesmo tempo que permitem, impedem o acesso e o ir e vir do migrante –, ou seja, para além do debate da fronteira em torno das migrações, Agier (2015) amplia a interpretação da fronteira como sendo uma condição, uma posição ou modalidade de ocupação do mundo que cada vez mais se generaliza nos corpos marginalizados ao redor do globo, independente da natureza e da especificidade de inserção destes corpos em contextos locais.
Estendendo a pesquisa a todas as situações de fronteira, isto é, a todas as situações nas quais uma prova de relativa estrangeiridade é partilhada, poderemos levar essa estrangeiridade para o comum e relativizar a distancia até o outro, qualquer que seja a linguagem dessa alteridade: étnica, racial ou humanitária. Assim, poderemos reconhecer melhor o sujeito-outro que existe por meio dessas manifestações de alteridade, cuja fronteira é o lugar. (AGIER, 2015, p. 154)
O autor traduz esta generalização da fronteira como condição humana através do termo “cosmopolitismo banal” que, segundo ele, “é a experiência daquelas e daqueles que provam a concretude do mundo, sua rugosidade” (p. 146), ou “soma de todas as situações de fronteiras vividas hoje” (p. 299). São os(as) desenraizados(as) do mundo, pessoas de lugar nenhum, pois sua situação não lhes permite um lugar. São estrangeiros no mundo, mas também podem ser estrangeiros em seu próprio país, simplesmente por sua posição de alteridade, seja ela étnica, racial, humanitária ou qualquer outra (AGIER, 2015). Teriam sido Dilma, Nilce e Jane estrangeiras em seus próprios lugares, enquadradas na condição dos cosmopolitas banais?
Embora a despossessão na fronteira não resulte na descartabilidade ou imposição de um não lugar apenas para mulheres, estes processos adquirem particularidades que acentuam seus efeitos entre mulheres, conforme poderemos observar nas pistas dadas adiante.
Se a historiografia brasileira abusou de mitos fundadores para justificar as incursões nas fronteiras, especialmente na Região Centro-Oeste e na Amazônia, ela teve no bandeirante um dos seus arquétipos mais comumente associados à ideia de herói nacional, que foi inclusive revivido no período da Marcha para o Oeste, durante o Estado Novo. O bandeirante era a figura responsável por carregar a “modernidade” para os sertões, para os espaços hostis a serem desbravados do outro lado da fronteira (interna). Era o homem capaz de vencer a natureza selvagem, os índios incivilizados, as doenças e toda má sorte proporcionada pela aventura da conquista.
Assim, o bandeirante é, em termos de sua importância para a nação, mais relevante do que os grupos escondidos nos rincões do país. Como que continuando a saga bandeirante, ainda hoje os privilégios de poder, de raça, de classe e de gênero continuam conformando um perfil de valoração de certos sujeitos em detrimento de outros desde os tempos coloniais. Com o passar do tempo este perfil foi caracterizando a posição do soberano, do dominador, do detentor de direitos, enfim, do cidadão [do bem]. Há um tipo de sujeito que ainda é considerado o responsável por carregar o progresso à fronteira nos dias atuais. Falaremos um pouco deste tipo agora.
O arquétipo do “bandeirante moderno” pode facilmente se relacionar ao sujeito definido por Butler e Athanasiou (2017) como proper(tied) subject – expressão que traduzimos por “sujeito proprietário”. As autoras enfatizam o sufixo tied, colocando-o entre parênteses, provavelmente como uma associação ao verbo to tie, sendo tied sua conjugação no passado, que significa “amarrado”, “atado” ou “conectado”; mas também entendemos a ênfase como uma referência direta ao substantivo tie, que significa “gravata” em português. Interpretamos tais relações como se se tratasse de um sujeito que se define somente a partir da sua conexão com a propriedade privada, como se a ela estivesse “amarrado” para se impor como sujeito de valor. Num jogo de palavras, a gravata possivelmente faz alusão ao “homem engravatado”, alguém visto socialmente como possuidor de status, poder financeiro e político. A expressão, portanto, é autoexplicativa sobre o perfil desse homem moderno/colonial/privilegiado, em oposição ao perfil dos(as) despossuídos(as) e descartáveis.
Nas colônias europeias, a propriedade foi um pré-requisito para a subjetividade e a cidadania política em um sentido próprio, mas também, ao mesmo tempo, esta estava ligada a certos requerimentos de raça e gênero – digamos, a ser branco e masculino – que significavam a subjetividade humana civilizada propriamente dita (e proprietária). (BUTLER; ATHANASIOU, 2017, p. 44-45, tradução nossa)
Assim, a propriedade aparece com uma função atribuidora de direitos e cidadania política aos sujeitos, especialmente aos homens brancos que a detêm, garantindo-os a classificação como humanos civilizados, como homens modernos. No entanto, é importante que se diga que todo esse privilégio foi forjado a partir de processos de dessubjetivação do outro, que é convertido em objeto de desejo para depois ser descartado, sendo a descartabilidade um dos elementos centrais da subjetividade neoliberal e proprietária, conforme apontam as autoras. Ou, na síntese elaborada por Segato:
De acordo com o padrão colonial moderno e binário, qualquer elemento, para alcançar plenitude ontológica, plenitude de ser, deverá ser equalizado, ou seja, equiparado a partir de uma grade de referência comum ou equivalente universal. (...). O “outro indígena”, o “outro não branco”, a mulher, a menos que depurados de sua diferença ou exibindo uma diferença equiparada em termos de identidade que seja reconhecível dentro do padrão global, não se adaptam com precisão a este ambiente neutro, asséptico, do equivalente universal, ou seja, do que pode ser generalizado e a que se pode atribuir valor e interesse universal. Só adquirem politicidade e são dotados/as de capacidade política, no mundo da modernidade, os sujeitos – individuais e coletivos – e questões que possam, de alguma forma, processar-se, reconverter-se, transpor-se ou reformular-se de forma que possam se apresentar ou ser enunciados em termos universais, no espaço “neutro” do sujeito republicano, onde supostamente fala o sujeito cidadão universal. Tudo o que sobra nesse processo, o que não pode converter-se ou equiparar-se dentro dessa grade equalizadora, é resto. (SEGATO, 2018)
O proper(tied) subject, assim, é o equivalente do sujeito universal exemplar, cuja lógica de autoridade se realiza em detrimento de uma lógica de alteridade, posicionando “o outro”, ou os outros, a diferente na categoria de despossuído(a) e descartável. Para exemplificar o sujeito proprietário, resgatamos algumas falas vocalizadas por proprietários rurais e políticos locais logo após o massacre de Pau D’Arco, no Pará. Mesmo após a perícia da polícia, os depoimentos de testemunhas, as confissões de participantes da execução das dez vítimas da chacina (dentre elas, Jane Júlia de Oliveira, a liderança da ocupação na Fazenda Santa Lúcia, onde ocorreu o massacre) e de uma acusação feita pelo Ministério Público demonstrando a brutalidade de um massacre nu e cru – no qual não houve qualquer tipo de reação por parte das vítimas –, alguns desses sujeitos ainda defendiam a ação e o mérito dos policiais na execução dos(as) agricultores(as) – conforme matéria de Tinoco (2017) para a Revista Piauí.
O fazendeiro e advogado goiano Walteir Rezende, presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Redenção (PA) à época do massacre, foi um deles. Durante uma feira de produtores rurais em Xinguara (PA), ele aparecera desfilando montado num cavalo e erguendo a bandeira do sindicato quando, ao relembrar sua chegada à região, afirmou compreender que a polícia teve razão no massacre de Eldorado de Carajás (ocorrido em 1996). Ele manifestou também preocupação com o risco da chacina de Pau D’Arco se tornar um novo Carajás, e proferiu ao microfone, durante a feira, o seguinte: “Bandido é bandido. E o bandido que enfrenta a polícia vai perder. Não podemos criminalizar a polícia por matar bandido. Lamento muito o ocorrido, mas lamento muito mais pelos policiais.” Segundo ele, o Sul do Pará sobrevive de pecuária e minério e apresenta alto poder aquisitivo, dado que só se veem carros novos na cidade, principalmente caminhonetes com tração 4x4. Grande parte delas, inclusive, estava adesivada com propagandas de Jair Bolsonaro em 2018, e Walteir demonstrou confiança de que o seu candidato iria ser vitorioso na eleição em Xinguara. Ele foi aplaudido pelos presentes após suas falas.
Outro ruralista presente no mesmo evento, o ex-presidente do sindicato rural local e ex-prefeito de Pau D’Arco, Luciano Guedes, relembrou que a cidade palco da chacina fora fundada pelo seu sogro, Laudelino Hanemann. Sobre a ação policial, disparou: “Tem que matar, é bandido. Se você perguntar aqui, a sociedade toda ficou feliz, todo mundo deu parabéns à polícia. Quem falar que não apoia é porque não quer se expor.” Luciano e Laudelino são paranaenses e chegaram a Pau D’Arco em 1988 quando, segundo ele, nada existia no local: “Nós construímos tudo. Eu tenho o maior orgulho de dizer que eu desmatei, que construí cidades, estradas.”
Vitório Guimarães da Silva, também fazendeiro, pontuou durante sua fala que tinha conhecimento de que produtores da região contratavam seguranças privados que seriam responsáveis por abrir terras e expulsar posseiros. Ele, que por quatro anos admitiu ter se utilizado de segurança armada na sua fazenda com o intuito de coibir ocupações e disputas com agricultores sem-terra, garantiu: “Você tem que ter uma arma.”
Além da defesa do seu patrimônio material (na maior parte das vezes usurpado da união) e da atribuição de um escalonamento das vidas que importam e das que não importam (vidas policiais valem mais do que vidas sem-terra, por exemplo), poderíamos acrescentar que o sujeito proprietário agrega em seu discurso a defesa de um patrimônio cultural e também de uma lealdade territorial entre os seus – para pegar emprestada a expressão empregada por Segato (2005). A sua lealdade territorial está acima de todas as outras, inclusive acima do cumprimento das leis e do acesso aos direitos por parte de determinados sujeitos que não fazem parte do seleto grupo do “nós”.
Em um ambiente totalitário, o valor mais martelado é o nós. O conceito de nós torna-se defensivo, entrincheirado, patriótico, e quem o infrinja é acusado de traição. Nesse tipo de patriotismo, a primeira vítima são os outros interiores da nação, da região, da localidade – sempre as mulheres, os negros, os povos originários, os dissidentes. Esses outros interiores são coagidos para que sacrifiquem, calem e posterguem sua queixa e o argumento de sua diferença em nome da unidade sacralizada e essencializada da coletividade (SEGATO, 2005, p. 281, grifo no original).
A coletividade, neste caso – na qual se incluem e é representada por Walteir, Luciano e Vitório –, é a de um conjunto de homens que atuam de forma totalitária e mancomunada a um ilusório “patriotismo”, uma suposta unidade sacralizada em defesa da pátria. Sabe-se, no entanto, que se trata de um termo bastante genérico e esvaziado de sentido prático, acionado apenas para atender a interesses muito específicos, como aqueles representados por máfias locais que disputam os territórios disponíveis, ou os fundos territoriais. Enquanto isso, essa lealdade territorial do “nós” exclui outras articulações sociais e territoriais. Se entre o nós predomina o individualismo, a defesa da propriedade e dos bens privados, entre os outros predomina um mundo miserável. “Nós” é o mundo próximo, imediato, enquanto o “outro” representa um mundo distante, inacessível, impraticável (AGIER, 2015).
Conclui-se que se as vítimas da violência política na fronteira são tanto homens quanto mulheres, a violência e sua conivência – expressas tanto pelos apoiadores quanto pelos mandantes e executores de crimes – parte de corpos eminentemente masculinos/brancos/proprietários, que têm a autorização e a autoridade pública para destilar ódio contra os diferentes, contra os que questionam a lógica proprietária da qual usufruem e que constitui suas identidades e essências. Por esta razão, estas articulações em torno deste núcleo de poder têm efeitos outros quando operam em detrimento de vítimas femininas/racializadas/não proprietárias.
Isso não equivale dizer que todos os homens associados ao “nós” se encaixem exatamente nesse arquétipo, dado que esta constatação não pode ser entendida como uma regra. Por isso, mais do que se atentar para o perfil aparentemente decifrável a partir de características fenotípicas ou da leitura de um ethos dominante masculino/branco/proprietário, é importante se ater às bases discursivas sobre as quais este arquétipo se reproduz a todo tempo. Trata-se, antes de tudo, da replicação de uma mentalidade proprietária, que sempre esteve associada ao exercício de desbravar, de conquistar, de dominar, mentalidade esta enraizada e encruada culturalmente como verdadeira, única, lógica: uma mentalidade proprietária de fronteira.
É esta mentalidade, tal como o imaginário da fronteira, que se reproduz e se atualiza ciclicamente, forjando ininterruptamente figuras masculinas que consolidam práticas protecionistas dos seus interesses e destrutivas para com o interesse de outros – no nosso caso em questão, de outras. Se no início da colonização tais práticas eram impregnadas na ação colonizadora e, portanto, na ação dos colonos, com o passar do tempo esta mentalidade passou a se expressar também amplamente pelos descendentes dos colonizadores (os “crioulos”). Apesar de não serem europeus, já que nascidos nas Américas, eles internalizaram a violência dos descendentes, submetendo nativos a brutalidades raciais e patriarcais e executando o papel branqueado da dominação. Este papel é executado até hoje pelos colonos ou bandeirantes modernos, resumidos na figura do “sujeito proprietário”.
Tal mentalidade de fronteira extrapola e também é replicada por variados grupos de sujeitos marginalizados, sem poder aquisitivo, sem propriedade e racializados, pois mentalidades transmitem-se como valores morais ainda entre aqueles que não estão necessariamente no lado hegemônico do poder, isto é, no lado da branquitude colonial de matriz europeia de dominação. Pode-se dizer que a transmissão destes valores como uma oportunidade ou como reforço da masculinidade (como veremos no próximo tópico) ocorre a partir de uma “pedagogia da crueldade”, que se dissemina culturalmente entre gerações e coletivos de homens, tanto para o homem indígena, que se transforma em colonizador dentro de sua própria casa, quanto para o homem urbano de massa, que se converte em patrão também dentro de sua própria casa (SEGATO, 2018, p. 14).
Portanto, se em alguns casos o fenótipo coincide com este perfil do sujeito proprietário, nem sempre este paralelo se realiza, pois a violação e a violência da dominação, cujas bases são coloniais e patriarcais, se transmitem por códigos, valores e mentalidades, mais do que meramente por continuidades “hereditárias” entre homens. Cria-se uma espécie de língua e de linhagem comum que articula esta mentalidade proprietária de fronteira, que tem nos atos violentos a conformação de um sistema comunicativo difícil de ser eliminado, porque a “violência constituída e cristalizada em forma de sistema de comunicação transforma-se em uma linguagem estável e passa a se comportar com o quase automomatismo de qualquer idioma” (SEGATO, 2005, p. 277). A violência, neste caso, naturaliza-se como língua predominante.
Esta mentalidade de fronteira diferencia-se absolutamente e, por isso, não pode ser confundida com o chamado “pensamento crítico de fronteira”. Enquanto o nacionalismo que assume um caráter de atavismo desbravador é forjado dentro de estruturas políticas e de pensamento com raízes eurocentradas, segundo Walter Mignolo, o pensamento crítico de fronteira localiza-se no polo exatamente oposto a essa definição, pois desconstrói a episteme do projeto de modernidade ocidental-eurocêntrico. Este pensamento enfatiza, por oposição, as cosmologias subalternas, exploradas, oprimidas pela diferença colonial, que redefinem categorias centrais da modernidade, como direitos humanos, relações econômicas, democracia e outros valores, rompendo com tais referenciais da modernidade/colonialidade (GROSFOGUEL, 2008).
Como exemplo do pensamento crítico de fronteira, criador de novas linguagens não pertencentes ao sistema comunicativo da violência, mas da transcendência das relações de poder colonial, podemos citar o trabalho de Glória Anzaldua, de 1987, intitulado Borderlands/La Frontera: the new mestiza. Nele e em outros trabalhos, o pensamento “fronteiriço” se traduz exatamente como uma subversão de uma mentalidade hegemônica e proprietária de fronteira.
Comecei a pensar em termos de consciência mestiça. O que acontece com gente como eu que está ali no entre-lugar de todas essas categorias diferentes? O que é que isso faz com nossos conceitos de nacionalismo, de raça, de etnia, e mesmo de gênero? Eu estava tentando articular e criar uma teoria de existência nas fronteiras [...]. Eu precisava, por conta própria, achar algum outro termo que pudesse descrever um nacionalismo mais poroso, aberto a outras categorias de identidade. (ANZALDÚA, 1987, s/p)
Portanto, o pensamento crítico de fronteira difere-se essencialmente da mentalidade proprietária de fronteira aqui abordada e, neste caso, contribui para uma consciência mestiça da história, do feminismo e contra a exclusão da alteridade dos lugares de privilégio na construção da modernidade.
Repensar a fronteira a partir da dimensão expressiva dos assassinatos de mulheres e das lealdades territoriais masculinas
Segato (2018) amplia a noção de feminicídios para compreender este tipo de crime contra mulheres em áreas de fronteira, especialmente na fronteira do México e dos Estados Unidos onde, há alguns anos, mulheres desaparecem e são assassinadas sem que se tenha condenação dos culpados. Para a autora, existe uma diversidade de crimes contra mulheres que se dão em vários âmbitos, aumentando ano a ano as taxas de feminicídio. Porém, a generalização dos dados a partir do mesmo rótulo, sem atentar para a especificidade de cada crime em virtude da sua origem ou motivação (se violência doméstica, se violência urbana, se violência política, entre outras), acaba por vezes contribuindo mais para a confusão do que para o esclarecimento destes. Por esta razão, é importante diferenciá-los.
Assim, entendemos que o termo “femigenocídios”, utilizado por Segato, é o mais apropriado ao nosso contexto de análise, pois ao incluir a dimensão de “genocídio” no âmbito destes assassinatos, inflexiona sobre a especificidade dos crimes de violência contra a vida de mulheres na fronteira amazônica, que se diferenciam de feminicídios domésticos, por exemplo. Um genocídio carrega implicitamente a ideia de extermínio, parcial ou total, de grupos étnicos, raciais, religiosos, e que possuem entre si vínculos comunitários e de identidade. Outro termo também já utilizado para referir-se ao assassinato de mulheres rurais ou defensoras de direitos humanos e ambientais, como o caso da hondurenha Berta Cáceres, é “femicídio territorial”. Também nos parece adequado, pois trata da dimensão relacional que estas mulheres estabeleciam com a natureza e o território vivido, o território da comunalidade.
Em muitos casos, os genocídios de gênero funcionam como mecanismo para essa sujeição a regimes de propriedade, mercantilização e individualidade, a mulher neste caso constituindo-se alvo prioritário de uma guerra que se impõe a grupos étnicos e racializados, que não interessam ao capital. Por isso, estes mecanismos de mortificação de mulheres impulsionam a desintegração da forma-comunidade, transformando coletivos em indivíduos isolados, o que contribui para a desterritorialização como um todo – como sugerem Meneghel e Lerma (2017). A destituição da coletividade e a imposição da individualidade é o que interessa ao capitalismo de caráter racista, patriarcal e necrófilo.
Neste sentido, o que este tipo de crime esconde e que é importante salientar é a sua dimensão anticomunitária e antiterritorial (neste caso contra algumas territorialidades específicas, aquelas das mulheres nas frentes de luta na Amazônia). Por isso, para além do fato de serem simplesmente um alvo feminino per se, o que implicaria uma dimensão da instrumentalidade destes assassinatos, eles têm um desdobramento que se refere ao caráter de exemplaridade que assumem diante da imagem pública. Ou seja, estas mortes funcionam como paradigma e carregam uma dimensão expressiva que extrapola para além da relação homem versus mulher: trata-se de uma reverberação que atinge toda a comunidade circundante, como uma espécie de recado do que pode vir a acontecer com outros(as) comunitários/as caso desafiem a lógica territorial de poder mafiosa que se impõe (SEGATO, 2018).
Para exemplificar a correlação entre estas duas dimensões (instrumental e expressiva), resgatamos o que houve com Dilma Ferreira da Silva, militante do MAB no Pará, no dia de seu assassinato. Além de ter em seu corpo desfalecido marcas de estupro, símbolo da brutalidade contida na relação de dominação instrumental masculina sobre o corpo feminino, Dilma fora assassinada com um corte na garganta, ato que carrega também a dimensão expressiva do paradigma, e que pode ser interpretado facilmente como um silenciamento da voz daquelas e daqueles que ousam denunciar qualquer ilicitude. Fica explícita a mensagem de que quem muito fala e denuncia os crimes praticados por fazendeiros na região (tráfico, exploração ilegal de madeira, entre outros) pode ter o mesmo destino de Dilma. A expressividade é uma das marcas mais gritantes destes assassinatos, difundindo entre as comunidades e militantes locais o domínio de grupos hegemônicos no território.
Estabelecendo conexões entre morte de mulheres e mortes territoriais, outro aspecto que os femigenocídios ou femicídios territoriais evidenciam é que este tipo de crime, além de alimentar o ódio e a dominação contidos na relação entre o agressor versus a vítima (eixo vertical, relação entre homem e mulher), retroalimenta uma relação de compadrio entre o violador e outros homens (eixo horizontal). Se no primeiro eixo de análise predomina o controle sobre o corpo da mulher, no segundo eixo fica explícito que além de se opor a uma mulher, a atitude de violência tem como fim o reforço da masculinidade perante outros homens, componentes das máfias territoriais. Na segunda relação, portanto, os agressores coadunam com o que a autora chama de “mandato de masculinidade”. Ao exercer o seu papel dentro deste mandato, fica claro que o agente da violência não trabalha solitariamente, pois está respaldado por um grupo de homens, demonstrando que por trás de cada crime contra uma mulher na fronteira, existe uma lealdade fortalecida entre homens.
Dentro desta lógica de facções e de lealdade entre homens, os atos individuais dos executores dos crimes possuem estreita relação com uma reafirmação de pertencimento ou não a uma determinada irmandade criminosa, sendo seus atos condições para a confirmação ou não de sua força e virilidade masculinas. Ambas as relações confluem paralelamente no ato de mortificação, mas Segato (2018) afirma que a primeira força de relação muitas vezes é a que aparece mais a respeito deste tipo de crime, enquanto a segunda dimensão é ocultada, dificultando o esclarecimento das razões factuais que estão por trás deste mecanismo de violência contra as mulheres.
No outro caso apresentado, atentamos para o fato de que o pescador Edione Pessoa confessou o assassinato de Nicinha próximo ao lago da barragem da UHE Jirau. Com seu ato, ele responde nitidamente a uma lealdade masculina hegemônica naquele território, cumprindo seu mandato de masculinidade perante outros homens. Pela ótica de classe, poderíamos dizer que como pescador e atingido pela instalação da hidrelétrica e, portanto, reivindicando um auxílio oferecido pelo Consórcio ESBR, Edione teria mais afinidade com sua vítima, uma mulher, do que com os mandantes do assassinato. Afinal, uma das exigências de Nicinha como militante era justamente o aumento do valor de compensações para atingidos(as) da hidrelétrica, como Edione e sua família.
No entanto, o pertencimento ou reconhecimento de sua força e capacidade recai no fato de que o Consórcio se tornou mais aliado dele do que Nicinha, fazendo com que Edione, tão subjugado quanto ela, representasse naquele momento a lógica hegemônica do território, eminentemente masculina e proprietária. Assim, ao invés de se articular com seus semelhantes, reconhece como semelhante outros não a partir de afinidades de classe, mas a partir da masculinidade, contribuindo para eliminar uma força política feminina que se opunha a essa mesma lógica. Mesmo do lado dos(as) despossuídos(as), Edione converteu-se em colonizador e vilão “dentro de sua própria casa” por meio da reincidência de uma pedagogia da crueldade.
Podemos lembrar também do policial Antonio Miranda, envolvido na chacina de Pau D’Arco. Após uma das operações policiais que teve como resultado o incêndio e a destruição de barracos, pertences e plantações dos ocupantes sem-terra na Fazenda Santa Lúcia, Honorato Babinski Filho, o dono, ofereceu um churrasco aos policiais na sede da fazenda para comemorar o feito. Antes de o policial Miranda sair de cena com o grupo de outros policiais e com Babinski Filho para comemorar a operação, ele se direciona especificamente para Jane e dispara: “eu ainda te pego”.
O que justifica que no meio de um grupo de homens ocupantes de terra, Jane seja o alvo prioritário dos policiais? Certamente, um elemento elucidativo é a sua liderança e força política como mulher, tornando-se presa fácil das afrontas de Miranda para demarcar sua autoridade policial, mas também masculina, perante a vítima. Por outro lado, a ameaça de Miranda ainda cumpre um papel diante do grupo de homens que o cerca (tanto Babinski quanto os policiais), fortalecendo a fraternidade e a coalizão masculina entre eles. Nada mais sintomático da reafirmação do mandato de masculinidade ante outros semelhantes. Relembramos que desde este episódio Jane passou a sofrer atentados frequentes, inclusive com a presença de grupos de homens rondando a sua residência constantemente, ou por meio de intimidações via chamadas telefônicas, violações que culminaram pouco tempo depois no seu assassinato, momento em que também não foram poupados xingamentos misóginos, sendo ela, uma vez mais, o alvo principal dos executores.
Nesse sentido, pode-se dizer que não é possível compreender a fronteira sem considerar que por trás do assassinato de mulheres irrompe uma lógica masculina fratricida, cujo resultado dos atos de mortificação contribui para valorizar a dimensão expressiva dos crimes perante a comunidade circundante, assim como para reafirmar o mandato de masculinidade dos executores tanto diante de suas vítimas quanto diante de outros homens.
Repensar a fronteira a partir da destituição das políticas do comum “no feminino”
Quando nos remetemos ao termo “destituição”, estamos nos referindo a medidas de impedimento, afastamento ou de desapossamento (para pensarmos na despossessão) de uma determinada forma de fazer política, ou seja, de um determinado engajamento político conectado a uma luta política específica. Tais lutas, a depender dos “outros” que as protagonizam, são constantemente acossadas e surrupiadas pela política hegemônica territorial, que atua em coalizões sufocando células de resistência e que visam, pouco a pouco, eliminar um tipo de contestação política. No caso em questão, no qual contemplamos as lutas políticas protagonizadas por Dilma, Nicinha e Jane, ponderamos que a eliminação de suas ações está estritamente vinculada à eliminação de formas de políticas do fazer comum. Mas o que seria a produção do comum?
O comum é a expressão atribuída ao conjunto de práticas pautadas pela reprodução material e imaterial da vida social. A despeito de outras interpretações e contribuições acerca do conceito de comum, nossa posição coincide com a apresentada por Gutiérrez Aguilar, Navarro e Linsalata (2016) e Linsalata (2019), pesquisadoras constituintes do Seminário de Investigação Permanente Entramados Comunitarios y formas de lo Político,[5] cuja abordagem do comum se dá na sua potencialidade como relação social, e não como bem, coisa ou objeto tangível. Para as autoras, o comum é a atividade prática estabelecida entre homens e mulheres conjuntamente em seus afazeres do dia a dia, de modo a proporcionar vínculos de cooperação e solucionar problemas e desafios de forma compartilhada, focados na produção e reprodução satisfatória da vida como um todo. Trata-se de:
um conjunto diverso, heterogêneo e versátil de tramas sociais, comunidades locais, processos organizativos, experiências associativas – de diferente enraizamento e profundidade histórica – dentro das quais mulheres e homens de carne e osso cultivam, ensaiam, recuperam, reinventam, produzem e, em consequência, exercem – naqueles âmbitos da vida onde podem realizar – aquela antiga arte humana que a heteronomia capitalista se encarrega de expropriar a todo tempo: a de cooperar para conformar nossa existência social-material com base nos fins coletivamente deliberados; de decidir autonomamente sobre os assuntos comuns; a capacidade de autodeterminar coletivamente (a partir dos âmbitos mais imediatos da reprodução social) o sentido, os ritmos e os canais de nossa vida prática. (LINSALATA, 2015, p. 17 apud LINSALATA, 2019, p. 115, tradução nossa)
Para compreender a natureza dos assassinatos dentro da perspectiva de fronteira que estamos propondo, temos que incluir em nossa análise a perspectiva de “defesa e produção do comum como condição para a reprodução material da vida social” (AGUILAR, 2019, p. 93). E observar que a maior afronta da mentalidade proprietária de fronteira contra as mulheres-fronteira – como Nilce, Jane e Dilma – está justamente na tentativa de subverter tais práticas conectadas com a produção e reprodução da vida e, em consequência, com formas de fazer política “no feminino”.
Segundo Aguilar (2019), o capitalismo se esforça para sempre romper as formas políticas que esbocem outros tipos de relação ou laços que não sejam do individualismo ou de mercantilização, ou seja, que não estejam diretamente implicadas na produção de lucro. Assim, deslegitima os sentidos dos vínculos e relações conectadas a políticas de defesa e reprodução da vida e do comum, das articulações coletivas, substituindo-as sempre por regimes estéreis de individualidade e propriedade.
A tais formas do político, com frequência desdobradas do que alguma vez se denominou como “âmbito social-natural” – e, mais recentemente, de “política das necessidades vitais” – que se contrapõem antagonicamente à quase sempre violenta apropriação privada dos bens comuns – e que, em seus desdobramentos, modificam drasticamente as mais fundamentais relações mando-obediência que segmentam, hierarquizam e estruturam as sociedades, é o que chamo política no feminino. (AGUILAR, 2019, p. 69 e 70, tradução nossa, grifo no original)
Neste sentido, o que a autora sugere como política no feminino nada mais é do que um modo específico de fazer política que se distingue radicalmente de uma forma única de compreensão e prática da política, que é a forma institucionalizada. Por essência, tal política no feminino se opõe aos “cânones clássicos” da política, que é estruturalmente masculina e conectada com a acumulação do capital e com os ditames da propriedade privada, da hierarquia, do monopólio, da exclusão e do alijamento de participações coletivas na tomada de decisões. As políticas do comum no feminino, por outro lado, têm por prioridade o compromisso coletivo com a reprodução da vida em seu conjunto.
As políticas no feminino, então, são políticas que reivindicam e valorizam a inclusão e a participação da política como parte do cotidiano, que têm como base as formas comunitárias de discussão. Isso não quer dizer que as políticas no feminino sejam exclusivamente pautadas e executadas por mulheres, pois elas também incluem as práticas políticas realizadas por alguns homens. No entanto, em virtude da associação imediata entre as mulheres e as funções de reprodução da vida, e buscando uma adjetivação que faça o contraponto às políticas hegemônicas tradicionais centradas no Estado – aqui entendido como polo masculino –, elas recebem o predicado “feminino”.
A despeito de serem interpretadas como um modelo de governo, Aguilar (2019) enfatiza que essas políticas se referem a um caminho de vida e luta, traduzindo-se mais em uma linguagem do que em uma estrutura normativa. São, pois, parte de uma gramática de lutas sociais que se distingue das políticas convencionais, na medida em que questionam e desestruturam antigas relações de poder e de mando que estão presentes nas políticas modernas, fundamentadas no capital e no Estado. Como política subversiva e promotora da autonomia, a forma da “política do comum no feminino” prima pela apropriação da palavra e pela decisão coletiva em relação àquilo que é de todos. Por esta razão, torna-se tão incômoda.
Entendemos que as mulheres-fronteira aqui enunciadas fazem parte de contextos coletivos que Aguilar e Lohman (2019) intitulam de “tramas” comunitárias (entramados comunitários), uma rede de relações sociais que se empenha na produção do comum. Mas o comum não é equivalente a um bem material ou natural necessariamente que se partilha entre todos(as), mas trata-se especificamente de uma forma de produção de relações sociais que estão na base de subsistência de comunidades indígenas, originárias, camponesas, urbanas autônomas e outras que se preocupam em reproduzir a vida prioritariamente. Tal reprodução se dá tanto em momentos de luta quanto em momentos de festa, formas estas não completamente incorporadas ou mediadas pelas relações capitalistas. Trocando em miúdos, o comum é a “forma natural” de reprodução da vida, tendo como base a produção de valores de uso, não de troca.
Entendemos, pois, as tramas comunitárias como constelação de relações sociais de “compartimento” – jamais harmônica ou idílica, mas pletórica de tensões e contradições – que operam coordenadas e/ou cooperativamente de forma mais ou menos estável no tempo com objetivos múltiplos – sempre concretos, tão diversos quanto renovados, ou seja, situados – que, por sua vez, tendem a cobrir ou a ampliar a satisfação de necessidades básicas da existência social e, portanto, individual. Agora bem, é claro que essa forma das relações sociais se potencializa nos momentos de aprofundamento do antagonismo social, nos quais se desdobram ações de luta que desafiam, contêm ou fazem retroceder as relações capitalistas. (AGUILAR; LOHMAN, 2019, p. 24-25, tradução nossa, grifo no original)
O que pode ser mais antagônico à pulsão da vida do que a morte? É por isso que nos momentos de aprofundamento dos antagonismos gerados pelo sistema, ou em momentos de ofensiva deste sistema sobre os recursos que estão em jogo na fronteira, inevitavelmente provocam-se mais mortes e violências, pois a única resposta para grupos comunitários que têm na sustentação da própria vida seu maior objetivo de luta é promover mais morte, destituindo-os das suas maneiras de viver.
E a força do simbolismo das formas de morrer que atingiram estas mulheres repercute no fato de que não são somente modos de eliminação da vida como oposto da morte, mas como eliminação de um conjunto de formas de estar-saber-fazer em vida, cotidianas, com um conjunto de práticas que pretendem que sejam destruídas a partir de um assassinato com um caráter notório de exemplaridade. O assassinato de mulheres-fronteira tem uma marca tanto física como simbólica e/ou comunicativa, pois é o padecimento do corpo destas mulheres que serve de lição moral para que aqueles(as) que estão ao redor também desistam de saber-viver antes mesmo de serem assassinados de forma literal.
Mas há outro elemento importante em jogo: para Segato, sem a subordinação psicológica e moral do outro não há poder soberano, dado que o poder da morte não é suficiente. A colonização é uma etapa mais eficaz no alcance de seu objetivo do que o extermínio em massa, “porque somente o poder de colonização permite a exibição do poder de morte diante daqueles destinados a permanecer vivos” (2005, p. 270-271), transformando-se em audiência para o dominador por parte de quem testemunha a morte ou o massacre. Talvez por isso as práticas de ameaças de morte e terrorismo psicológico, no caso das mulheres vítimas de violência na fronteira, sejam largamente utilizadas ao longo do tempo, muito mais do que o próprio assassinato, dado que seu poder comunicativo é avassalador, não necessariamente produzindo a morte, mas “deixando morrer” aos poucos.
Assim, o assassínio e o assédio psicológico e moral caminham lado a lado com os objetivos de destituição do comum. Afinal, “a politicidade concreta e coletiva que se gera na trama comunitária é, pois, também, uma dimensão específica da produção do comum que se baseia em uma dimensão específica do trabalho comunitário” (AGUILAR; LOHMAN, 2019, p. 38). Portanto, na fronteira não se afronta, com o ato de violência, somente a vida como materialidade corpórea, mas a vida como conjunto de atributos políticos que tornam possível realizá-la, sendo a subsistência com autonomia um destes principais atributos que são roubados em momentos de violência. O objetivo máximo é tornar única a relação fundamentada na propriedade privada e individualizada, suplantando as relações de comunalidade e coletividade envolvidas em cada contexto de ataque.
Conclusões: algumas contribuições das lutas políticas de mulheres-fronteira
Somente “lutas de fronteira” – para pegar emprestado um termo empregado por Fraser e Jaeggi (2020) – podem ser acionadas para desmobilizar a “mentalidade de fronteira” aqui discutida. Para as autoras, tão importantes quanto as lutas contra o capital, estão as lutas contra o racismo, o imperialismo e o sexismo, fragmentadas pelo próprio sistema. Porque estas últimas incluem em seu escopo aqueles processos de reivindicação que advêm de práticas de expropriação e, portanto, de confisco de bens comuns visando à acumulação, aspecto em muito negligenciado pelas lutas em torno exclusivamente do conceito de trabalho. “O que denominei de ‘lutas de fronteira’ não emerge de ‘dentro’ da economia, mas nos pontos em que a produção encontra a reprodução, a economia encontra a política e a sociedade humana encontra a natureza não humana” (FRASER; JAEGGI, 2020, p. 187).
São exatamente estes os pontos nodais que derivam da atuação política das mulheres na Amazônia em torno do comum: produção e reprodução, economia e política e sociedade humana e natureza. Enquanto tais núcleos são abordados de forma independente, como se tivessem vida própria no âmbito da exploração da fronteira, a prática de uma luta comunitária demonstra que não é possível dissociá-los. As atuações comunitárias de Dilma, Nilce ou Jane, por exemplo, promovem justamente uma aproximação desses universos, razão das tentativas de desvinculação de tais demandas via mortificação.
Apesar de serem demandas encampadas por mulheres, ou lutas lideradas por mulheres-fronteira, as pautas delas não se circunscrevem a uma luta por causas simplificadamente relacionadas ao feminino ou feminismo. São lutas não fragmentárias e dependentes de outras lutas, pois a partir do momento que se pautam no entorno do comum, traduzem-se na produção e reprodução da vida, lutas pela natureza e pelo direito ao exercício de humanidades subjugadas, lutas que aproximam a causa econômica da política do cotidiano, da política do viver. O ponto para o qual atentamos é que tais lutas não podem ser reduzidas a lutas nucleadas ou fragmentadas, pois elas têm, por essência, o posicionamento contrário ao desenvolvimento, à predação e à expropriação histórica da natureza amazônica. A nossa visão acerca destas lutas femininas é que se tratam, em suma, de lutas muito mais universais do que particulares, como equivocadamente poderiam ser interpretadas. Esta distinção, no entanto, não impede que suas práticas cotidianas sejam formas de fazer política que ponham em xeque a “masculinização dos territórios”.
A partir destes elementos, podemos concluir que as lutas de mulheres-fronteira contribuem para produzir – por que não? – fronteiras, mas, neste caso, no sentido de restrição à homogeneização de um modo de produção do espaço. Como se no embate contraditório, as lutas femininas impedissem, desde núcleos em pequena escala, o espraiamento da lógica proprietária/branca/masculina/necropolítica (e tantos outros adjetivos!) da fronteira. Tais lutas funcionam como uma espécie de contenção de danos, de contenção de uma determinada moralidade e normatividade de ocupação do espaço: a moralidade do desenvolvimento, da modernização, da pátria, do produtivismo e de tantos outros substantivos, cujos principais efeitos históricos têm sido a produção da morte e do esvaziamento da vida para os que estão às margens desta lógica pelo simples fato de serem diversos.
Tais lutas são, portanto, contenção de uma condição de fronteira que insiste em se universalizar destituindo o lugar e o valor da vida do outro, dele tirando o teto, dele tirando o chão, tentando promover um apagamento de suas referências e tentando eliminar formas de fazer política a partir da eliminação da própria vida deste outro – e destas “outras”. Mais do que discutir a dimensão do espaço no debate sobre fronteira, importa incluir a dimensão da condição-fronteira no espaço, esta última produzida prioritariamente por tentativas de apagamento de corpos políticos de mulheres-fronteira por meio da violência e dos genocídios de gênero, raciais, culturais e outros.
Referências
AGIER, Michel. Migrações, descentramento e cosmopolitismo: uma antropologia das fronteiras. Maceió: EDUFAL; São Paulo: Editora da Unesp, 2015.
AGUILAR, Raquel Gutiérrez. Común, ¿hacia dónde? Metáforas para imaginar la vida colectiva más allá de la amalgama patriarcado, capitalismo y dominio colonial. In: EL APLANTE (Org.). Producir lo común. Entramados comunitarios y luchas por la vida. 1. ed. Madri: Traficantes de Sueños, 2019. p. 79-93.
AGUILAR, Raquel Gutiérrez; LOHMAN, Huáscar Salazar. Reproducción comunitaria de la vida. Pensando la transformación social en el presente. In: EL APLANTE (Org.). Producir lo común. Entramados comunitarios y luchas por la vida. 1. ed. Madri: Traficantes de Sueños, 2019. p. 21-44.
ANZALDÚA, Gloria. Borderlands/La Frontera: the new Mestiza. São Francisco: Aunt Lute Books, 1987.
BECKER, Bertha. A fronteira em fins do século XX: oito proposições para um debate sobre a Amazônia (1990a). In: VIEIRA, Ima Célia Guimarães. As Amazônias de Bertha K. Becker: ensaios sobre geografia e sociedade na região Amazônica, v. 1. 1. ed. Rio de Janeiro: Garamond, 2015. p. 265-279.
BECKER, Bertha. Amazônia (1990b). In: VIEIRA, Ima Célia Guimarães. As Amazônias de Bertha K. Becker: ensaios sobre geografia e sociedade na região Amazônica, v. 2. 1. ed. Rio de Janeiro: Garamond, 2015. p. 7-94.
BRUM, Eliane. A miliciarização da Amazônia: como o crime vira lei e o criminoso “cidadão de bem” na maior floresta tropical do mundo. In: Comissão Pastoral da Terra – CPT. Conflitos no Campo Brasil 2019. Goiânia: CPT Nacional, 2020. p. 105-114.
BUTLER, Judith; ATHANASIOU, Athena. Desposesión: lo performativo en lo político. Tradução de Fernando Bogado. 1. ed. Buenos Aires: Eterna Cadencia, 2017.
CASTRO-GÓMEZ, Santiago. Ciencias Sociales, violencia epistémica y el problema de la ‘invención del otro’. In: LANDER, Edgardo (Org.). La colonialidad del saber: Eurocentrismo y ciencias sociales – perspectivas latinoamericanas. Buenos Aires: CLACSO, 2005. p. 87-95.
CHAUÍ, Marilena. Brasil: mito fundador e sociedade autoritária. 5. ed. São Paulo: Fundação Perseu Abramo, 2004.
FERRARI, M. As noções de fronteira em geografia. Perspectiva Geográfica, Cascavel, v. 9, n. 10, p 1-25, 2014. Disponível em: https://e-revista.unioeste.br/index.php/pgeografica/article/view/10161. Acesso em: 10 out. 2022.
FRASER, Nancy; JAEGGI, Rahel. Capitalismo em debate: uma conversa na teoria crítica. Tradução de Nathalie Bressiani. 1. ed. São Paulo: Boitempo, 2020.
GROSFOGUEL, Ramón. Para descolonizar os estudos de economia política e os estudos pós-coloniais: transmodernidade, pensamento de fronteira e colonialidade global. Revista Crítica de Ciências Sociais, Coimbra, 80, p. 115-147, 2008. Disponível em: https://journals.openedition.org/rccs/697. Acesso em: 8 set. 2022.
GUTIÉRREZ AGUILAR, Raquel; NAVARRO, Mina Lorena; LINSALATA, Lucía. Repensar lo político, pensar lo común. Claves para la discusión. In: SOLIS, Israel Daniel Inclán; LINSALATA, Lucía; MONCAYO, Márgara Millán (Orgs.). Modernidades alternativas. Cidade do México: FCPyS / UNAM, 2016. p. 377-417.
LINSALATA, Lucía. Repensar la transformación social desde las escalas espacio-temporales de la producción de lo común. In: In: EL APLANTE (Org.). Producir lo común. Entramados comunitarios y luchas por la vida. 1. ed. Madri: Traficantes de Sueños, 2019. p. 111-120.
MALHEIRO, Bruno. Quando o único projeto para a Amazônia é matar. Amazônia Latitude, [s.l.], 15 jun. 2022. Disponível em: https://bit.ly/3OgNwAy. Acesso em: 17 jun. 2022.
MARTINS, José de Souza. O tempo da fronteira. Retorno à controvérsia sobre o tempo histórico da frente de expansão e da frente pioneira. Tempo Social, São Paulo, v. 8, n. 1, p. 25-70, 1996.
MARTINS, José de Souza. Fronteira. A degradação do Outro nos confins do humano. São Paulo: Hucitec, 1997.
MBEMBE, Achille. Brutalisme. Paris: La Découverte, 2020.
MBEMBE, Achille. Crítica da razão negra. Tradução de Marta Lança. Lisboa: Antígona, 2014.
MBEMBE, Achille. Necropolítica. Tradução de Renata Santini. São Paulo: N-1, 2018.
MENEGHEL Stela Nazareth; LERMA, Betty Ruth Lozano. Feminicídios em grupos étnicos e racializados: sínteses. Ciência & Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v. 22, n. 1, p. 117-122, 2017.
MEZZADRA, Sandro; NEILSON, Brett. La frontera como método – o la multiplicación del trabajo. Tradução de Verónica Hendel. Madri: Traficantes de Sueños, 2017.
MORAES, Antonio Carlos Robert. Geografia histórica do Brasil: capitalismo, território e periferia. São Paulo: Annablume, 2011.
SEGATO, Rita Laura. Contra-pedagogias de la crueldad. 1. ed. Buenos Aires: Prometeo Libros, 2018.
SEGATO, Rita Laura. Que és um feminicidio. Notas para un debate emergente. Brasília: Serie Antropologia, 2006. p.1-11.
SEGATO, Rita Laura. Território, soberania e crimes de segundo Estado: a escritura nos corpos das mulheres de Ciudad Juarez. Estudos Feministas, Florianópolis, v. 13, n. 2, p.265-285, 2005.
TINOCO, Juliana. O massacre de Pau D’Arco. Revista Piauí, edição 135, dez. 2017, Anais do conflito agrário. Disponível em: http://piaui.folha.uol.com.br/materia/o-massacre-de-pau-darco/. Acesso em: 13 ago. 2020.
TOLEDO, Victor; BARREIRA-BASSOLS, Narciso. A memória biocultural: a importância ecológica das sabedorias tradicionais. São Paulo: Expressão Popular, 2015.
VELHO, Otávio Guilherme. Capitalismo autoritário e campesinato: um estudo comparativo a partir da fronteira em movimento. São Paulo; Rio de Janeiro: Centro Edelstein de Pesquisas Sociais, 1979 [2009a].
VELHO, Otávio Guilherme. Frentes de expansão e estrutura agrária: estudo do processo de penetração numa área da Transamazônica. Rio de Janeiro: Centro Edelstein de Pesquisas Sociais,1972 [2009b].
WEGNER, Robert. A conquista do Oeste: a fronteira na obra de Sérgio Buarque de Holanda. Belo Horizonte: Editora da UFMG, 2000.
WEISSHEIMER, Marco. Brasil é o 4º país do mundo que mais mata defensores de direitos humanos. Sul 21, 9 dez. 2021. Disponível em: https://bit.ly/3N5INk5. Acesso em: 17 jun. 2022.
Como citar
ROUGEMONT, Laura dos Santos. Lutar às margens, ser a própria margem: revisitando o debate da fronteira pelo prisma das lutas políticas de mulheres na Amazônia. Estudos Sociedade e Agricultura, Rio de Janeiro, v. 31, n. 1, e2331104, 29 mar. 2023. DOI: https://doi.org/10.36920/esa31-1_04.
|
Creative Commons License. This is an Open Acess article, distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License CC BY 4.0 which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium. You must give appropriate credit, provide a link to the license, and indicate if changes were made. |