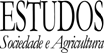
v. 30, n. 1, janeiro a junho de 2022 (publicação contínua), e2230111
|
Seção Temática Saberes, políticas e éticas da terra e do ambiente entre camponeses, quilombolas e povos tradicionais
|
Recebido: 15.11.2021 • Aceito: 07.04.2022 • Publicado: 24.05.2022
Artigo original /
Revisão
por pares cega / Acesso aberto
Água, terra e
memória no “gerais” do rio São Francisco: Cabeceirinha, município de Januária,
Minas Gerais
Water, land and memory in the “gerais” of the São Francisco River:
Cabeceirinha, in Januária, Minas Gerais
![]() Keyty de Andrade Silva [1]
Keyty de Andrade Silva [1]
![]() Eduardo Magalhães Ribeiro [2]
Eduardo Magalhães Ribeiro [2]
![]() Gildarly Costa da Cruz [3]
Gildarly Costa da Cruz [3]
DOI: https://doi.org/10.36920/esa-v30-1_st03
Resumo: Ao longo de décadas, famílias de agricultores se deslocaram pelos “gerais” do Alto-Médio São Francisco, no Norte do estado de Minas Gerais. Com acesso livre às terras e às águas, “geralistas” adaptaram técnicas de manejo que asseguraram produção abundante até finais do século XX, quando a tomada de terras comuns promovida pela “modernização agrícola” foi seguida pela implantação de unidades de conservação. Essas mudanças tiveram papel fundamental na história vivenciada pela população rural e suas narrativas mesclam a avaliação das transformações do acesso aos recursos e ao território com a criação de formas de resistência e adaptação a novos modos de viver, fazer e produzir. A memória sustenta a avaliação e o enfrentamento. Este artigo analisa as relações entre população, terra e água, investigando a comunidade de Cabeceirinha, banhada pelo Pandeiros, um dos últimos rios vivos do território. Usando técnicas da etnografia e de pesquisa social, debate a partir das histórias e memórias de que maneiras as restrições fundiárias, legais e ambientais modificaram costumes e, contraditoriamente, fundamentam a recriação cotidiana das condições de vida.
Palavras-chave: tomada de terras; Semiárido; agricultura familiar.
Abstract: Over several decades, farming families moved to the "gerais" region of the Upper-Middle São Francisco River in northern Minas Gerais. With free access to land and water, the “geralistas” adapted management techniques that ensured abundant production until the end of the twentieth century, when the seizure of common lands in the name of “agricultural modernization” was followed by the implementation of conservation units. These changes were fundamental to the experiences of the rural population, and their narratives illustrate a combination of assessing changes in access to resources and territory with creating forms of resistance and adaptation to new ways of living, doing, and producing. Memory supports this assessment and confrontation. This article analyzes the relationships between population, land, and water in the Cabeceirinha community, on the banks of the Pandeiros River, one of the last living rivers in this region. Ethnographic and social research techniques are used to discuss from stories and memories how land, legal, and environmental restrictions have changed customs while simultaneously forming the foundation of the daily recreation of living conditions.
Keywords: land seizure; Semiarid region; family farming.
Introdução
Cabeceirinha denomina um conjunto de comunidades rurais na nascente do rio Pandeiros, a 120 quilômetros da sede do município de Januária, no Alto-Médio São Francisco, Norte de Minas Gerais. Reúne 78 famílias dos – como dizem os moradores – “povoados” de Tatu, Resfriado, Goiabeira, Raposa, Ribeirão Curralinho e a Cabeceirinha, propriamente dita. Nos anos 2010, a denominação de Cabeceirinha foi estendida ao conjunto dos “povoados”, aceita e usada como referência para serviços de educação, saúde e assistência social. Lá, ao contrário de outras comunidades rurais da região, tem abundância de corpos d’água, ainda vivos nessa porção sul do Semiárido brasileiro, designada pelos moradores como “gerais” – chapadões de cerrado ralo cortados por veredas. Cabeceirinha se destaca, também, pelas relações específicas que existem entre sua população e o território, costumes e memórias que associam os agricultores às águas e ao gerais.
O abastecimento de água no Semiárido sempre foi difícil. O gerais do Alto-Médio rio São Francisco era exceção: atravessava longos períodos secos por conta da precipitação reduzida e inconstante, mas a população rarefeita e o manejo das fontes naturais garantiam a produção e confortava a vida cotidiana. No entanto, as tomadas de terras, desmates, drenagens e plantio de monoculturas nos anos finais do século XX liquidaram com os corpos de água. Veredas, lagoas e brejos secaram; rios, como Periperi, Tamboril e dos Cochos praticamente desapareceram. O rio Pandeiros permaneceu vivo, apesar da perenidade ameaçada. Abastece “geralistas” – moradores que vivem no gerais – e sustenta na foz o pantanal que é considerado o principal berçário de peixes do rio São Francisco. Pela rara beleza e importância ecológica e histórica, a bacia do Pandeiros foi transformada em Unidade de Conservação (UC) e ficou sujeita a controles estritos.
Monopólio da terra, escasseamento de água e restrições legais de acesso aos corpos d’água redefiniram o estilo de vida e produção dos moradores das beiras do Pandeiros, forçando a reconversão da produção, da ocupação e das relações que os unem ao território.
Este artigo analisa a dialética de destruição/recriação das condições de existência, memória e pertencimento dos moradores de Cabeceirinha, e do rio cujas águas são ao mesmo tempo usufruídas pelas comunidades rurais, tomadas por “firmas”[4] e vigiadas por agências ambientais. Descrever essas transformações com base nas narrativas e visões dos agricultores de Cabeceirinha revela como essa comunidade transformou a história em instrumento da luta contra o esquecimento e ferramenta de recriação dos costumes.
Nessa perspectiva, o Pandeiros é um território emblemático para compreender os efeitos da expropriação de terras comuns, da imposição da norma legal e da mudança forçada das relações entre população e ambiente. É, também, exemplar para compreender a persistência de vínculos da população de Cabeceirinha com o território e, sobretudo, demonstra uma relação visceral daqueles agricultores com a água.
Os agricultores de Cabeceirinha perpetuaram referências aos costumes e às lembranças. A opressão, violência e repressão cotidianas encontraram respostas fugidias, mas resilientes, que se manifestam de forma igualmente sólida no lembrar e no resistir. Resistem porque renovam lembranças.
Procedimentos da pesquisa
Os moradores de Cabeceirinha conservam entre si laços estreitos de parentesco, cimentados por vizinhança, casamentos e compadrio. Conhecem no detalhe os recursos do gerais, que usam na produção e na vida cotidiana, e se ocupam principalmente com lavouras, hortas, criação de animais, prestação de serviços e produção de farinha de mandioca. Aposentados e pensionistas correspondem a 20% da população. Contam com escola que atende até a 8ª série e uma ativa associação de moradores que instalou energia elétrica e água encanada em todas as residências.
Este artigo resulta de estudo etnográfico feito entre os anos de 2018 e 2020, que explorou as relações entre população, território e as condições ambientais encontradas pelas famílias no gerais investigando os modos de organização da vida, da sociedade e da produção, buscando informações no trânsito cotidiano, na “labuta” – o trabalho diário –, com o gado, nas lavouras e no trabalho da casa. As técnicas da etnografia permitiram compreender a cultura local com base nas referências êmicas e nos seus signos interpretáveis (GEERTZ, 1989; CUNHA; ALMEIDA, 2002). A entrevista aberta liberou o entrevistado para abordar os temas propostos da maneira que considerasse mais adequada, principalmente tratando de narradores qualificados, especialistas que conhecem a fundo a história e a comunidade (BRANDÃO, 1986, 2007). Essas técnicas permitiram compreender as relações materiais entre população e gerais, que estão em recriação perene, e aspectos subjetivos, como percepções específicas do ambiente e memórias recorrentes. As memórias dos moradores de Cabeceirinha são acionadas como delimitadoras de identidade, são meios de defini-los como agricultores, pessoas que ocupam uma posição no mundo, cidadãos. Usar da memória, assim, é acionar uma ferramenta de interpretação do mundo, de releitura da história e de fundamentar lutas por terra, água e direitos. Não é, assim, uma posição de saudosismo. Para além disso, é a base da organização comunitária que se apoia na história coletiva do território e individual de cada família que, relatando mudanças, reafirma novas formas de se relacionar com o território (GODOI, 1999; HOBSBAWM; RANGER, 1984). A convivência cotidiana com os moradores possibilitou aos pesquisadores entender as condições específicas da vida em Cabeceirinha, sobretudo a interação da população com o território no espaço e no tempo, identificando as referências críticas das mudanças e suas principais consequências (GIL, 1999; MAY, 2001; MARQUES; VILLELA, 2005).
As atividades das famílias de Cabeceirinha variam, conforme relatam, no correr das estações do ano: no “tempo das águas” – período de chuvas –, que ocorre normalmente de outubro a março; e no “tempo da seca” – período sem chuvas –, geralmente de abril a setembro. As campanhas de campo, períodos em que a equipe de pesquisa esteve em atividade, foram, então, distribuídas ao longo de janeiro e outubro de 2018, nos meses de julho, agosto, setembro e novembro de 2019 e janeiro de 2020.
As campanhas de campo alternadas foram dando corpo aos temas da pesquisa, à medida que os moradores destacavam assuntos relevantes que surgiam de conversas cotidianas. Entre estes, as lembranças mereceram atenção especial: essa matéria móvel, resiliente e fugidia, conforme definiram Bosi (1979), Thompson (1992) e Queiróz (1991), ganhou importância à medida que se afirmava a dualidade das memórias dos moradores de Cabeceirinha.
As lembranças foram contrapostas aos documentos e histórias do gerais, mas esses suportes foram insuficientes para compreendê-las, pois as referências ao ambiente natural, ao cotidiano e à produção do passado eram muito específicas, firmadas em marcos sempre maiores que a memória individual. Lembranças, na verdade, funcionavam como balizas cravadas no gerais, dando rumo ao esforço diário dos geralistas para lutar e resistir no território. Essas memórias, segundo Boelens (2014), descrevem o passado, mas também o presente e o futuro.
Assim, as memórias dos moradores de Cabeceirinha se converteram também nas referências de temporalidade adotadas neste artigo. Tomando como base lembranças e relatos colhidos na pesquisa e buscando retratar as histórias vivenciadas, os resultados aqui apresentados dividem o tempo – o antes e o agora –, de acordo com a perspectiva narrada pelos entrevistados. A cronologia é baseada na ideia de mudança, a leitura própria da história feita na comunidade que indica a transformação econômica, social e ambiental que apartou população e ambiente para organizar a vida em novas bases.
O município de Januária é importante na história do rio São Francisco. Até os anos 1980, seu porto era central na navegação fluvial, rota de escoamento da produção de Goiás e do gerais (COELHO, 2005; RIBEIRO, 2010). No Brasil Central, “gerais” designa áreas de terra livre, “solta” ou comunal, espaços dilatados de coleta e criação de gado sem cercas divisórias, bebendo nas aguadas das veredas (BERNARDES, 1995; DAYRELL, 2019). O gerais da margem esquerda do Alto-Médio São Francisco fica no domínio do Semiárido, na transição entre o Cerrado e a Caatinga, com paisagem formada por chapadas de vegetação arbustiva, solos arenosos profundos e veredas, geralmente muito povoado (RIBEIRO, 2010; CRUZ et al., 2020).
No Semiárido as precipitações ficam abaixo de 1.000 milímetros, são irregulares, concentradas em curtos períodos. Essa condição amplia o efeito da escassez e intensifica a seca. No entanto, as características desse clima são heterogêneas e, às vezes, em entremeio à Caatinga, existem áreas úmidas e bem servidas de água, os “brejos” – ambientes úmidos, de terra escura e fértil, usados para cultivo de mantimentos –, que amenizam os efeitos do clima, asseguram produção e orientaram o povoamento formando oásis em meio ao clima seco (ANDRADE, 1998; SILVA, 2007).
Era assim o gerais do Alto-Médio rio São Francisco. O complexo de brejos, veredas e rios sustentou a população afluente de agricultores familiares em meio aos chapadões arenosos desde o século XVIII, fazendo lavouras irrigadas na estação seca – o sistema de “água de rega”[5] –, coleta de frutos nativos no tempo das chuvas e criação extensiva de bovinos durante todo o ano. O acesso livre às terras atraiu a população rarefeita que usava técnicas adaptadas de produção (COELHO, 2005; GALIZONI, 2005). As terras comuns, no entanto, eram sujeitas às normas costumeiras que regulavam coleta, solta de animais, uso e manejo das águas. O controle coletivo sobre os recursos e as relações de domínio não podia ser compreendido no sentido estrito do conceito de propriedade (GALIZONI, 2005).[6]
As interações entre agricultores e gerais mudaram a partir dos anos 1970, quando agências públicas passaram a financiar empresas com juros baixos e prazos longos, para tomar terras tradicionalmente ocupadas, como aquelas de Cabeceirinha. Esse processo de modernização agrária,[7] generalizado no Cerrado, se associava ao uso de técnicas intensivas de produção e à expansão da área agrícola, mas também se relacionava aos interesses bancários, industriais e fundiários. Foi, no entanto, singular em cada lugar. As chapadas de gerais, consideradas áreas vazias de moradores, terras de baixa produtividade agrícola, de preço reduzido e, sobretudo, baseadas em formalização muito frágil, em poucos anos foram ocupadas por “firmas”. Estas são, de modo geral, empresas subsidiárias de empreendimentos consolidados em outras regiões, que cercaram terras comuns, drenaram corpos d’água e transformaram em carvão a vegetação nativa para implantar monoculturas (CORREIA, 2010; ELOY et al., 2016; DAYRELL, 2019).
Para compensar o gigantesco passivo ambiental criado por essa ofensiva empresarial, nos anos 1990 foram criadas as unidades de conservação no gerais, com a motivação preservacionista que frequentemente orienta a criação dessas unidades, que, nesse caso, exigiram a retirada da população (LOCKE; DEARDEN, 2005; PETERSON; PETERSON; PETERSON, 2005; FRANÇOSO et al., 2015).
No Brasil, a Constituição Federal de 1937 (BRASIL, 1937) já ditava o papel do Estado na proteção de espaços com belezas naturais e monumentos de valor histórico, com base em uma visão conservacionista. Em 1965, foi instituído o “Código Florestal” (BRASIL, 1965) que criou Áreas de Preservação Permanente (APP) e Reserva Legal, que, mais tarde, foram vinculadas ao artigo 225 da Constituição de 1988 (BRASIL, 1988).
Mais adiante, no ano 2000, foi instituído o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (Snuc), que estabeleceu critérios para a criação, implantação e gestão das unidades de conservação. No Snuc, as UCs são divididas nos grupos de: Proteção Integral, que visam à “[...] manutenção dos ecossistemas livres de alterações causadas por interferência humana, admitido apenas o uso indireto dos seus atributos naturais”; e Uso Sustentável, que permitem a “[...] exploração do ambiente de maneira a garantir a perenidade dos recursos ambientais renováveis e dos processos ecológicos, mantendo a biodiversidade e os demais atributos ecológicos, de forma socialmente justa e economicamente viável” (BRASIL, 2000).
As áreas protegidas do Snuc, contudo, são geridas, em sua maioria, por instâncias governamentais. No caso das UCs de Uso Sustentável, como Área de Proteção Ambiental (APA), Área de Relevante Interesse Ecológico (Arie) e Reserva Extrativista (Resex), o manejo permitido deve ser controlado pelas instâncias fiscalizadoras do Estado, que distanciam o olhar e a voz comunitária das normas legais. Diegues (1999) aponta que este modelo preservacionista representa um “[...] alto custo social e político, pois adota um enfoque autoritário uma vez que, na maioria das vezes, as comunidades locais não são consultadas a respeito da criação de uma área protegida restritiva sobre seu território” (DIEGUES, 1999, p. 7). Embora existam exemplos factuais de que é possível conservar com presença humana (DIEGUES, 1999; OSTROM; NAGENDRA, 2006; CARRANZA et al., 2013; GUADILLA-SÁEZ; PARDO-DE-SANTAYANA; REYES-GARCÍA, 2020) e que essa conexão pode contribuir para aumentar a diversidade e a qualidade dos recursos (DIEGUES, 1999; BRANCO et al., 2019), a maioria das Unidades de Conservação restringiu o uso de solo, vegetação e água pelas populações já assentadas.
Em 2019, as Unidades de Conservação ocupavam 1,2 milhão de hectares no Alto-Médio São Francisco (DAYRELL, 2019), e Cabeceirinha ficou localizada dentro da APA do Rio Pandeiros, considerado “rio de preservação permanente” em Minas Gerais, pela Lei Estadual no 15.082, de 27 de abril de 2004, graças às características ambientais e históricas e à beleza natural. Pressionada entre “firmas” e UCs, a agricultura de Cabeceirinha ficou confinada às beiras de veredas. As fontes de água, as áreas de chapadas e as terras de plantio foram reduzidas em consequência da privatização do gerais e das normas de preservação no rio Pandeiros. Então, geralistas tiveram que criar estratégias para conviver com a nova regulamentação do território (GALIZONI, 2005; MEDEIROS, 2015).
Água e terra são dotações essenciais nas sociedades tradicionais; concebidas como dádivas, fazem parte do sagrado e dos mitos fundadores de vida e cultura (DIEGUES, 2007). Comunidades tradicionais vinculam o domínio da terra ao trabalho e consideram o acesso à água um direito natural. O manejo da terra nessas sociedades rurais obedece a uma lógica que adéqua a lida humana às características da terra, orientada por referências dadas pelo solo e pelas plantas. A terra, assim, recebe as raízes das culturas, mas também enraíza as sociedades; alimenta, mas estimula a curiosidade, a experimentação e o conhecimento que levam à criação de técnicas materiais específicas e à adequação da dieta às plantas, ao solo e ao meio (GALIZONI, 2005; DIEGUES, 2007; SHIVA, 2007).
A água faz parte do cotidiano dessas sociedades. Ela dá vida à terra e ao território, orienta os sistemas de produção e confere base às identidades específicas e às formas de se relacionar com o meio. A água influi, enfim, na organização social, na divisão do trabalho e nas relações de gênero, porque no rural, sobretudo no Semiárido, a mulher é protagonista da relação com a água, é quem responde pelo abastecimento e despende esforços para prover a família. Mudanças na oferta e escassez, portanto, afetam muito as jornadas de trabalho da mulher, que será, além de prejudicada, responsável por viabilizar a provisão da família. Desse modo, o estudo da água na sociedade tradicional deve passar pelo corte de gênero (GALIZONI, 2005; DIEGUES, 2007; SHIVA, 2007; CASTRO-DIAZ; LOPEZ; MORAN, 2018), contemplando restrições e ritualidades (SOARES, 2007; OCAMPO-FLETES; PARRA-INZUNZA; RUIZ-BARBOSA, 2018). Nessas sociedades, afinal, a água deve ser entendida como fato social (DIEGUES, 2007), referência de espaço (GALIZONI, 2005), produção (SHIVA, 2007), consumo (SOARES, 2007) e ideia própria de tempo (GALIZONI, 2005).
Tempos de Cabeceirinha
Quando perderam terras e águas, os moradores de Cabeceirinha perderam também a antiga autonomia que os ligava ao território e à condição de agricultores. Assim, precisaram reinventar seus vínculos com a terra, e para isso recorrem então à memória como resistência, e por isso o tempo dual tem tanta importância para eles. Reinventam e experimentam o agroextrativismo para fundamentar ao mesmo tempo a condição de agricultores e justificar a necessidade de retomar as terras comuns de coleta. Reconstroem uma ascendência quilombola para sedimentar a organização do grupo. Buscam novos padrões de educação para os jovens para valorizar o mundo rural. Ocupam o território da lembrança quando burlam a “firma” para levar o gado à antiga “solta”. Desafiam agências de conservação, se sujeitam à multa e à prisão para, ainda, “botar um brejo” – plantar nas áreas úmidas dos brejos – ou formar lavoura numa vazante. A memória coletiva orienta este conjunto de ações.
A noção de tempo deriva em grande parte das mudanças do ambiente.
No prazo curto, depende da estação: no “tempo da seca”, sem chuvas, outono/inverno no Cerrado; no “tempo das águas”, novembro a abril, primavera/verão. A dualidade de águas e seca definiu os ritmos da vida. Na seca, havia abundância de mantimentos, complemento nas hortas e água limpa nas veredas, a “lida” ficava restrita à casa e ao quintal. Só o gado, solto na chapada, afastava agricultores do sítio. O “tempo das águas” era, segundo as lembranças, de escassez de alimentos que eram buscados em muitos lugares, ou como diziam, na “largueza”: os mantimentos na tulha se acabavam na época do Natal, a família se afastava de casa para “botar” – preparar – as lavouras e coletar parte do alimento de todo dia no gerais: pequi, o principal, mas também mangaba, cagaita, cajuí.
No largo prazo, na conversa diária, aparece a noção estruturante de tempo que reparte a vida em dois períodos bem definidos e opostos: o “tempo de primeiro” e o “tempo de hoje”. O “tempo de primeiro” não é apenas um tempo já vivido; é, sobretudo, um tempo diferente por conta de rupturas ocorridas nas relações entre pessoas e meio, que ocupam lugar central nas narrativas.
A ruptura do tempo se baseia em noções que formam pares de oposição: terra solta/terra presa, água farta/água regulada, gado solto/gado na “manga” – pasto cercado e plantado –, movimento/“paradeza”. Mas de forma alguma consideram que todas as mudanças foram para pior. Lembram compensações: Estado presente, pagamento mensal, aposentadoria, os confortos da eletricidade e do transporte. Mas, lembram-se também que as trocas não foram parelhas, que os ganhos foram muito diferentes das perdas e, por isto, a lembrança não é base para formar juízo de valor associado a piora ou melhora, e sim para compreender a mudança.
O território vivo do gerais, os costumes e as terras soltas vivem na memória – o recurso para acionar a história, para, por meio dela, manter vivos os direitos. Assim, o “tempo de hoje” é também o tempo da espera: penalizar as perdas é meio para pensar na retomada, na reconstrução da terra livre, para manter viva a utopia da terra solta, sem cercas e sem donos: a comunidade utópica. É também o tempo da luta: por isso fortalecem a associação e o sindicato, buscam parcerias com organizações de mediação e, principalmente, vão inserindo suas causas no conjunto das lutas das populações do gerais, que acionam identidades para reivindicar em várias frentes.
Terra e água são fundamentos da construção da noção de tempo e história, pois explicam a mobilidade das famílias no espaço, a fundação da comunidade e a trajetória dos antepassados fundadores. Além disso, contextualizam técnicas materiais e sistemas de produção.
O termo “de primeiro” remete à infância, à adolescência ou ao início da vida adulta das pessoas que eram idosas no período de 2018 a 2020. “De primeiro”, o acesso aos “recursos” era livre e os “véi” – como se referem aos velhos, pais e avós desses idosos – foram os primeiros moradores de Cabeceirinha num tempo em que não existiam cercas e terras divididas. O senhor Valentim Barbosa dos Santos, agricultor de Cabeceirinha, dizia:
Naquele tempo essas terras eram vagas. O companheiro estava morando ali, e de repente ele saía e ia pro Ribeirão. Chegava lá e decidia mudar praqui, porque achava que aqui podia desenvolver mais. Não tinha restrição de terra. Sempre, toda vida, tinha as terras legalizadas, mas tinha aquelas terras que não eram legalizadas. Aí, pousava daqui, pousava acolá. Mudava do Ribeirão prum lugar mais vago, mais vereda; dava pra produzir. Tem dono? Não! Então vou morar e trabalhar lá. E aí mudava.
Povoar em Cabeceirinha era parte da movimentação de lavradores que saíam da beira do rio São Francisco na direção das cabeceiras do rio Urucuia. Saíam de áreas em que os recursos “minguavam” – começavam a se esgotar –, as lavouras produziam pouco e a terra se tornava pouca para sustentar a família; quando a terra se “apertava”,[8] empurrava casais jovens para áreas novas e “desapertadas”. O senhor José Lopes, que foi um dos pioneiros, dizia que Cabeceirinha era terra “solta” dentro da “Fazenda geral”[9] Campo Grande: “(...) era tudo gerais.” Quer dizer, eram terras sem donos, que podiam ser posseadas.
No tempo antigo, eram três os personagens que se moviam buscando terra. Primeiro, herdeiros de pouca terra que iam ficando “apertados” pela ausência de área para sustentar a família que ia crescendo; segundo, lavradores sem-terra que viviam como agregados em terras alheias; terceiro, sitiantes cujas terras estavam “cansadas”– ou pouco produtivas. Mobilidade espacial era, também, mobilidade social, porque transformava lavradores “fracos”, deserdados e sem terras em agricultores estáveis.[10]
Água guia
Havia água em abundância em Cabeceirinha. O senhor Valentim, refletindo sobre a vida e a “labuta”, dizia que “água, de todos os recursos, é o mais importante”. Explicava que a água tinha uso na bebida, comida e limpeza, para plantar mantimentos e regar lavouras; orientava a jornada de trabalho da família e o giro da Folia de Reis; baseava a locação da casa e a criação de animais.
As fontes de água e a terra fértil atraíram o povoamento da localidade, como contou dona Antônia Farias: “(...) o povo veio pra cá porque é mais fresco. Veio procurando água pra plantar, terra boa e água.” O povoamento ficou nas partes baixas, nos lugares frescos, de terra boa para cultivar mantimentos, sempre perto das águas, principalmente do rio Pandeiros.
O sistema de produção era baseado na derrubada, secagem e queima da vegetação nativa, seguida pelo plantio, irrigação, tratos e colheita. As águas definiram e, pelos tipos de fontes, hierarquizaram a capacidade de produção das famílias. A classificação da qualidade da terra, por exemplo, dependia da água: a terra “forte” tem umidade e vegetação de porte alto. A terra é classificada, também, por pares opositivos relacionados à água (presença ou ausência de umidade, vegetação e grã) e, em seguida, por similaridade (terra forte/mantimento forte, terra fraca/mantimento fraco) ou por oposição (terra boa/água ruim; terra ruim/água boa).[11]
Agricultores separavam, ainda, águas correntes e “pequenas” para uso humano, de águas paradas, boas para “botar” lavoura. De acordo com o senhor Santo da Cruz, denominam “vereda” ao curso d’água perene que tem brejo, buriti e pindaíba; sem buriti, mas com água perene, é “grota”; lugar pequeno de água parada com buriti é “brejinho”; vazante ou “traçadal” é a terra fresca, sem buriti, sempre com água; é “brejo” quando tem água o ano todo e é pantanoso.
Há uma íntima relação entre o uso dos solos, águas e plantas. Arroz era plantado nos brejos porque, segundo os moradores, carecia de muita água para produzir “feijão de arranca” – o feijão de consumo corrente no Sudeste brasileiro –, mandioca e abóbora eram plantadas nas partes altas das áreas úmidas ou nas roças de sequeiro. Em Cabeceirinha, podiam cultivar muito mantimento, pois a terra era “forte”, tinha “galhos” ou pequenos afluentes nas veredas, vazantes e brejos, essenciais na produção. Para “botar brejo” – fazer lavoura de arroz no brejo –, as famílias se moviam pelo gerais.
O senhor José Lopes dizia que, “de primeiro”,
[...] botava brejo no lugar que quisesse. Se quisesse botar um brejo lá na Ema, punha a tralha em cima dos animais, chegava lá, mês de maio, pousava debaixo do pé dum pau, e botava um brejo. Roçava o brejo e queimava logo cedo, plantava antes da chuva chover, em setembro plantava arroz. Quando chovia o arroz já ‘tava aqui ó, assim! E aí a água tomava conta. Na hora que trovejava e caia a chuvinha do fim das águas, que já tinha milho assando e gente cozinhando feijão novo, aí já era hora de tirar o arroz do brejo. Era assim.
Plantar em brejo exigia trabalho de toda a família: derrubar, esgotar a água, plantar solo caprichoso. O “esgoto” – canalização da água em regos – reduzia a área alagada mantendo a umidade. Depois, tratos culturais e o cuidado diário na maturação do arroz, um mês espantando pássaros que comiam os cachos, principalmente sanhaço e maria-preta. Em Cabeceirinha, havia apenas três brejos e, por isso, era costume “botar brejos” na comunidade da Larga ou no Ribeirão do Lavrado.[12]
No “tempo de primeiro” faziam lavoura de tocos ou de coivara,[13] adaptada às singularidades do gerais. Preparavam terra de junho a setembro; derrubavam mato em junho e julho; queimavam a derrubada em agosto/setembro; plantavam as culturas de outubro a novembro, que recebiam tratos culturais até o Natal. Colhiam de janeiro a abril, às vezes embaixo de chuva, perdendo feijão. Em maio, plantavam novamente feijão de sequeiro nas terras de vazante e brejo, e, nas bordas, semeavam a diversidade de cultivos que enriquecia a dieta. Depois de três anos a roça era mudada para outro lugar, porque a terra ficava, como dizem, “fraca”, ou pouco produtiva. A vegetação crescia no lugar da antiga lavoura e repunha a fertilidade depois do período de “descanso”, ou pousio.[14]
As águas situavam na paisagem as casas, que eram construídas na divisa entre terras “fortes” e “fracas” – férteis e pouco produtivas, respectivamente –, ou seja: terras de “cultura” e “mistas”, sempre afastadas do campo, terra de pior qualidade para lavoura: seca, arenosa, vegetação rasteira, pouco fértil. Conforme explica o senhor José Lopes:
[...] a terra melhor começa aqui, nesse trecho que fica a casa. Aqui a gente planta e dá. Quanto mais chega perto do rio mais a terra é melhor. Pra cá, pros altos da chapada, a terra vai enfraqueando. A terra, afasta do rio, dá é mandioca, catador, esses trenhosinhos assim, mantimento mais fraco. Agora: feijão e arroz é mais aqui pra dentro, beira d’água, terra mais solta, mais forte. Terra aí pra fora é fraca, é de pedra, de serra, já vai saindo aí o agreste, capim de gerais.
A água também orientava a divisão dos “terrenos” familiares, os sítios, delimitados na “frente” pelo curso principal, nas laterais pelas grotas, e os “fundos” – parte traseira da residência –, se estendiam na perpendicular até os campos. Da casa às águas, o sítio era exclusivo da família; no rumo dos campos, quanto mais se afastavam das casas mais as terras eram usufruídas em comum por parentes, vizinhos e moradores da comunidade. Vinham dessas áreas comuns frutos, caça, lenha e plantas medicinais; era também onde criavam gado que, “de primeiro”, ficava solto, com acesso livre às veredas e ao “logradouro” – o ponto em que repousava –, se alimentando de capim agreste, frutos e brotos.
Água e mulher
Mulheres mantinham relações muito próximas com a água em Cabeceirinha. O manejo dos corpos d’água estabelecia o domínio feminino sobre o “terreiro”, o “quintal”, a horta e a “fonte” – o local exclusivo, escolhido por cada mulher para coletar a água que abastecia a casa.
Em volta da casa ficava o “terreiro”, área limpa, sempre varrida, sem plantações exceto plantas ornamentais. Lá criavam pequenos animais – galinhas, cachorros e gatos. Depois do “terreiro”, no rumo das águas, ficava o quintal, lugar de cultivar frutos, algum alimento para emergências – mandioca, abóbora – e de experimentar novas mudas e sementes recebidas de presente que precisavam adaptar à sua terra. Em seguida ficavam as hortas, cultivadas nas beiras de águas na estação seca para usar “água de rega”. Para fazê-las, roçavam o mato em abril, plantavam hortaliças em maio e colhiam de agosto a novembro. A horta ficava sem uso durante a estação das “águas”. Esse complexo era associado ao domínio das mulheres, usado no cotidiano pela família, relacionado com necessidades imediatas e irregulares de suprimento de frutos, alimentos, carne de “bichos de terreiro” e, sobretudo, água.
As “fontes” – áreas do rio Pandeiros ou da vereda em que cada família buscava a água para beber e cozinhar, lavar as vasilhas, “banhar” – tomar banho – e lavar roupa, localizada sempre no mesmo lugar, marcava a paisagem, a memória, e ajudava a contar as histórias dos moradores e de sua relação simbólica e material com o território.
A “fonte” era o lugar do rio mais acentuadamente feminino. Servia a toda a família, mas era atribuída aos cuidados da mulher, tarefa associada à lida doméstica. O caminho da “fonte” era roçado e ligado à cozinha, que consumia muita água. Cada família dispunha de fonte própria e distinta, que recebia o nome da mulher que a abrira e usava: “fonte de Do-Carmo”, “fonte de Isolina”, “fonte de Santa”.
A rotina da mulher começava no cedo da manhã buscando na fonte a água carregada em pote levado na cabeça. Depois de quebrar o jejum, trabalhava na roça da família; em seguida tornava à casa para preparar almoço e “arrumar” as crianças para a escola; e posteriormente retornava à fonte para lavar vasilhas. No fim da tarde voltava para “banhar” e buscar mais água. A dinâmica casa-rio-casa supunha o uso comum da água e era parte da socialização das mulheres. A fonte da mãe se estendia à filha casada que permanecia vivendo nas proximidades. Se a recém-casada acompanhasse o marido para morar na terra de herança masculina, costume prevalecente em Cabeceirinha, abria nova fonte para a nova família, com seu nome.
Além das atividades cotidianas da família, as “fontes” eram referências na toponímia da comunidade, parte importante na cartografia cotidiana. Por exemplo: quando se chega no encontro da grota da Raposa com o rio Pandeiros – a “barra da Raposa” –, o retorno para a estrada principal é feito pela picada da “fonte de Verina”, referência para todos os moradores. O lugar da ponte que liga Tatu e Cabeceirinha era conhecido como “fonte de Carmelita”, e a própria ponte ficava na “passagem de Ita”, a “dona” daquela “fonte”.
A relação da mulher com a água era marcada por um estilo próprio de consumo. Somente água de beber era armazenada; os outros usos – banho, limpeza, lavagem de roupa, trato das vasilhas, “regação” de horta e quintal – eram feitos com água em fluxo, coletando água ao sabor da correnteza do rio ou da vereda. Assim, a água não era confinada ou retirada do ambiente para a realização das tarefas; permanecia em seu leito natural e estava em constante movimento quando era coletada para servir às atividades, e as famílias utilizavam apenas o necessário para cada tarefa.
A água em fluxo abastecia em constante renovação, e era considerada a forma mais pura de conexão das diversas fontes de água. As águas eram conectadas e concebidas como um sistema que interligava diversas formas de vida e parte fundamental da história e da cultura da comunidade. O uso de uma “fonte” localizada na “cabeceira”, ou nascente, não interferia noutra fonte localizada abaixo, no sentido da “barra” ou foz, já que a água era corrente.
A água viva era parte do cotidiano, mantida em relação próxima, e como cada mulher se provia de água, também se acostumava a classificar, escolher e zelar pela fonte, para transportá-la até a casa, às vezes com grande sacrifício. Saúde, acreditam, entra pela boca; selecionar a água consumida era preceito essencial para ter o corpo sadio. Partilhavam, respeitavam e regulavam as fontes, como faziam com as outras dádivas que o gerais oferecia – lenha, frutos do cerrado e “soltas” de gado. Mas, dada a importância vital, definiam critérios específicos para a água, porque era usada em fluxo, provia a família, mas também levava embora parte da sujeira saída de corpos, roupas e vasilhas. Era necessário, portanto, normas coletivas de acesso para que o uso por uma família não afetasse o consumo de outra, a jusante.
O consumo das fontes em fluxo era mais que uso material da água: era uma forma de socialização. O dia e a hora de lavar a roupa, por exemplo, era momento exclusivo, e as mulheres se encontravam para fazer apenas essa atividade, mas era também momento da restrição a outras formas de consumo porque sujava a água. Na hora de “banhar” havia restrições e acordos. Mulheres “banhavam” à tarde, antes dos homens, em fontes mais reservadas. Muitas vezes mulheres iam “banhar” juntas, em fonte de outras. Dizia dona Keila Ferreira: “O rio, antigamente, enchia de mulher!”. O fluxo e a vazão do rio são elementos importantes do ciclo hidrológico porque conectam as diversas fontes de água e renovam a água. Gerindo parte do fluxo do rio, mulheres influíam também na da água, participando de um ciclo que é natural, mas também fundamentalmente social.[15] Contudo, isso foi no “tempo de primeiro”.
Mudanças
Nos anos 1970, quando as “firmas” ocuparam as áreas comuns de Cabeceirinha, tomando terra e desmatando o chapadão, o senhor José Lopes lembrava que, chegando,“eles deitaram trator naquele mundo. A gente saía pra campear, via: as correntonas derrubando os paus, no trator. E aí foi entrando essa desconstância, essa pisança, e derrubaram tudo”. O senhor André Ferreira dizia que iam “[...] gradeando terra, plantando eucalipto, arroz, esses trem. E foi tomando conta do lugar por aí afora, do gerais”.
A crise econômica dos anos 1980 e 1990, que restringiu o crédito subsidiado, terminou com a euforia das firmas. Além disso, solo e clima de gerais se revelaram impróprios para o plantio intensivo: raras várzeas sistematizadas produziram além de dois anos, o eucaliptal morria antes do quinto ano e os custos de irrigação, trator e adubo químico suplantavam a modéstia das colheitas (CORREIA, 2010; DEUS, 2010; RIBEIRO, 2010). O senhor Valentim descreveu com precisão essa situação. A “firma” vizinha dele
(...) tentou de tudo! Tentou criar galinha, tentou criar gado, tentou plantar feijão, milho, eucalipto, mandioca, banana. Meteram um motorzão pra jogar água, tirou água do galhinho que tinha, ribeirão, chamado de Garrote. Tirou e molhava lá. Mas a terra era daquela de areia. Até produz, mas exige muita técnica, e não tira o lucro. Desmatou, colocaram adubo, e foi o seguinte: acabava de molhar a terra, naquela temperatura de agosto e setembro, e ‘tava tudo murcho.
As firmas reduziram o movimento à medida que minguavam créditos subsidiados e aconteciam os fracassos das colheitas. Por fim, praticamente cessou a exploração. Mas continuaram dominando as terras, transformadas em reservas de valor.
O prejuízo para os geralistas e o ambiente foi grande. Chapadas eram áreas de solta, coleta e recarga dos mananciais. A mata nativa de cerrado, por meio de intrincado sistema de conexões com o lençol freático, conduz águas das chuvas para veredas e grotas (DAYRELL, 2019). A substituição da vegetação original por monocultivos teve efeitos desastrosos sobre a vazão das águas, a fauna e, principalmente sobre o solo de gerais que escorreu em voçorocas que se incorporaram à paisagem de Cabeceirinha, às passagens de veredas e, a cada ano, assoreia uma porção do pantanal de Pandeiros.
Essas mudanças representaram um duplo ataque: às terras, restringindo o acesso da comunidade rural às áreas tradicionalmente ocupadas; às águas, reduzindo drasticamente a riqueza dos mananciais. Antônio Inácio Correia, dirigente sindical de Januária, descreveu os abusos, violências e crimes que acompanharam a tomada de terras (CORREIA, 2010). O estrangulamento crescente dos corpos d’água afetou sistemas de produção, vida e manejo, mas, principalmente, prejudicou a gestão comunitária. Assim, formou-se o quadro de conflitos, opressão e desqualificação moral que marca, desde então, a história desses agricultores.
Foi nessa quadra que surgiram as Unidades de Conservação do gerais. Primeiro, o Parque Nacional Grande Sertão Veredas, criado em 1989. Em seguida, sucessivamente, se expandiram até o estabelecimento da Área de Proteção Ambiental Estadual do Rio Pandeiros em 1995. É a maior Unidade de Conservação de Uso Sustentável de Minas Gerais, considerada área prioritária de conservação por sua importância biológica (DRUMMOND et al., 2005).
A norma legal traz restrições: proíbe plantio de mantimentos nas vazantes e uso de fogo. A proibição dos sistemas tradicionais de produção abriu nova frente de conflito para os moradores, desta vez com o “pessoal do meio ambiente”, que os geralistas conhecem apenas pela imposição de penalidades. Mas a interdição de cultivos e manejo de água, multas e prisões não asseguraram a conservação. As técnicas materiais de produção continuam ativas, os arranjos e manejos de recursos fazem parte de costumes sólidos. Há, entre pesquisadores, importante corrente de opinião que considera praticamente impossível conservar recursos sem incorporar a população do lugar (DIEGUES, 1999; BRUGER et al., 2016; GUADILLA-SÁEZ; PARDO-DE-SANTAYANA; REYES-GARCÍA, 2020). Os agricultores, naturalmente, se revoltam com os efeitos sobre seu estilo de vida. Conforme relata o senhor Valentim:
Um exemplo: você chega lá na minha casa – o costume que eu tenho é de colocar um pedacinho de brejo lá pra eu plantar um arroz, um feijão. Aí chega você lá e diz que foi criada uma lei que não pode mais mexer com nada, se mexer vai preso. Aí você quer que eu faça o que pra viver?
Num estudo sobre as relações entre sociedade e ciclo hidrológico, Linton e Budds (2013) observaram que, mais que determinantes naturais, era a própria sociedade que distribuía abundância e escassez de água, pois o monopólio das áreas de recarga e das águas subterrâneas regulava a distribuição da água num território. Assim, as interdições e condições materiais de apropriação determinam a distribuição considerada natural das águas. A população de Cabeceirinha, nicho de corpos d’água em meio ao Semiárido, é interditada de um lado pelo latifúndio e, de outro, pela Unidade de Conservação. São formas de domínio fundiário radicalmente diferentes, mas com os mesmos efeitos para os geralistas, pois, conforme o senhor Santo dos Santos resumiu: “(...) o governo fechou por baixo, a firma fechou prarriba”.
A partir da década de 1990 receberam compensações por meio de programas públicos. Veio escola, aposentadoria e sistema de saúde atuando na comunidade. Já nos anos 2000, Programa Bolsa Família, energia elétrica, transporte regular até Januária e, por fim, programas de abastecimento de água, uma vez que desde 2003 as casas têm rede canalizada, resultado de parceria da associação comunitária com a Cáritas Diocesana de Januária.[16] A água passou a ser bombeada do rio Pandeiros para a caixa d’água comunitária e, daí, até as torneiras das casas. Depois, com o “Programa Um Milhão de Cisternas”, da Articulação do Semiárido (ASA), cada família recebeu uma cisterna de placa para armazenar água de chuva para beber e cozinhar, que em Cabeceirinha era mais usada como reserva de emergência, ou para regar horta e dar de beber aos animais.[17]
Água nas torneiras e cisterna de placa facilitaram as tarefas domésticas, cultivo da horta e cuidado com os animais. Rio e grotas passaram a ser usados apenas nas emergências de quebra de bomba, no lazer e na bebida de animais. A chegada da água nas torneiras afastou principalmente mulheres e crianças do rio, pois essa fonte não é mais necessária na lida diária.
Mudou, então, o estilo de consumo, pois acabaram o consumo em fluxo, a renovação e o controle do uso do rio e das grotas. A água se tornou um assunto privado. A rede de abastecimento inaugurou a noção de falta d’água: ficam sem água quando não jorra na torneira. Aí, voltam ao abastecimento em fluxo, às fontes. E a qualidade da água, que era aferida pela leveza, limpeza e origem, perdeu sentido, porque na tubulação se misturam todas as águas, principalmente na estação das chuvas. Então, recorrem à cisterna de placa, que “serve para uso”, mas é “parada”, não tem a qualidade da água em fluxo, corrente e viva das veredas e grotas; é tão suspeita quanto útil, do mesmo modo que a água das torneiras.
Cercas
Por tudo isso, dizem, em Cabeceirinha o “tempo de hoje” é diferente. Tem suas vantagens. Mas, quando delimitam os tempos, não estão hierarquizando; estão sobretudo esclarecendo que suas relações com o gerais foram, gradativamente, transformadas. A cultura material geralista, transmitida por gerações, associada à identidade, à reprodução cultural e à história do grupo que vive no território precisou ser reorganizada.
A ocupação do gerais pelas firmas acabou com a solta para o gado. Cercadas as terras comuns, os moradores passaram a usar terra de cultura, que era destinada aos mantimentos, para formar pasto cercado, denominado em Cabeceirinha como “manga”. O senhor Santilino resumiu: “(...) um cercou dali outro cercou dacolá, foi tomando os espaços pra criar gado. Aí não tinha como o povo criar, e o jeito foi inventar plantar capim, pra criar preso”. Perderam, assim, os espaços de lavoura e, com a contenção do gado nas “mangas”, tiveram que reduzir o número de cabeças que podiam criar.
Com o desmate das áreas de recarga, as voçorocas e a morte de veredas, diminuíram as águas nas fontes. Cabeceirinha continuava abastecida pelo rio Pandeiros e pelas grotas que se mantinham vivas e, até 2020, nunca secaram. Mas a partir de 2013, choveu pouco na estação das “águas” e, além disso, a chuva se concentrou em dezembro e fevereiro, provocando “veranicos” de janeiro/fevereiro, estiagens que duravam 40 dias em pleno ciclo de crescimento de lavouras e pastos. O tempo de seca aumentou, as agências de conservação reprimiam o plantio em beiras d’água e por isso diminuiu a diversidade dos alimentos cultivados. O arroz, que precisava de muita água, deixou de ser plantado. As culturas de sequeiro foram afetadas, mesmo a mandioca, resistente à seca.
Consequência dessas restrições, o sustento alimentar da família se transformou. O senhor José Lopes dizia que, “de primeiro”, o agricultor tirava todo o alimento da sua lavoura: “[...] tinha hora que chegava lá na cidade pra vender arroz, feijão, toucinho, farinha, vendia tudo na cidade. Hoje, não! A pessoa tá comprando lá, pra trazer pra cá. Hoje a firma tomou conta do ao-redor. Ficou o trechinho – igual nós ‘tamos aqui –, também arrochado”.
“Arrochados” por motivos diferentes, pelas firmas e agências de conservação, com a produção restrita quase que só aos limites da casa, a cerca é a expressão material das condições em que vivem nos “tempos de hoje”. Cerca divide os terrenos de cada família com a firma, divide a manga que confina gado, divide as beiras d’água proibindo acesso e, enfim, divide a história: separa regimes agrários, aparta fartura e escassez, impõe novo sistema de produção e alimentação. As cercas físicas materializam a periodização da história de Cabeceirinha, reforçam a memória dual que, no dia a dia, a comunidade usa para avaliar a dimensão das perdas e o apurado dos ganhos.
Agradecimentos
A pesquisa que originou este artigo contou com o apoio da Capes, do CNPq e da Fapemig, e como parceira a Cáritas Diocesana de Januária, instituições as quais os autores agradecem.
Referências
ALMEIDA, Alfredo Wagner Berno de. Terras tradicionalmente ocupadas – processos de territorialização e movimentos sociais. Revista Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais, Rio de Janeiro, v. 6, n. 1, 2004.
ANDRADE, Manuel Correia de. A terra e o homem no Nordeste. 6. ed. Recife: Editora Universitária da UFPE, 1998.
ANDRIOLLI, Carmen Silvia. Sob as vestes de Sertão Veredas, o Gerais: “Mexer com criação” no Sertão do Ibama. 2011. 255 f. Tese (Doutorado em Ciências Sociais) – Programa de Pós-graduação em Ciências Sociais, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2011.
AUBERTIN, Catherine; RODARY, Estienne. Protected areas, sustainable land? Burlington: Ashgate Publishing Limited, 2011.
BERNARDES, Carmo. O gado e as larguezas dos gerais. Estudos Avançados, São Paulo, v. 9, n. 23, 1995. Disponível em: https://www.revistas.usp.br/eav/article/view/8846. Acesso em: 7 ago. 2021.
BOELENS, Rutgerd. Cultural politics and the hydrosocial cycle: water, power and identity in the Andean highlands. Geoforum, [s.l.], v. 57, n. 3, 2014. Disponível em: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016718513000432. Acesso em: 15 ago. 2021.
BORGES, Sílvia Lanes; ELOY, Ludivine; SCHMIDT, Isabel Belloni; BARRADAS, Ana Carolina Sena et al. Manejo do fogo em veredas: novas perspectivas a partir dos sistemas agrícolas tradicionais no Jalapão. Ambiente & Sociedade, São Paulo, v. 19, n. 3, 2016.
BOSI, Ecléa. Memória e sociedade: lembrança de velhos. São Paulo: Queiroz, 1979.
BRANCO, Paola S.; MERKLE, Jerod A.; PRINGLE, Robert M.; KING, Lucy et al. An experimental test of community‐based strategies for mitigating human–wildlife conflict around protected areas. Conservation Letters, [s.l.], v. 13, n. 1, 2019.
BRANDÃO, Carlos Rodrigues. Reflexões sobre como fazer trabalho de campo. Sociedade e Cultura, Goiânia, v. 10, n. 1, 2007. Disponível em: https://www.revistas.ufg.br/fcs/article/view/1719. Acesso em: 29 ago. 2021.
BRANDÃO, Carlos Rodrigues. Saber de classe e educação popular. In: BRANDÃO, Carlos Rodrigues. O ardil da ordem. Campinas: Papirus, 1986.
BRASIL. Constituição (1937). Constituição dos Estados Unidos do Brasil. Rio de Janeiro: Presidência da República, 1937.
BRASIL. Lei no 4.771, de 15 de setembro de 1965. Decreta o Código Florestal. Brasília: Presidência da República, 1965.
BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília: Senado Federal, 1988.
BRASIL. Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000. Regulamenta o art. 225, § 1o, incisos I, II, III e VII da Constituição Federal, institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza e dá outras providências. Brasília: Presidência da República, 2000.
BRUGGER, Sandra O.; GOBET, Erika; VAN LEUWEEN, Jacqueline; LEDRU, Marie-Pierre et al. Long‐term man–environment interactions in the Bolivian Amazon: 8000 years of vegetation dynamics. Quaternary Science Reviews, [s.l.], v. 132, 2016.
CARRANZA, Tharsila; BALMFORD, Andrew; KAPOS, Valerie; MANICA. Protected area effectiveness in reducing conversion in a rapidly vanishing ecosystem: the Brazilian Cerrado. Conservation Letters, [s.l.], v. 7, n. 2, 2013.
CASTRO-DIAZ, Laura; LOPEZ, Maria Claudia; MORAN, Emilio. Gender-differentiated impacts of the Belo Monte Hydroelectric Dam on downstream fishers in the Brazilian Amazon. Human Ecology, [s.l.], v. 46, 2018.
CENTELHAS, Marcela Rabello de Castro. Nas águas das políticas: as mulheres, as cisternas e o curso da vida no agreste pernambucano. 2019. Tese (Doutorado em Antropologia Social) – Programa de Pós-graduação em Antropologia Social, Museu Nacional, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2019.
COELHO, Marco Antonio T. Os descaminhos do São Francisco. São Paulo: Paz & Terra, 2005.
CORREIA. Antônio Inácio. Januária. In: RIBEIRO, Eduardo Magalhães (Org.). Histórias dos gerais. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2010.
CRUZ, Gildarly Costa da; RIBEIRO, Eduardo Magalhães; ARAÚJO, Vanessa Marzano; ASSIS, Thiago Rodrigo de Paula. A seca no cotidiano: agricultura familiar e estiagem em comunidades rurais do gerais de Januária, MG. Estudos Sociedade e Agricultura, Rio de Janeiro, v. 28, n. 3, 2020. Disponível em: https://revistaesa.com/ojs/index.php/esa/article/view/esa28-3_09_seca/esa28-3_09_pdf. Acesso em: 27 jul. 2021.
CUNHA, Manuela Carneiro; ALMEIDA, Mauro Barbosa de. Enciclopédia da floresta. São Paulo: Companhia das Letras, 2002.
DAYRELL, Carlos Alberto. De nativos e de caboclos: reconfiguração do poder de representação de comunidades que lutam pelo lugar. 2019. 459 f. Tese (Doutorado em Desenvolvimento Social) – Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento Social, Universidade Estadual de Montes Claros, Montes Claros, 2019. Disponível em: https://www.cedefes.org.br/wp-content/uploads/2020/05/TESE-CARLOS-ALBERTO-DAYRELL-SET-2019.pdf. Acesso em: 2 ago. 2021.
DELGADO, Guilherme da Costa. Capital financeiro e agricultura no Brasil: 1965-1985. São Paulo: Ícone, 1985.
DEUS, Genelísio Marques. Gené. In: RIBEIRO, Eduardo Magalhães (Org.). Histórias dos gerais. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2010.
DIEGUES. Antônio Carlos (Org.). Biodiversidade e comunidades tradicionais no Brasil. São Paulo: Nupaub/USP; Probio-MMA; CNPq, 1999.
DIEGUES. Antônio Carlos. Água e cultura nas populações tradicionais brasileiras. In: ENCONTRO INTERNACIONAL: GOVERNANÇA DA ÁGUA, 1., São Paulo, 2007. Anais... São Paulo: AgemCamp, 2007.
DRUMMOND, Gláucia Moreira et al. Biodiversidade em Minas Gerais: um Atlas para sua conservação. 2. ed. Belo Horizonte: Fundação Biodiversitas, 2005.
ELOY, Ludivine; AUBERTIN, Catherine; TONI, Fabiano; LÚCIO, Silvia Laine Borges et al. On the margins of soy farms: traditional populations and selective environmental policies in the Brazilian Cerrado. The Journal of Peasant Studies, [s.l.], v. 43, n. 2, 2016.
FRANÇOSO, Renata D.; BRANDÃO, Reuber; NOGUEIRA, Cristiano; SALMONA, Yuri et al. Habitat loss and the effectiveness of protected areas in the Cerrado Biodiversity Hotspot. Natureza & Conservação, [s.l.], v. 13, n. 2, 2015.
GALIZONI, Flavia Maria. Águas da vida: população rural, cultura e água em Minas. 2005. Tese (Doutorado em Ciências Sociais) – Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2005.
GEERTZ, Clifford. Uma descrição densa: por uma teoria interpretativa da cultura. In: GEERTZ, Clifford. A interpretação das culturas. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1989.
GIL, Antônio Carlos. Métodos e técnicas de pesquisa social. 5. ed. São Paulo: Atlas, 1999.
GODOI, Emília Pietrafesa de. O trabalho da memória. Campinas: Editora da Unicamp, 1999.
GONÇALVES NETO, Wenceslau. Estado e agricultura no Brasil. São Paulo: Hucitec, 1997.
GUADILLA-SÁEZ, Sara; PARDO-DE-SANTAYANA, Manuel; REYES-GARCÍA, Victoria. Forest commons, traditional community ownership and ecological consequences: Insights from Spain. Forest Policy Economy, [s.l.], v. 11, n. 2, 2020.
GUALDANI, Carla; SALES, Marli. Tecnologias sociais de convivência com o Semiárido e a racionalidade camponesa. Sustentabilidade em Debate, Brasília, v. 7, n. 3, 2016.
HOBSBAWM, Eric J.; RANGER, Terence. A invenção das tradições. Tradução de Celina Cardim Cavalcante. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1984.
LINTON, Jamie, BUDDS, Jessica. The hydrosocial cycle: defining and mobilizing a relational-dialectical approach to water. Geoforum, [s.l.], v. 57, n. 3, 2016.
LOCKE, Harvey; DEARDEN, Philip. Rethinking protected area categories and the new paradigm. Environmental Conservation, [s.l.], v. 32, n. 3, 2005.
MARQUES, Ana Claudia; VILLELA, Jorge Mattar. O que se diz, o que se escreve: etnografia e trabalho de campo no sertão de Pernambuco. Revista de Antropologia, São Paulo, v. 48, n. 1, 2005.
MARTINS, José de Souza. Os camponeses e a política no Brasil. Petrópolis: Vozes, 1981.
MAY, Tim. Pesquisa social: questões, métodos e processos. Porto Alegre: Artmed, 2001.
MEDEIROS, Camila Pinheiro. As andanças no vasto, o fogo no vazio: paisagens sociais e ambientais na perspectiva de realocados do Parque Nacional Grande Sertão Veredas. In: COMERFORD, John; CARNEIRO, Ana; DAINESE, Graziele (Orgs.). Giros etnográficos em Minas Gerais: casa, comida, prosa, festa, política, briga e o diabo. Rio de Janeiro: Faperj; 7 Letras, 2015.
MINAS GERAIS. Lei Estadual no 15.082, de 27 de abril de 2004. Dispõe sobre rios de preservação permanente e dá outras providências. Belo Horizonte: Diário do Executivo, 2004.
OCAMPO-FLETES, Ignacio; PARRA-INZUNZA. Filemón; RUIZ-BARBOSA, Á. Ernesto. Derechos al uso de agua y estrategias de apropiación en la región semiárida de Puebla, México. Agricultura, sociedad y desarrollo, Texcoco, v. 15, n. 1, 2018. Disponível em: https://www.revista-asyd.mx/index.php/asyd/article/view/749. Acesso em: 8 ago. 2021.
OSTROM, Elinor. Governing the commons. New York: Cambridge University Press, 1990.
OSTROM, Elinor; NAGENDRA, Harini. Insights on linking forests, trees, and people from the air, on the ground, and in the laboratory. PNAS, [s.l.], v. 103, n. 51, 2006.
PETERSON, M. Nils; PETERSON, Markus J.; PETERSON, Tarla Rai. Conservation and the myth of consensus. Conservation Biology, [s.l.], v. 19, n. 3, 2005.
QUEIRÓZ, Maria Isaura Pereira de. Variações sobre a técnica do gravador no registro da informação viva. São Paulo: TAQ, 1991.
RIBEIRO, Eduardo Magalhães (Org.). Histórias dos gerais. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2010.
SHIVA, Vandana. Las guerras del agua: contaminación, privatización y negocio. Buenos Aires: Siglo XXI, 2007.
SILVA, Roberto Marinho Alves da. Entre o combate à seca e a convivência com o Semi-Árido: políticas públicas e transição paradigmática. Revista Econômica do Nordeste, Fortaleza, v. 38, n. 3, 2007. Disponível em: https://www.bnb.gov.br/revista/index.php/ren/article/view/539. Acesso em: 10 ago. 2021.
SOARES, Denise. Acceso, abasto y control del agua en una comunidad indígena chamula en Chiapas. Un análisis através de la perspectiva de género, ambiente y desarrollo. Región y sociedad, [s.l.], v. 19, n. 38, 2007.
THOMPSON, Paul. A voz do passado. Rio de Janeiro: Paz & Terra, 1992.
Como citar
SILVA, Keyty de Andrade; RIBEIRO, Eduardo Magalhães; CRUZ, Gildarly Costa da. Água, terra e memória no “gerais” do rio São Francisco: Cabeceirinha, município de Januária, Minas Gerais. Estudos Sociedade e Agricultura, Rio de Janeiro, v. 30, n. 1, e2230111, p. 1-24, 24 maio 2022. DOI: https://doi.org/10.36920/esa-v30-1_st03.
Keyty de Andrade Silva
Mestre em Planejamento Urbano e Regional/Demografia pelo Programa de Pós-graduação em Sociedade, Ambiente e Território da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes).
https://orcid.org/0000-0001-5555-5474
http://lattes.cnpq.br/5382237538042639
andrade.keyty@gmail.com
Eduardo Magalhães Ribeiro
Professor titular do Instituto de Ciências Agrárias da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Doutor em História pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp).
https://orcid.org/0000-0002-4330-2346
http://lattes.cnpq.br/4262445758282319
eduardoribeiromacuni@gmail.com
Gildarly Costa da Cruz
Mestre em Planejamento Urbano e Regional/Demografia pelo Programa de Pós-graduação em Sociedade, Ambiente e Território da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes).
https://orcid.org/0000-0003-1297-8076
http://lattes.cnpq.br/2164150334419403
gc.cruz@hotmail.com
|
Creative Commons License. This is an Open Acess article, distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License CC BY 4.0 which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium. You must give appropriate credit, provide a link to the license, and indicate if changes were made. |