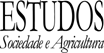
v. 30, n. 1, janeiro a junho de 2022 (publicação contínua), e2230110
|
Seção Temática Saberes, políticas e éticas da terra e do ambiente entre camponeses, quilombolas e povos tradicionais
|
Recebido: 15.11.2021 • Aceito: 04.04.2022 • Publicado: 24.05.2022
Artigo original /
Revisão
por pares cega / Acesso aberto
A multiplicidade das
águas no fazer das pessoas: corpo, gênero e materialidades em um quilombo
pernambucano
The multiplicity of water in people's actions: body, gender, and materialities
in a quilombo in Pernambuco
![]() Marcela Rabello de Castro
Centelhas [1]
Marcela Rabello de Castro
Centelhas [1]
DOI: https://doi.org/10.36920/esa-v30-1_st02
Resumo: Este artigo parte da etnografia realizada no convívio com famílias quilombolas no agreste de Pernambuco. À medida que minha inserção no cotidiano da comunidade foi se adensando, minha posição em termos de gênero e geração tornou possível direcionarmos o olhar para as formas locais de uso, classificação e simbolização das águas. Perceber a multiplicidade das águas em termos de características sensoriais, qualidades, efeitos e relações com corpos e coletividades permitiu refletir criticamente a respeito dos discursos acadêmicos e estatais sobre a região semiárida, que tomam a água como um recurso natural escasso. Ao dar centralidade à dinâmica cotidiana das águas, privilegio as casas como eixos centrais a partir dos quais o manejo dessa substância evidenciava conexões entre corpos e materialidades. Essas conexões revelaram-se valorosas para pensar os usos das águas na relação com trabalhos e atribuições generificadas, conflitos, expectativas e julgamentos morais, situações de prestígio e humilhação, formas de cuidado e apresentação pública dos corpos.
Palavras-chave: águas; gênero; corporalidades; materialidades; trabalho de campo.
Abstract: This article is based on an ethnography of quilombola families in the countryside of Pernambuco. As I became more solidly established in the daily life of this community, my position in terms of gender and generation allowed me to shift my focus to local forms of using, classifying, and symbolizing water. Perceiving the multiplicity of water (in terms of sensory characteristics, qualities, effects, and relationships with bodies and collectivities) permits critical reflection on academic and government discourses on the semiarid region, which consider water a scarce natural resource. By focusing on the daily dynamics of water, the home emerged as a center from which the handling of water revealed connections between bodies and materialities. These connections proved valuable for thinking about the uses of water in relation to gendered work and attributions, conflicts, expectations and moral judgments, situations of prestige and humiliation, forms of care, and public presentation of bodies.
Keywords: water; gender; corporalities; materialities; fieldwork.
O curso de uma pesquisa com águas e mulheres
As reflexões que constroem este texto foram possíveis a partir da pesquisa com famílias que se autodenominam quilombolas e habitam a comunidade de Liberdade, situada entre o Agreste Meridional e o Sertão do Moxotó, na microrregião do vale do Ipanema, estado de Pernambuco. Digo isto não somente para situar geograficamente este trabalho, mas principalmente para colocar que as análises aqui desdobradas serão desenvolvidas a partir dos posicionamentos e engajamentos assumidos durante o trabalho de campo, realizado ao longo de oito meses, distribuídos entre os anos de 2016 e 2018.
Liberdade é o nome fictício[2] de uma comunidade rural onde habitam cerca de trezentas famílias (segundo a contagem de uma das associações de moradores locais), que vivem da renda da pequena agricultura, do gado leiteiro, da criação de caprinos e ovinos, da aposentadoria rural e do dinheiro via programas sociais. A comunidade é diversa em termos de renda e escolarização, e nela também moram médios fazendeiros, professores(as), pedreiros, motoristas de transportes alternativos, funcionários da prefeitura, além dos(as) pequenos(as) agricultores (a maioria tendo só a posse da terra). É importante mencionar que parte dos moradores e moradoras se declaram quilombolas,[3] e isto tem implicações significativas na organização política e social da comunidade, na conformação de disputas entre as duas associações existentes e na relação com mediadores e agentes do Estado.
Ao longo da permanência na Liberdade, fui recebida por estas famílias que estão liderando o processo de reconhecimento formal como comunidade quilombola e são, no município, reconhecidas como tal (os quilombolas). Habitar e frequentar esse conjunto de casas, portanto, me alinhava a eles diante das rivalidades existentes entre este grupo e aquele relativo à Associação de Moradores mais antiga, grupo designado pelos quilombolas como brancos, cuja associação era também referida como associação dos brancos. Menciono este aspecto de início, pois ele constitui um marco importante de como o trabalho de campo se articulou à dinâmica conflituosa e desigual de relação entre esses dois grupamentos, especialmente no que tange a processos de racialização e sua relação com os usos[4] das águas.
Antes de realizar uma pesquisa de campo mais sistemática com famílias dessa comunidade, nossa atenção se dirigia para compreender a execução e os desdobramentos sociais de políticas públicas muito importantes para a região rural semiárida: os Programas Um Milhão de Cisternas Rurais (P1MC) e Uma Terra Duas Águas (P1+2) (cf. CENTELHAS, 2019). Criados ao longo da década de 2000, em um momento de avanço nas políticas de superação da pobreza, estes programas são fruto da luta de diversos movimentos e organizações sociais estruturados sob a Articulação Semiárido Brasileiro (a ASA-Brasil). Eles têm como produto e objetivo a construção de reservatórios – cisternas variáveis em termos de tamanho – que captam a água da chuva e a armazenam durante os períodos de estiagem, muito comuns a esta região. Assim, as duas políticas agem ao descentralizar o acesso à água para a população rural, proporcionando água de qualidade próxima às casas e ao longo de todo o ano. Portanto, embora não sejam o centro de nossa análise, ambas as políticas constituíram o ponto de partida de meus interesses em torno das águas e seus usos.
Visando saber mais acerca dos efeitos e elaborações locais no que se refere a estes Programas, comecei a acompanhar Fernanda, técnica de uma organização local responsável por gerir e executar as referidas cisternas, em suas visitas às casas das agricultoras e agricultores contemplados. Ao longo do primeiro mês em que estive diariamente com ela, começamos a frequentar a comunidade Liberdade, que à época tinha sido contemplada com 27 cisternas e, por isso, demandava a presença da técnica para que fossem organizados os cursos de capacitação, a entrega dos materiais e a efetiva construção dos reservatórios. Nessas visitas, fui conhecendo Esmeraldina e sua família, que me convidaram para uma festa que aconteceria na comunidade. Esmeraldina é, até hoje, presidente de uma das associações de moradores da Liberdade, chamada Associação dos Quilombolas e Descendentes de Cajaú. Aceitei o primeiro convite para passar um final de semana com elas e, a partir daí, iniciei um contato sistemático com essa e outras famílias da região, que se estendeu por quatro meses em 2017 e dois meses em 2018.
Recompor como se deu o engajamento com as interlocutoras não é ao acaso nem muito menos fruto de um “lugar comum” antropológico. Retomo aqui alguns aspectos da historicidade da pesquisa de campo porque eles são relevantes para a análise que procuro realizar em torno das águas, seus usos e sentidos, em especial no que tange a como o posicionamento em campo se desdobra em possibilidades e impossibilidades de perceber e etnografar este bem. Antes de permanecer mais tempo na Liberdade, minha relação com as interlocutoras se dava ao longo das visitas que Fernanda, a técnica, realizava em suas casas, visitas estas motivadas ou pela minha pesquisa, me apresentando alguma beneficiária do Programa de Cisternas mais acostumada a dar entrevista, como ela mesma se referia, ou pelo próprio trabalho dela em gerenciar o Programa. Nestas situações, minha tentativa era ter algum momento de conversa com as agricultoras – eram especialmente as mulheres que me recebiam – para perguntar sobre os efeitos do Programa em suas vidas e tentar entender como a gestão da água se dava em suas casas.
Contudo, entrevistas rápidas e sem um contato prévio com aquelas pessoas se revelaram inférteis em certo sentido, pois muitas vezes as pessoas mostravam-se desconfortáveis com aquele momento, se limitando a positivar o Programa e mudando de assunto quando eram questionadas sobre o uso da água. Rita (59), uma senhora fascinante que conheci em uma dessas incursões desajeitadas, desconfiou que houvesse algum interesse oculto por trás das minhas perguntas. Disse ela: afinal, menina, o que você quer saber?. De fato, é muito esquisito – e digno de suspeita – alguém estranho entrar em sua casa lhe perguntando como se utiliza a água. Para além da possibilidade de ser lida como uma espécie de fiscal do governo ou representante da entidade que tinha gerenciado a construção da cisterna na casa de Rita, pois eu ia acompanhada de uma técnica dessa organização, este incidente me fez refletir sobre as relações entre águas e discursividades e, mais que isso, sobre os jogos de visibilização e invisibilização das práticas e falas sobre esse bem.
Inspirados em Das (1999) e na sua percepção das nuances entre o “dito” e o “mostrado”, bem como em etnografias que abordam a relação entre trauma e fala (CHO, 2008; ROSS, 2003), perguntei-me por que o uso da água era um tema que gerava cautela por parte das interlocutoras. Algumas possibilidades interpretativas para essa questão poderiam residir no fato de a água ser um tema moralmente muito sensível naquele lugar, dada as narrativas acusatórias sobre ela ser moeda política na compra de votos,[5] ou de a ausência dela ser um elemento de estigmatização nos discursos e imagens que constroem o semiárido como local de pobreza e miséria (ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2009, 2017; COSTA, 2020). Contudo, parecia haver muito mais a ser compreendido nessa relação entre águas e falas, em especial tratando-se de diálogos travados com mulheres. Elas, além de serem socialmente responsáveis pelo uso cotidiano desse bem no universo doméstico, são o público-alvo de certas normativas médico-sanitárias no fazer do Estado e no desenho de políticas públicas, sobretudo quando a gestão da água se conecta a dimensões do cuidado e da maternidade (CENTELHAS, 2020).
Deslocando essa questão de uma relativa invisibilização do tema “água” nas falas públicas de minhas interlocutoras para outro campo de enunciação, é possível indagar se não há também certa “transparência” (para usar uma metáfora “aquosa”) das questões relativas às águas e seus usos cotidianos nas teorizações antropológicas e mesmo das ciências sociais. Parece haver uma tendência em tornar a água digna de atenção, ou “analisável”, principalmente quando produz grandes “eventos” (seja ele um “conflito”, uma “crise” ou uma “catástrofe”), ou quando as populações impactadas por estes eventos resistem a essas situações enquadrando este bem em noções como “direito” – que de fato é. Ao longo do trabalho de campo, talvez justamente por não presenciarmos as águas em tais situações, elas não eram percebidas a partir desse léxico mais comum da luta social, o que trouxe algumas reflexões que exploro a seguir.
Isso de forma alguma quer dizer que as águas não são um objeto relevante e constante nos trabalhos das ciências sociais.[6] Contudo, salta aos olhos o fato de se dar menor atenção à dimensão mais corriqueira do uso da água nos trabalhos acadêmicos, especialmente quando se trata da forma como ela é manejada dentro das casas, no cotidiano dos e entre os núcleos domésticos.
Esse segundo plano que uma abordagem da água em sua dimensão mais cotidiana assume nos leva a perguntar quem são os corpos que geram essas águas e se sua relativa “transparência” nos trabalhos não estaria conectada a outros regimes de visibilização/invisibilização, relativos às assimetrias de gênero. Se pensarmos que as águas podem ser – desde elaborações estruturantes como faz Bourdieu (1971), com base na etnografia das sociedades Cabílias, até teorizações mais contemporâneas como Feldhaus (1995) sobre as simbologias dos rios na Índia – convencionalmente associadas ao feminino, às mulheres e aos valores da domesticidade, é possível perguntar se essa invisibilização também não é reforçada por e reforça um apagamento do lugar e papel das mulheres, que se espelha nas hierarquizações temáticas comuns às ciências sociais. O ocultamento ou atenuação da importância do trabalho feminino, ponto de partida e objeto de denúncia de diversos feminismos (CARNEIRO, 1994; HERNANDEZ, 2010; BUTO; HORA, 2010), desdobram-se na própria dimensão secundária que o manejo cotidiano da água assume nas pesquisas acadêmicas, apontando para possíveis conexões entre as linhas de pesquisa e a preponderância de temas e interesses relativos a universos masculinos.
Com certeza, essa invisibilização não deve ser substantivada, pois se constrói sempre em relação ao estatuto do que é visível ou não. De outra perspectiva, daquela que atribui à água a função biológica de nos manter vivos, este bem é absolutamente central. Ou então, do ponto de vista das minhas próprias interlocutoras, apesar de falar sobre a água em contextos de entrevista gerar uma sensação de estranheza, isso não significava que não houvessem diálogos nos quais a água era um tema e, no horizonte das suas preocupações cotidianas, ocupar-se do manejo desse bem era algo fundamental.
As águas agrestes para além da escassez
Em uma região que é imaginada pela ausência de água, o que encontrei nas casas e no cotidiano foi a existência de muitas águas. Isto se fazia obviamente não pela abundância desse “recurso natural” com propriedade físico-químicas invariáveis, mas pela existência de um saber altamente complexo, tal como aborda Galizoni (2005) em comunidade rurais de Minas Gerais, que diferencia-o em muitos tipos, seja por suas múltiplas fontes e origens, seja por seus distintos efeitos no corpo ou, ainda, pelas percepções e aprendizados sensoriais que distinguir as águas implica. Etnografar essas águas sendo usadas, algo que aciona observar práticas naturalizadas, implicou, por isso, alguns deslocamentos.
Primeiramente, foi necessário escapar da perspectiva da escassez, muito comum no modo de narrar a disponibilidade desse recurso no semiárido brasileiro e que constitui uma abordagem quase compulsória ao se relatar o seu acesso pelas famílias sertanejas. A realidade hídrica semiárida é muito mais complexa do que o senso comum acadêmico ou jornalístico costuma pintar, pois enquanto em alguns lugares mais áridos como o Cariri paraibano chove por volta de 300 mm/ano,[7] em outros, como a Chapada do Araripe, no Ceará, essa média fica em 700 a 800 mm/ano[8] – um índice que até fugiria dos 500 mm máximos que definem formalmente a pluviometria semiárida. Na região na qual esta pesquisa se desenvolveu, compreendida entre o Agreste Meridional e o Sertão do Moxotó, é visível a variabilidade não apenas de pluviosidade[9] entre municípios vizinhos, como também de permeabilidade do solo à chuva, o que implica a formação ou não de reservas subterrâneas.
Contudo, a disponibilidade de água para as famílias sertanejas não depende apenas de aspectos ecológicos e climáticos, sendo a forma como ela é distribuída a questão mais central no seu acesso (CUNHA, 2020). Não iremos abordar com a devida complexidade essa temática, mas vale dizer, em coro com os movimentos sociais que se organizam na região, que assim como a terra, a água é um bem deveras privatizado e seu acesso desigual combina-se, segundo Cunha (2020), com outras desigualdades estruturais. Apesar de ser competência legal dos estados administrarem por meio de suas empresas públicas e dos comitês de bacias hidrográficas a distribuição da água fluvial, no contexto em questão, a problemática se coloca também em relação à fonte desse recurso, pois como o semiárido tem a característica de rios intermitentes (que oscilam da época das chuvas ao período de estiagem), grande parte do seu abastecimento depende de médios açudes ou poços, cujo acesso muitas vezes é privado.
É bem conhecido que o semiárido nordestino se caracteriza por um período de estiagem (compreendido entre agosto e fevereiro), designado como verão e outro de chuvas (compreendido entre março e julho), também chamado de inverno. A maior quantidade de chuvas no inverno modifica radicalmente a paisagem sertaneja e, com isso, altera a quantidade de águas nos reservatórios e nos lençóis freáticos. Na região onde realizei o trabalho de campo de forma mais sistemática, não havia rios próximos, contudo, em alguns municípios do agreste e sertão, as chuvas literalmente fazem renascer esses cursos d’água ressacados pela estiagem. Se antes estava acostumada a pensar e dizer que o “tempo tá feio, deve chover”, no agreste e sertão deparei-me logo com a máxima Tá bonito pra chover, que dá um pouco o tom dos significados e das expectativas que esse fenômeno mobiliza.
De fato, ao longo dos períodos em que estive na Liberdade, em especial no inverno de 2017, presenciei precipitações constantes e volumosas que, segundo noticiários e pessoas com quem conversei, deram fim a uma das maiores “secas” dos últimos cem anos[10] e, por isso, foram muito celebradas.
Figura 1 – O maior açude de Liberdade

Fonte: Centelhas (abr. 2018).
Figura 2 –
Barreiro no Sítio Maniva, comunidade vizinha à Liberdade

Fonte: Centelhas (abr. 2018).
As chuvas não só enchem as cisternas como também reabastecem os açudes, barreiros e barragens, garantindo o acúmulo de água para os futuros meses de estiagem. Além disso, elas possibilitavam botar roçado, iniciando os plantios de milho, feijões, palma, abóbora, e ainda de hortaliças e temperos como coentro, alface e couve. Quando as cisternas já estão cheias ou a família não possui uma, a água que verte dos telhados é coletada por tambores de 200 litros, baldes e demais materiais que estejam à disposição para reunir o máximo de água possível.
Desse modo, podemos dizer que havia uma grande variabilidade em termos da disponibilidade de águas e suas respectivas fontes ao longo do ano, o que rearranjava o trabalho em torno de caçar água (buscar água), resultando se deslocar para fontes mais ou menos distantes, e alterava a qualidade da água que se usa para as atividades domésticas e para o consumo humano e animal.
Essas reconfigurações no tempo e no trabalho sobre as águas se tornam ainda mais acentuadas quando os verões são fortes e os invernos fracos, isto é, quando chove pouco e seguem-se anos com escassas precipitações, algo também denominado na linguagem corrente de “secas”.[11] Além de intensificar os deslocamentos e distâncias para se conseguir água, verões fortes poderiam exacerbar situações indignas e humilhantes de ter que arengar/agoniar água dos outros (pedir água aos outros), ao implicar não apenas trocar alguma coisa (um animal, gêneros agrícolas, esterco ou dinheiro) por água, como muitas vezes pedi-la sem ter nada para oferecer. Em muitas entrevistas e conversas, moradores e moradoras da comunidade relataram a indignidade que era pedir água a alguém mais abastado que possuía um poço ou um açude e como se sentiam humilhados ao receberem uma negativa. Além da situação vexatória, algo muito reiterado foi a intensidade do trabalho físico de buscar água em longas distâncias, o que significa acordar às duas ou três da madrugada, caminhar sob o sol quente do verão e, ainda mais para as mulheres, ter que conciliar este esforço com as demais demandas, como a responsabilidade pelos cuidados da casa e das pessoas.
Além de obliterar essas complexidades em termos de fatores ecológicos, é importante dizer que a perspectiva da escassez presente no discurso que enfatiza a água em sua “ausência” também instaura uma ligação necessária entre a água e seu uso, visto a partir da noção de “recurso natural”, que deixa de fora muitos dos sentidos e relações mobilizados por este bem. Durante a visita à casa de Rita, agricultora que mencionei anteriormente, o valor da água de minação[12] que possuía em seu terreno estava não só no fato desta existir durante toda a estiagem, mas também na possibilidade de um banho prazeroso ao ar livre – a água minava do lado de fora, mas próxima à sua casa e, mesmo tendo banheiro, ela preferia banhar-se no fresco, como me disse.
As águas, portanto, não parecem ser para minhas interlocutoras apenas um bem com características físico-químicas e utilidades universalmente válidas, mas um recurso com características variáveis e que, pela sua diferenciação, instaura também conexões e simbolizações diversas. Strang (2014) traz aportes interessantes para pensarmos a relação entre humanos e águas a partir de uma visão relacional, isto é, do modo como o engajamento dos seres com as águas se dá levando em conta suas múltiplas propriedades materiais e sensórias. Segundo a autora, isto nos possibilita ir além da água como “objeto” da ação humana, percebendo as complexidades e composições de agência mútuas na interação entre humanos e substâncias.
Para compreender essa diversidade de sentidos e relações que se produziam sobre e por meio das águas era preciso outro deslocamento. Como a água não aparecia tanto na fala pública das pessoas com quem conversava e os momentos de entrevista produziam a necessidade de serem entendidos em eco com outras situações comunicativas (BRIGGS, 1986), isso sinalizava para a necessidade de voltar o olhar para as práticas, em um movimento que Das (2007, p. 5-6) caracteriza como “descida ao cotidiano”. Estas práticas, como descreveremos melhor a seguir, estavam conectadas com as próprias condições de realização do trabalho de campo, condições estas marcadas por dispositivos da generificação e pelos vínculos que permanecer um período prolongado morando com minhas interlocutoras produzia.
Em meio a águas estranhas
Estar presente no dia a dia das casas da Liberdade significava engajar-me nos afazeres de limpeza, arrumação, preparo dos alimentos e cuidado das crianças. O fato de ser mulher tornava esperado que me oferecesse para tais atividades, não só como agradecimento pela acolhida que recebia, mas também pela forma como eu era posicionada geracionalmente na família: um intermediário entre as filhas jovens casadas e as filhas adolescentes, uma vez que eu ia a campo desacompanhada, não era formalmente casada e ao mesmo tempo era “jovem”. Como em diversos outros contextos nas famílias de classes populares, as jovens e adolescentes solteiras que ainda coabitam com os responsáveis, à medida que crescem, vão paulatinamente assumindo certas tarefas domésticas, ao passo que as jovens casadas, quando não têm filhas em uma idade que possam assumir certos trabalhos da casa, são as principais responsáveis pela casa e seus cuidados.
Essa minha participação nas atividades domésticas, contudo, mobilizava sempre um cálculo de adequação, pois apesar de ser bem recebida, deveria permanecer como algo complementar, afinal, eu era a hóspede e o protagonismo das atividades deveria continuar sob domínio das minhas anfitriãs. Sendo assim, era permitido a mim, a princípio, apenas atividades consideradas menos demoradas e cansativas, como lavar a louça, catar feijão, olhar os meninos e, somente após uma convivência de quase dois meses ininterruptos, fui autorizada a cozinhar, lavar o banheiro e dar banhos nas crianças.
Tal inserção posicionada pelo gênero e pela geração[13] permitia e me impelia a participar de dinâmicas que dependem da intimidade, da intensidade dos vínculos e do tempo para serem compartilhadas e aprendidas. Quer dizer, não se tratava unicamente de observar o modo como minhas interlocutoras utilizavam, classificavam, pensavam e trocavam as águas, mas de fato incorporar esse conjunto de conhecimentos extremamente complexo, que permitia saber qual água usar para cada finalidade, onde buscá-las e depositá-las, além de quanto e quando utilizá-las. O trabalho de campo, assim, não era somente um exercício de observação e descrição de uma dada realidade, mas impunha a necessidade de uma série de aprendizados práticos e corpóreos para que pudesse ocorrer.
A inexistência de água correndo pelos canos, torneiras e chuveiros, uma realidade de muitas casas rurais do semiárido, bem como de algumas periferias urbanas, implicava uma relação com esse bem completamente diferente da que eu, uma pesquisadora de classe média da cidade grande, estava acostumada. Atos corriqueiros como lavar a louça ou as mãos tiveram que ser reaprendidos em um contexto no qual era premente desnaturalizar a água encanada. Isto é, ao contrário do que salienta Davis (2018) em sua tese sobre a crise hídrica da cidade de Itu e a relação entre o acesso à água e os processos de formação do Estado, a “naturalização” da água encanada fazia parte de uma perspectiva da antropóloga e não das interlocutoras. Minha inadequação aos ritos e modos de lidar com as águas gerava muitas provocações e era fonte constante de humor entre as mulheres com quem convivia, ao dizerem Aqui não se lava louça que nem na cidade não ou Em casa de pobre é assim mesmo e que eu deveria acostumar, que somava-se à desconfiança em relação a minha habilidade de carregar baldes e recipientes pesados por longas distâncias.
Apesar de estranhas para mim o modo como as águas circulavam e eram utilizadas no dia a dia das e por entre as casas não era algo que minhas anfitriãs achassem que valesse uma conversa específica. Todas as vezes que tentei perguntar diretamente sobre esse tema era ignorada ou, como relatei, anteriormente, nos casos em que havia pouquíssima proximidade entre as interlocutoras e eu, essas questões eram encaradas com muita desconfiança. Ficou evidente, após uma sequência de insucessos, que só poderia de fato etnografar essas águas cotidianas se eu parasse de perguntar sobre elas e percebesse o que eu e minhas interlocutoras já fazíamos ao longo dos dias. Assim, a negativa das mulheres em objetivar o uso cotidiano das águas dentro das casas nas entrevistas e conversas mais formais sinalizava a impossibilidade de compreendê-lo somente a partir desse modo de relação em campo, chamando minha atenção para os momentos em que a água não era “dita”, mas “mostrada”, isto é, não era sinalizada a partir de um discurso ou da fala, mas de práticas das quais não “faz sentido” tematizar ou falar.
Essa formulação do dito e o mostrado me veio a partir da leitura de Das (1999), que aborda quais violências são passíveis de serem ditas ou não, na medida em que podem ser trabalhadas e inscritas no cotidiano das vidas. Apesar de distante em termos do universo temático, a proposta da autora é fértil ao alertar para a relação entre linguagem e contexto e para o fato de que um dos “aspectos da vida cotidiana é que ela está embasada numa linguagem corrente a cujo contexto se tem acesso” (DAS, 1999, p. 41). Assim, falar sobre o uso das águas não fazia sentido para minhas interlocutoras, e uma razão para isso é justamente este contexto do qual supunha-se que nós comungávamos e cuja eficácia se dá pela sua não explicitação.
Essas arrumações e fazeres relativos às águas mudavam de uma casa para outra, e somente naquelas onde eu permanecia mais tempo eram possíveis de serem percebidos. Isto pode ter diversas razões, mas a água e como se usa, a comida e como se faz, a casa e como se arruma, são fazeres que requerem proximidade para serem trocados, conversados e observados. Nas visitas mais curtas, as mulheres não continuavam suas atividades cotidianas enquanto eu estava lá, mas sentavam-se na sala e me recebiam com formalidade e, como já foi dito, perguntar sobre como elas usavam a água era ineficaz, esquisito e gerava desconfianças. Paralelo a isso, observar o uso diário das águas demandava uma atenção constante e, algumas vezes, cansativa e frustrante. Cansativa, pois a preocupação de produzir “dados” de campo me tensionava a observar e anotar tudo que diz respeito ao uso da água. Acontece que, por azar, a água está sendo usada o tempo todo.
As águas mostradas
Um dos elementos mais interessantes ao observar esse uso cotidiano da água é que na Liberdade ela não pode ser enunciada no singular, mas sim no plural. O que existem são águas, muito distintas em termos de sua qualidade e efeitos no corpo e, para me incluir nas atividades cotidianas das casas que frequentei, eu precisava apreender a distingui-las.
Por isso, além de como usá-las, outra questão significativa nesse aprendizado era qual água usar. Para cada uso, a água vinha de um lugar diferente e implicava técnicas e valores diferenciados, bem como princípios morais distintos no seu compartilhamento. A principal oposição que conformava os diferentes usos estava na distinção entre a água doce e a água salobra. A primeira vinha basicamente do armazenamento da água da chuva ou então de fontes distantes de água mineral, existentes próximas ao centro urbano, fontes estas que abasteciam diversos municípios. A segunda provinha principalmente do subsolo e dos lençóis freáticos, por meio do bombeamento (poços) ou da minação. Havia, claro, gradações e julgava-se determinada fonte muito a partir da aproximação a um desses dois polos. As águas dos açudes e barreiros estão mais próximas da água salobra, não porque venham do subsolo, mas porque sua forma de armazenamento e a exposição ao ambiente as deixam barrentas.
Essa classificação principal desdobrava-se e relacionava-se com as águas e seus usos, ou seja, com as distintas formas que as diferentes águas interagem e fazem as materialidades e corporalidades. A água pro gasto ou água pra gastar, nome que se referia à água usada nas tarefas de limpar a casa, lavar louça, lavar o banheiro e passar pano, poderia ser mais salobra, uma vez que não seria colocada em contato direto com o corpo nem ingerida. Sendo assim, ela provinha de fontes como as cacimbas,[14] as barragens, os açudes[15] ou as minações. Contudo, entre essa própria água pra gastar havia modulações e a água para higienizar a louça era geralmente mais limpa, sendo buscada nas cisternas ou na água do Exército, água vinda do Programa Emergencial de Distribuição de Água Potável no Semiárido Brasileiro.[16] Para molhar as plantas e hortaliças do quintal e para dar de beber aos bichos era utilizada a água mais salobra, que não seria consumida nem mesmo colocada em contato com o corpo.
A água de beber era a que se destinava mais cuidados. Ela era pega, quando disponível, na cisterna de primeira água (reservatório de 16 mil litros construído pelo P1MC, programa mencionada no início deste texto), localizada na casa da agente de saúde que, com outras duas casas da região da Liberdade, conseguira fazer cadastro nesta água do Exército. Trazida de charrete de burro até as casas geralmente pelos homens mais novos, ela era armazenada em tambores na cozinha, próximos à pia e, quando para ser bebida, era passada por um pano limpo ou peneira e, às vezes, clorada, além de armazenada em uma jarra de barro, tampada com uma panela e com uma caneca de alumínio em cima. Além de bebida, ela era utilizada para o preparo e higienização dos alimentos. A água de beber nunca era fervida, como eu inicialmente pensara, tanto pelo custo que isso implicaria em gás de cozinha, lenha ou carvão como porque a fervura fazia-a perder totalmente o seu sabor naturalmente doce e nem parecer água, como me disseram.
Figura 3 – Jarra de barro da casa de Dona Quitéria

Fonte: Centelhas (maio 2018).
Figura 4 – Tambores de 200 litros na porta da cozinha de Dona Zélia

Fonte: Centelhas (maio 2018).
Essas arrumações em termos de fontes e suas destinações, contudo, não eram rígidas e não só mudavam de uma casa para outra, como também variavam a depender da época do ano e de qual pessoa iria utilizá-la ou consumi-la. Enfermos, bebês, crianças pequenas ou idosos eram considerados mais susceptíveis a alergias ou a adoecer com água salobra, e a eles era dedicada ainda mais atenção na pureza da água de beber e se banhar. Algumas famílias que dispunham de um recurso financeiro constante, como uma aposentadoria ou um auxílio-doença, às vezes optavam por comprar água na cidade, chamada de mineral, considerada mais potável por ser tratada.
Como forma de atestar a potabilidade[17] ou a pureza das águas, analisar o seu sabor, odor e aspecto era uma atividade constante. Joana, filha de Esmeraldina e minha anfitriã em boa parte do tempo que permanecemos na Liberdade, antes de utilizar as águas no banho de seus filhos pequenos, sempre analisava a sua qualidade. A turbidez causada pela pesca ou a presença de algum animal morto próximo à fonte a tornava inutilizável para este fim. Isso, por sua vez, pressupunha um conhecimento sensorial extremamente apurado e complexo, tal como aborda Galizoni et al. (2008), que diferenciava as águas em muitos tipos, seja por suas múltiplas fontes e origens, seja por seus distintos efeitos no corpo. Não é preciso dizer que eram as mulheres, pela incumbência de gerir as casas e as águas, as maiores conhecedoras dessa arte sensorial. Por isso, podemos dizer que não se tratava de variedades de “tipos”, numa acepção taxonômica de um recurso natural unitário e com características físico-químicas invariáveis, mas de uma substância que pela sua multiplicidade se inscrevia em regimes distintos e desiguais na produção de corporalidades, materialidades e temporalidades.
As águas: matéria dos corpos, casas e coletividades
A cozinha e o banheiro são os dois cômodos nos quais a relação com o uso da água se faz mais presente e se estruturam materialmente para compor-se com este bem. Talvez por isso, mas não só, eles são sempre germinados nas casas e ficam voltados para o que seria os fundos. Apenas quem circula com mais frequência em uma casa entra pelos fundos, as visitas com quem se tem menos intimidade ou se recebe mais formalmente sempre entram pela porta da frente. Na Liberdade, algumas casas têm toda a tubulação construída para uma possível (ainda que remota em termos de possibilidade real) encanação da água. Como em quase todos os lares de famílias com menos recursos materiais do semiárido rural, não há como encanar a água até as casas por diversos motivos, entre eles o fato de não haver uma fonte constante e corrente ao longo de todo o ano e, mesmo que houvesse, o custo do bombeamento seria inviável. Ainda assim, algumas casas têm espaços para torneiras, canos e saídas para chuveiro. Mesmo que não sejam utilizadas no presente, essas instalações expressam tanto uma forma de distinguir-se dos demais, isto é, daqueles que não as possuem, como também uma crença real de que pode ser possível, um dia, encanar a água.
Outro elemento que diferenciava as casas e seus habitantes era a existência ou não de banheiro, bem como a sua aparência. A existência dos banheiros era uma realidade até certo ponto recente na casa das famílias com menos recursos, e minhas interlocutoras gostavam de contar como era antes, da necessidade de ir para a parte externa das casas ou, eventualmente, utilizar algumas casinhas que serviam para mais de um núcleo familiar. Existiam, na verdade, vários tipos de “banheiros”. Havia alguns que eram apenas um quarto demarcado por um pano com um ralo no meio, nos quais fazia-se xixi em uma bacia que, posteriormente, era vertida nesse ralo (nesse caso, as demais necessidades fisiológicas eram feitas no mato ou em áreas externas à casa). Outros possuíam vasos sanitários de louça e um espaço com ralo onde se tomava banho. Alguns, com mais condições, possuíam além do vaso uma pia, também de louça, usada para lavar as mãos e escovar os dentes, mesmo que não houvesse torneira. Além desses artefatos de louça, muito valorizados pela beleza que conferiam a esses cômodos, outro elemento de destaque e gerador de distinção era a existência de ladrilhos e azulejos, que além de serem objetos de adorno, facilitavam a limpeza do banheiro, como me disse Joana, minha anfitriã. O asseio e o bom estado do banheiro, ainda que não fosse algo que se apresentasse publicamente, uma vez que poucas pessoas além do núcleo doméstico o veriam, era parte de um movimento de melhorar a casa, central para muitas e muitos liberdadenses.
As águas e seus usos, portanto, não só perpassavam as relações entre pessoas e materialidades, como estas mesmas relações se conectavam a regimes de prestígio e humilhação. Se dissemos que as águas eram múltiplas, essa multiplicidade também se estendia aos modos como elas eram trocadas entre os grupos familiares, vizinhos e pessoas de uma mesma localidade. Uma situação em especial pode lançar luz sobre este ponto.
Logo no início do texto, apresentamos Liberdade afirmando que ela contava com duas associações de moradoras, cujos coletivos se opunham em termos da adesão a diferentes grupos político-partidários, bem como em função das desigualdades socioeconômicas e raciais existentes entre suas lideranças. Esmeraldina, presidente da Associação dos quilombolas, ao falar sobre as diferenças entre ela e Lauriane, presidente da outra associação, reforçou o fato da casa de Lauriane ter água jorrando do poço e ser cheia de mamoeiro, mangueira. Era significativo que estas diferenças em termos de condição de vida, moradia e acesso à água eram muitas vezes enunciadas acompanhadas da percepção racial sobre ela – Lauriane é branca. A Associação que preside possui, além dela, outras pessoas brancas nos cargos de chefia. Ainda que a grande maioria de suas e seus associados sejam negros e negras, o fato de apenas brancos estarem nos postos de mando, comandando as reuniões e frequentando os órgãos estaduais e municipais, faz com que essa Associação seja conectada, para Esmeraldina, sua família e seus associados, aos brancos.
Como dissemos anteriormente, boa parte da água de beber utilizada por Esmeraldina e sua família vinha da cisterna da agende de saúde, que conseguira fazer cadastro, isto é, recebia regularmente água do Programa Emergencial de Distribuição de Água Potável no Semiárido Brasileiro. Além dela, Berenice, irmã de Esmeraldina, também era cadastrada e recebia em sua casa quinzenalmente um carro-pipa agenciado pelo referido Programa. Vale dizer que o local da comunidade onde morava Berenice era aquele geograficamente mais referido como o quilombo, pois eram as antigas terras de seu avô, Sebastião Preto, figura icônica nas construções narrativas em torno da origem do quilombo, e é lá que hoje mora a maior parte de seus descendentes que permaneceram na Liberdade.
A água colocada na cisterna por este Programa, chamada também de água do Exército, era reconhecida como proveniente do governo e, por isso, não poderia ser utilizada de forma privada por somente uma família. Contudo, ter um relativo controle sobre essa água – relativo porque, em princípio, ela era do governo e não poderia ser negada a ninguém – conferia certo prestígio à Berenice, além da possibilidade de todos do lugar geograficamente compreendido como o quilombo terem acesso a essa água considerada de boa qualidade, por ser tratada. Em uma dessas ocasiões na qual o caminhão-pipa vinha chegando à casa de Berenice, presenciei um diálogo, em companhia de Esmeraldina, no qual algumas pessoas pertencentes à associação dos brancos ironizaram o recebimento da água pelos quilombolas, perguntando se os nêgo lá de cima tava bebendo barro.
A provocação e o deboche racistas contidos nesta frase nos informam muitos sentidos a partir dos quais podemos compreender as dinâmicas que envolviam as possíveis humilhações que servir-se de uma água indigna, uma água barrenta, símbolo de necessidade, tinha no contexto em questão, além do modo como as diferentes águas hierarquizam os corpos e coletividades. Beber água de barreiro, ou beber barro, como insinuam nessa pergunta, é uma imagem recorrente de narrar a vida sofrida ou um momento no qual a ausência de água desdobrava-se em sufocos e possibilidades de humilhação contidas no movimento de ter que pedir água.
Nas entrevistas e conversas com liberdadenses, essa imagem é retratada a partir do uso do passado, parte de um tempo no qual não havia as cisternas, a água do Exército, nem o dinheiro via programas sociais que hoje é emergencialmente utilizado para comprar água na cidade. Helena (42), cumadre de Esmeraldina e sua vizinha, ao conversarmos sobre como ela fazia na época que não havia as cisternas, me disse, mudando o tom de voz e parecendo um tanto envergonhada, que se utilizava da água de um poço que não era dela, mas que a água não é boa não. Diferentemente de Helena, outras mulheres me falavam sobre beber essas águas não tão boas como símbolo de dignidade, pela capacidade de enfrentar as adversidades que se colocavam. Risaltina (40), moradora da Liberdade, quando a questionei sobre como fazia para conseguir água de beber antes das cisternas, me contou que bebiam do barreiro, eu não vou mentir né?. Era assim que beber água de barreiro ou fazer uso de uma água de pouca qualidade, como conta Helena, compunha um jogo que alternava-se entre humilhações e virtudes.
Marcela: É, isso aí. E você vê que a comunidade mudou nos últimos anos, desde que você é criança?
Eulália (Lila): Mudou, porque de primeiro, a água que nós tinha era do barreiro, né? O barreiro pra tomar banho, pra beber... o cachorro tomava banho, cagava dentro, nós bebia e não tinha nada. E agora, se nós for beber a água do barreiro, a gente adoece, dá uma desinteria...vai baixar no hospital. Daí, agora mudou mesmo, porque hoje nós tem as cisternas, através da Pastoral. A minha é da Pastoral, agora eu não sei essa daí de Dina, né? Daí depois das cisternas, os meninos parou mais de adoecer, que era uma desinteria danada. Dava quentura... “eita, é a águas dos barreiros”, nós não podia fazer nada que nós não tinha barreiro, né? Ou, nós não tinha cisterna, mas agora tem.
Eulália (Lila), 43 anos e irmã mais nova de Esmeraldina, ao perguntá-la sobre as mudanças na comunidade, me fala sobre as transformações da água que se usa, que anteriormente era a do barreiro para tudo, o que os fazia de certo modo acostumados, constituindo um corpo mais resistente às impurezas e às doenças possivelmente transmitidas por aquela água. Nós nem adoecia transmite um pouco dos sentidos ambíguos que nos referimos anteriormente, mostrando como que, apesar da água do barreiro produzir uma situação vergonhosa para quem a utiliza, ela também se associa à resistência de um corpo que se modificou e hoje não suportaria mais beber aquela água.
A cisterna e a água do exército compunham, portanto, um tempo no qual aparentemente se modifica a relação e a disponibilidade das águas, não pela sua maior abundância em termos climáticos ou quantitativos, mas pela alteração nas dinâmicas que medeiam seu acesso, tornando possível que as águas de barreiro não sejam mais utilizadas para o consumo direto, como beber. Isso de certo modo transfigura uma situação degradante e essa transfiguração é justamente alvo da provocação daqueles que atribuem a esse conjunto de pessoas, os nego, o destino de beber barro. Cruzam-se, dessa forma, qualificativos racistas com a limpeza da água e dos corpos, que podem nos indicar a intersecção entre dinâmicas racializadas e os usos e sentidos das águas. Assim como em trabalhos recentes que têm enfocado as dinâmicas societárias produtoras do que vem sendo chamado de “racismo ambiental”, a exemplo de Paes e Silva (2012), na Liberdade é possível observar como a desigualdade no acesso à água tem correlações com outras desigualdades estruturais, traduzidas academicamente em marcadores sociais da diferença como gênero, raça e classe.
Ainda que a maior parte das políticas públicas de acesso à água, como o Programa de Cisternas e o Programa Emergencial, não tome a desigualdade racial como um fator decisivo na sua elaboração e execução, podemos dizer que elas produzem efeitos, ainda que muito tímidos, nos modos como as diferenças raciais são vividas na comunidade em questão. Mesmo que extremamente díspares em termos da sua concepção e execução,[18] essas políticas são transformadoras não só por assegurarem o direito básico de ter água próxima à casa, mas por possibilitarem inversões em situações cotidianas de submissão, que na elaboração de várias das minhas interlocutoras se davam pela alteração no seu status de pedir para outro de poder dar.
Dar água, além de um marco de transformação na vida, é também um imperativo moral muito forte acerca dos modos de compartilhamento desse bem. Em diversas conversas, as mulheres faziam questão de enfatizar que não negavam água para ninguém e que suas cisternas serviam a mais de uma família, além de amigos e vizinhos que porventura precisassem. Essa obrigação moral em torno do compartilhamento das águas, contudo, não se fazia pelos mesmos princípios e alternava-se de acordo com o seu tipo, qualidade e origem. Mencionamos como a água do Exército, apesar de ser depositada em uma cisterna específica, não poderia ser apropriada pela sua dona, pois era o governo que botava e isso criava um princípio de coletivização necessário. Todavia, não eram todas as famílias da localidade que gozavam dessa água, mas somente aquelas que moravam mais próximas ou eram mais íntimas de Berenice ou da agente de saúde e, por isso, conseguiam pegá-la antes que ela acabasse.
Águas e roupas: modalidades de cuidado e apresentação pública dos corpos
Essas materialidades políticas das águas, tais como canos, dutos, pias, carros-pipa, cisternas, barreiros, cacimbas, minações, inscritas tanto na domesticidade como nas infraestruturas públicas e estatais, podem nos indicar, além de signos locais de prestígio, elementos que se conectam a processos de formação da pessoa e que envolvem a representação e apresentação de si perante os outros. Assim como no incidente em torno do beber barro e as consequentes implicações deste para se pensar a conexão entre águas e corporalidades, damos, por fim, especial atenção a outro “tipo” de materialidade para a qual minhas interlocutoras dedicavam muito cuidado e que teve centralidade em seus relatos: as roupas.
As roupas, tema até certo ponto pouco recorrente nas etnografias sobre povos e comunidades tradicionais ou sobre comunidades rurais, apareceram como um elemento central nas falas e diálogos das mulheres com quem convivi e conversei, não só na sua relação com a água, mas principalmente como um qualificativo de reflexão sobre a mudança social e a passagem do tempo.
Eulália: Porque de primeiro, nós era muito, muito fraco de roupa dentro de casa. Eu mesma quando eu adoeci, eu fui com uma calcinha velha pra me consultar, com um nózão infeliz assim na calça, um nozão medonho. Se o nó se desatasse a minha calça caía, bem assim, relaxada. E a calça veia que eu tinha, nós lavava, tirava minha calça, eu lavava, botava lá pra enxugar, enquanto tava enxugando nós tava tomando banho, que nós tomava banho no mato, que nós não tinha banheiro, né? Nós tomava banho no mato. Daí quando eu terminava de tomar banho, espiava a calça veia tava ainda fria, não tava pingando, mas tava fria. Vestia assim mesmo dava uma coceira na bunda, mas fazer o quê? Só tinha essa, né? (...) Aí agora, não, agora tá vindo roupa, né? Agora é uma riqueza, que nós não tem...é uma riqueza, que quando os pais de nós era vivo nós não tinha, nós não tinha não.
No universo pesquisado, havia um modo de articular e tematizar a transformação social, que se expressava na oposição entre tempo antigo e tempo da riqueza. Não se tratava, contudo, de tempos no sentido linear, tal qual datas ou períodos históricos. A noção de tempo aqui diz respeito muito mais a qualificativos morais, modos de enunciar e refletir sobre comportamentos, valores, sentimentos, que constroem apreciações sobre as relações assimétricas entre brancos e nêgos, ricos e pobres, ou entre o governo e os pobres e, por isso, se aproxima muito mais da ideia de tempo trabalhada por Palmeira (2001) e Heredia e Palmeira (2010).
O tempo antigo invoca a ideia de um tempo passado, marcado por muitas dificuldades no comer e no vestir, pela necessidade de alimentar-se com comida do mato, pelas experiências da fome, do trabalho mal pago e pela violência sofrida nas fazendas da região. Falar sobre o tempo antigo significava modular entre qualificativos morais da indignidade e da vergonha, em função das condições de vida geradas, em parte, pela exploração perpetrada pelos brancos ou pelos grandes. Paralelamente falar desse tempo reforçava o valor moral que enfrentar essas dificuldades produz.
Diferentemente do tempo antigo, o tempo da riqueza é narrado pela melhoria nas condições de saúde e vida, especialmente por mudanças na alimentação, na disponibilidade das águas e na vestimenta. Este tempo também inclui uma apreciação sobre o aumento do número de programas e políticas sociais de combate à pobreza, como o próprio Programa de Cisternas e o Bolsa Família, hoje praticamente extintos, bem como o maior acesso a direitos sociais, como a aposentadoria rural, o salário-maternidade, entre outros. Assim como o tempo antigo, o da riqueza expressa o que Teixeira (2020) chamou de “ambiguidade moral dos tempos”, pois ao passo que há uma valorização dessas políticas e direitos sociais, reconhecendo-os como uma ajuda do governo que recoloca os pobres no universo de interlocução com o Estado, há também uma sensação que estas políticas acomodam o povo, pois permitem o acesso a recursos materiais sem a mediação do trabalho sofrido e sacrificioso. Tal percepção não é exclusiva do universo pesquisado, mas foi esquematizada também no referido trabalho de Teixeira (2019, 2020) com trabalhadores rurais do sertão do Inhaúns, no Ceará, e, como reflexão sobre sacrifício e sofrimento como valores morais é bem presente nas pesquisas de Mayblin (2013) em comunidades rurais do Nordeste.
Nessa construção moral dos tempos, e na sua ambiguidade inerente, as roupas adquirem relevância, pois o estado, limpeza, qualidade e quantidade de vestimentas constituem formas de apresentar-se publicamente e nos mostram aspectos interessantes na sua relação com os usos das águas. Como é possível observar no relato de Eulália anteriormente mencionado, ser fraco de roupa era algo que não apenas gerava constrangimentos em relação aos outros, como também implicava desconfortos corporais, tal qual a coceira medonha, fruto de vestir uma peça molhada.
A variedade, estado, conservação e higiene das roupas, além de serem referências a partir das quais se falava sobre a transição entre os tempos, eram um conteúdo pelo qual as mulheres narravam suas vidas e temporalizavam certos acontecimentos marcantes. Os relatos sobre as roupas e os modos de higienizá-las surgiam sobretudo quando as perguntas não se dirigiam diretamente à questão da água e seus usos, mas quando eu pedia para que elas “me contassem suas vidas”. Principalmente entre as mulheres que visitava com mais frequência, essas entrevistas pouco estruturadas rendiam muito boas palestras, como as liberdadenses também chamam o ato de conversar. O trecho a seguir, retirado de uma conversa que tive com Berenice, de 68 anos, irmã de Esmeraldina, dona da cisterna na qual se depositava a água do Exército, traz alguns elementos interessante sobre este ponto.
Berenice: E eu fazia milagre pra poder trazer o sabão, sabãozinho em pó – nunca lavei minha roupa só com sabão. Eu tinha que ter o sabão em pó e a água sanitária. Ficava uma roupa mais bonita, mais mole. Porque no tempo do meu pai e da minha mãe, eu lavava as roupas, eu caprichava tanto no mundo e as roupas ficavam meia dura. Eu não via aquelas roupas que balançavam no varal, num via de jeito nenhum. E eu caprichava tanto que eu suava. Eu fazia... 'meu Deus, o que é que tem nessa roupa, oh meu Deus, minha mãe vai brigar comigo, essa roupa não ficou do meu agrado, essa roupa não ficou boa'. E só ficava boa mesmo quando eu ia lavar roupa, de ganho, aí eu dizia, “oh, meu filho, eu quero que você me dê um pouco de sabão em pó e um pouco de água sanitária”. A roupa de meu pai e de minha mãe tinha cheiro e eu não queria fazer isso na roupa dos meus filhos. Eu não queria fazer. Eu, eu toda vida fui danada, danada mesmo em roupa. Fui, nega veia, danada eu fui toda vida eu fui em roupa e em lençol. Lençol pra eu me cobrir e num sentir o cheiro do sabão... porque eu vou usar amaciante. Vou forrar uma cama, com um forro duro, pesa, ou por outra pegar um lençol daqueles e acabar de me cobrir com aquele cheiro ruim, como quem lavou só com água. Não, na-não! Hm hm! As roupas dos meus meninos eu capricho, na minha roupa eu capricho, a Cláudia que suja mais é a muleca veia que eu criei, num tem zelo na roupa, não tem zelo em farda de escola e nem em calça comprida de escola... num tem! Eu achei pouco criar, sofrer com um rebanho...
Sentada ao seu lado, Berenice (68) me contava um pouco antes desse trecho sobre o momento que finalmente se assossegou, isto é, parou de fazer ganho de roupa (lavar roupa para fora), fazer carvão, limpar mato, entre outras diversas atividades que ela exerceu na vida, e, com os filhos mais crescidos e trabalhando, pôde se ocupar mais dos afazeres da casa. Com o dinheiro que ganhavam, ela conta fazer milagre para poder reparti-lo entre o feijão, a carne, o sabão em pó e a água sanitária. Esses dois artigos de limpeza eram fundamentais para ela pelo aspecto e odor que produziam nas suas roupas, que ficavam cheirosas e macias, balançando no varal, diferentemente das roupas no tempo de mãe e de pai, no qual eram lavadas somente com água e casca de juá rapado, que as deixavam meia duras e com cheiro.
As roupas e os lençóis, pelos quais ela diz ser danada, e o modo como são higienizados revelam percepções sensoriais interessantíssimas que se relacionam com a construção do seu lugar como mãe e como filha, do cuidado com os pais, filhos e consigo mesma, que se expressa muito a partir do zelo que ela atribui às roupas suas e as dos seus. Pelo uso do sabão e da água sanitária, pela maneira como lava a roupa, aspecto aparentemente desimportante e banal, Berenice nos fala sobre a passagem do tempo, sobre os filhos crescendo e trabalhando, sobre ela assossegando e sobre sua relação com a filha de criação mais nova, Cláudia. O capricho e o cuidado que dedica às suas roupas, portanto, não podem ser entendidos a partir de um julgamento técnico ou sanitário, da limpeza em termos de uma higiene prescrita por normas sanitárias, mas sim como uma forma de apresentar sua trajetória de vida e que é formativo de sua personalidade. As roupas e os modos ritualizados de higienizá-las, assim, conectavam-se a processos de cultivo de si e dos outros elaborados a partir de uma ética corporificada, tomando de empréstimo as reflexões de Pandian (2008) e Mahmood (2005) a respeito de corporalidade e ética cotidiana. Higiene, águas e materialidades compõem, portanto, um quadro complexo de experiências sensórias e morais, um saber-fazer relacionado à apresentação de si e à produção de corpos e cuidados generificados.
Eulália, ao me ver lavando roupa um dia no terreiro de Esmeraldina, bem como Berenice, me disse para eu usar um pouco de água sanitária, pois assim mesmo que minha roupa pegasse chuva, ela não ficaria com cheiro de lama. O aspecto e limpeza de minhas roupas eram também objeto de apreciação das minhas interlocutoras, em especial de Joana que, por convivermos proximamente e mesmo tendo a minha idade, exercia uma espécie de cuidado e controle maternais sobre mim. Usar as mesmas roupas diversas vezes gerava comentários jocosos dela ou até mesmo fazia-a lavar escondida uma ou outra peça em um dia que eu ia à cidade, mesmo que eu protestasse e não quisesse que ela o fizesse.
Certo dia, ela me provocou dizendo: “Sua mãe te educou bem para estudar, mas não te ensinou bem para ser dona de casa não.” Cuidar bem da higiene das roupas, um conhecimento muito complexo e de algum modo pouco considerado nas atenções etnográficas, relacionava-se fortemente com dispositivos generificados a partir dos quais se constituía como mulher, mãe e dona de casa. Além disso, as roupas são um signo central na apresentação pública dos corpos e, portanto, compõem modos de construção de imagens sobre si e perante os outros, bem como podem ser objeto de desqualificações e humilhações.
Figura 5 – Preparativos para lavar os panos no terreiro de Esmeraldina

Fonte: Centelhas (maio 2018).
Esse conhecimento fundamental de lavar os panos relacionava-se com a capacidade de apreciação das águas, das suas propriedade e aspectos, e a fala de Joana justamente joga com a minha ignorância nesse sentido. A depender da água utilizada, produzia-se efeitos sobre os tecidos e, como já dissemos, sobre os corpos. Em uma conversa ao estilo da que tive com Berenice, sem preocupar-me tanto em perguntar sobre a água, Ângela me descreveu conexões importantes sobre a influência das águas nas materialidades, em especial nesses objetos de grande valor para elas: as roupas.
Esmeraldina: E a água era de onde?[19]
Ângela: E a água era de barreiro, a gente botava nos potes e aquela água servia pra tudo, cozinhar pra beber, pra tomar banho, o barreiro é aquele primeiro barreiro que quando você vem subindo pra cá você vê. Mas daí depois que a minha prima morreu ali dentro ficou sem prestar a água, só serve mesmo pra lavar pano e a pulso. Porque quando vai lavar roupa branca, por exemplo, a roupa fica tudo amarela.
Esmeraldina: E tu ficava agoniando a água dos outros, né mesmo?
Ângela: É ficava carregando a água do barreiro dos outros, aí o dono dos barreiros ficava achando ruim, “não carrega água não, se não vir limpar não pode carregar água não”. Lá no Maniva, lá nas cacimbas era água de fartura. Lá nós lavava pano, nos enchia os bujão, nós descia nos animais, descia nos jegues, descia a serra, carregado com água e os paninhos tudo molhado na cabeça. Aí chegava aqui com eles todos alvinhos e estendia. Lavado com água do Maniva, pra beber, cozinhar.
Questionada sobre as fontes de água no passado recente, Ângela igualmente menciona a atividade de lavar pano. Sua fala também opera essa construção de temporalidades a partir do uso da água, que está constantemente em jogo em um local no qual a relação com as diferentes águas transforma-se não só nos grandes tempos (dos antigos e da riqueza), mas também nos tempos mais cíclicos, como do inverno (época das chuvas) para o verão (período de estiagem). A morte de sua prima é um evento que marca a impossibilidade de utilizar a água do barreiro, pois ela opera uma espécie de contaminação[20] naquela água, impedindo-a de colocá-la em contato mais direto com o corpo, isto é, beber, cozinhar e banhar-se. Além desse impedimento, a água do barreiro contaminada pela morte (me contaram que três pessoas já faleceram por afogamento dentro dele) passa a produzir um efeito nos tecidos brancos, deixando-os amarelos. Essa água contaminada é objeto de contraste com outra, a água das cacimba do Maniva, que por sua vez é capaz de deixar os panos alvinhos e isso é motivo de prazer narrado por Ângela.
O cuidado com as roupas, portanto, estende-se para além do objeto em si e transborda-se em um trabalho sobre as pessoas. Lavar as roupas, vestir as pessoas e asseá-las é uma atividade que prepara os corpos para sua aparição pública e, por isso, constitui um fazer doméstico iminentemente público. Apresentar o corpo e as vestimentas asseadas, ainda mais em um contexto de profundas assimetrias raciais e de humilhações que relacionavam raça à sujeira, era um modo de viver esse conflito a partir de uma ética do cuidado de si e dos seus. Apesar disso, não podemos dizer que o racismo e as demais desigualdades vividas pelas mulheres quilombolas da Liberdade dão conta de traduzir e significar seu saber e fazer em torno das roupas e seus cuidados. O narrar de Berenice sobre o deleite que lhe transmitem certos cheiros e o prazer de Ângela ao ver seus panos alvinhos mostram que há também, e talvez principalmente, uma sensibilidade estética que não pode ser negligenciada ao abordar esse assunto, pois estava em jogo ainda a construção do belo, o gosto pela beleza e o desejo de sentir-se bem e bonita.
Considerações finais
A fotografia apresentada neste texto sobre as distinções entre as águas, seus usos, origens e relações com os corpos e materialidades, contudo, não pode ser tomada a partir da aparente homogeneidade e fixidez difíceis de escapar ao traduzir a experiência dinâmica em texto etnográfico, tal qual alerta Peirano (2014). Como dissemos, as arrumações relativas às águas e seus usos variavam de uma casa para outra e, mais significativamente, em função e ao longo dos tempos. Perceber essas nuances e a multiplicidade inerente às águas agrestes só se tornou possível pela própria posição, em termos de gênero e geração, que nos era destinada no convívio com as mulheres da Liberdade. Nesse movimento, foi necessário deslocar-me da perspectiva que pensa a água unicamente como um “recurso natural” escasso na região semiárida, uma vez que esse enquadramento destoava das próprias práticas a partir das quais a águas circulavam e eram manejadas por entre as casas e coletividades.
Inspirada nas elaborações de Haraway (1995) e tomando o corpo como lócus fundamental na produção do conhecimento, nossa análise focalizou os distintos modos pelos quais as águas se relacionam com a produção de pessoas e materialidades. Sendo assim, a partir daquilo que era mais mostrado do que dito, mais praticado do que verbalizado, tomei as águas não como um objeto passivo da ação humana, tal como coloca Strang (2014), mas como um bem difuso que, pela sua multiplicidade de características táteis, visuais e gustativas, interfere diferencialmente, e desigualmente, nas relações humanas.
Na relação com as águas, as pessoas e coletivos elaboram as diferenças sociais e as desigualdades estruturais que perpassam seu cotidiano na Liberdade. Se pelo manejo das águas domésticas podemos vislumbrar atribuições generificadas, pois cabe socialmente às mulheres os trabalhos de cuidado da casa e das pessoas, quando essas águas são trocadas entre as famílias e coletivos podemos ver que elas tematizam também diferenças raciais e econômicas. Especialmente quando evoca a limpeza/sujeira, as águas e suas composições materiais podem ser um mecanismo de distinção e/ou hierarquização das pessoas, seja pelo modo como ela é usada, seja pelas características das águas que se usa.
Nesse jogo ambíguo entre humilhação e prestígio conectado às águas, ressaltamos um aspecto central para minhas interlocutoras nas suas reflexões sobre a mudança social e as relações de poder: as roupas. Por meio da descrição dos modos de higienizar estes bens socialmente tão relevantes, percebemos os possíveis cruzamentos entre as águas e as formas de cultivo de si, perpassados por uma ética do cuidado que conecta pessoas, coisas e modos de seguir em frente.
Referências
ABU-LUGHOD, Lila. Writing Against Culture. In: FOX, Richard (Org.) Recapturing Anthropology: working in the Present. Santa Fe: School of American Research Press, 1991. p. 137–62.
ALBUQUERQUE JÚNIOR, Durval Muniz. A invenção do Nordeste. São Paulo: Cortez, 2009.
ALBUQUERQUE JÚNIOR, Durval Muniz. Imagens retirantes: a constituição da figurabilidade da seca pela literatura do final do século XIX e do início do século XX. Varia Historia, Belo Horizonte, v. 33, n. 61, p. 225-251, 2017.
ANAND, Nikhil. The Banality of Infrastructure. Items, 27 jun. 2017. Disponível em: https://items.ssrc.org/just-environments/the-banality-of-infrastructure/#:~:text=Nikhil%20Anand's%20contribution%20to%20the,neglects%20or%20harms%20poor%20citizens. Acesso em: 11 mar. 2022.
ARSKY, Igor da Costa. Os efeitos do Programa de Cisternas no acesso à água no semiárido. Desenvolvimento e Meio Ambiente, Curitiba, Vol. 55, p. 408-432, dez. 2020. Disponível em: https://revistas.ufpr.br/made/article/view/73378. Acesso em: 10 ago. 2021.
CENTELHAS, Marcela Rabello de Castro. Nas águas das políticas: as mulheres, as cisternas e o curso da vida no agreste pernambucano. 2019. 281 f. Tese (Doutorado em Antropologia Social) – Programa de Pós-graduação em Antropologia Social, Museu Nacional, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2019.
CENTELHAS, Marcela Rabello de Castro. Maternidade, crianças e cuidado: um olhar a partir de uma política de acesso à água no semiárido brasileiro. Desidades, Rio de Janeiro, n. 28, p. 68-83, 2020. Disponível em: http://desidades.ufrj.br/featured_topic/maternidade-criancas-e-cuidado-um-olhar-a-partir-de-uma-politica-de-acesso-a-agua-no-semiarido-brasileiro/. Acesso em: 5 ago. 2021.
BOURDIEU, Pierre. O sentimento de honra na sociedade Cabília. In: PERISTIANY, John G. Honra e vergonha: valores das sociedades mediterrâneas. Lisboa: Calouste Gulbekian, 1971.
BRIGGS, Charles. Learning how to ask: a sociolinguistic appraisal of the role of interview in Social Science research. Cambridge: Cambridge University Press, 1986.
BUTO, Andrea; HORA, Karla. Integração regional e políticas para as mulheres rurais no Mercosul. In: SCOTT, Parry; CORDEIRO, Rosineide; MENEZES, Marilda (Orgs.). Gênero e geração em contextos rurais. Florianópolis: Mulheres, 2010. p. 121-156.
CARDEL, Lidia Maria Pires Soares; OLIVEIRA, Rejane Alves de. Práticas e contradições: um estudo de caso sobre os camponeses assentados no Médio São Francisco. Revista de Economia e Sociologia Rural, Piracicaba, v. 51, n. 4, p. 625-644, 2013. Disponível em: https://www.scielo.br/j/resr/a/TTbyxtQCF7SxW9WFm4FPsJj/?lang=pt. Acesso em: 21 ago. 2021.
CARNEIRO, Maria. José. Mulheres no campo: notas sobre sua participação política e a condição social do gênero. Estudos Sociedade e Agricultura, Rio de Janeiro, v. 2, n. 1, p. 11-22, 1994. Disponível em: https://revistaesa.com/ojs/index.php/esa/article/view/21/23. Acesso em: 3 ago. 2021.
CHO, Grace. Hauting the Korean Diaspora: shame, secrecy and the forgotten war. Minneapolis: University of Minesota Press, 2008.
COSTA, Liduina Farias Almeida da. Entre a denúncia e o fatalismo: natureza, sociedade e sertanejos-retirantes na literatura que evoca o Nordeste das secas. Estudos Sociedade e Agricultura, Rio de Janeiro, v. 28, n. 3, p. 571-593, 2020. Disponível em: https://revistaesa.com/ojs/index.php/esa/article/view/esa28-3_04_entre. Acesso em: 3 ago. 2021.
CUNHA, Luis Henrique. Desigualdades nos padrões de acesso à água e limites da cidadania hídrica em comunidades rurais do semiárido. Desenvolvimento e Meio Ambiente, Curitiba, v. 55, p. 99-116, 2020. Disponível em: https://revistas.ufpr.br/made/article/view/73371. Acesso em: 18 ago. 2021.
DAS, Veena. Fronteiras, Violência e o trabalho do tempo: alguns temas wittgensteinianos. Revista Brasileira de Ciências Sociais, São Paulo, v. 14 n. 40, p. 31-42, 1999.
DAS, Veena. Life and words. Violence and the descent into the ordinary. Berkeley; Los Angeles: University of California Press, 2007.
DAVIS, Pedro Gondim. Para além da “crise da água”: reflexões acerca da relação entre água, processos de formação de Estado e sociedade a partir de Itu (SP). 2018. 221 f. Tese (Doutorado em Antropologia Social) – Programa de Pós-graduação em Antropologia Social, Museu Nacional, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2018.
DIEGUES, Antonio Carlos (Org.). A imagem das águas. São Paulo: Hucitec, 2000.
DIEGUES, Antonio Carlos. Aspectos sócio-culturais e políticos do uso da água. In: Ministério do Meio Ambiente. Plano Nacional de Recursos Hídricos. Brasília: MMA, 2005.
FELDHAUS, Anne. Water and womanhood. Religious meanings of rivers in Maharashtra. New York: Oxford University Press, 1995.
GALIZONI, Flavia Maria. Águas da vida: população rural, cultura e água em Minas Gerais. 2005. 198 f. Tese (Doutorado em Ciências Sociais) – Programa de Pós-graduação em Ciências Sociais, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2005.
GALIZONI, Flavia Maria. Práticas sociais, sociedade camponesa e políticas públicas: a questão da água no Alto Jequitinhonha In: GALIZONI, Flavia Maria (Org.). Lavradores, água e lavouras. Estudos sobre a gestão camponesa de recursos hídricos no Alto Jequitinhonha. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2013, p. 29-38.
GALIZONI, Flavia Maria; RIBEIRO, Eduardo Magalhães; LIMA, Vico Mendes Pereira; SANTOS, Isaias Fernandes dos et al. Hierarquias de uso de águas nas estratégias de convívio com o Semi-Árido em comunidades rurais do Alto Jequitinhonha. Revista Econômica do Nordeste, Fortaleza, v. 39, n. 1, p. 132-152, 2008.
HARAWAY, Donna. Saberes localizados: a questão da ciência para o feminismo e o privilégio da perspectiva parcial. Cadernos Pagu, Campinas, n. 5, p. 7-41, 1995.
HEREDIA, Beatriz; PALMEIRA, Moacir. Política ambígua. Rio de Janeiro: Relume e Dumará, 2010.
HERNANDEZ, Carmen Osório. Reconhecimento e autonomia: o impacto do Pronaf-mulher para as mulheres agricultoras. In: SCOTT, Parry; CORDEIRO, Rosineide; MENEZES, Marilda (Orgs.). Gênero e geração em contextos rurais. Florianópolis: Mulheres, 2010. p. 63-94.
MAHMOOD, Saba. Politics of piety. The Islamic revival and the feminist subject. Princeton: Princeton University Press, 2005.
MAYBLIN, Maya. The untold sacrifice: the monotony and incompleteness of self-sacrifice in Northeast Brazil. Ethnos, Lima, v. 79, n. 3, p. 342-364, 2013.
PAES E SILVA, Lays Helena. Ambiente e justiça: sobre a utilidade do conceito de racismo ambiental no contexto brasileiro, e-cadernos CES, on-line, v. 17, p. 85-111, 2012. Disponível em: https://journals.openedition.org/eces/1123. Acesso em: 15 ago. 2021.
PALMEIRA, Moacir. Política e tempo. Nota exploratória. In: PEIRANO, Mariza. (Org.). O dito e o feito. Ensaios de antropologia dos rituais. Rio de Janeiro: Relume e Dumará, 2001. p. 171-178.
PANDIAN, Anand. Tradition in fragments: inherited forms and fractures in the ethics of South India. American Ethnologist, [s.l.], v. 35, n. 3, p. 466-480, 2008.
PEIRANO, Mariza. Etnografia não é método. Horizontes Antropológicos, Porto Alegre, v. 20, n. 42, p. 377-391, 2014.
PIEROBON, Camila. Fazer a água circular: tempo e rotina na batalha pela habitação. Mana, on-line, v. 27, n. 2, 2021. Disponível em: https://www.scielo.br/j/mana/a/XsVFsWRCXKZTnccF5s64V8p/?format=pdf&lang=pt. Acesso em: 20 abr. 2022.
QUINTELA, Maria Manuel. Curar e recrear em águas termais: um diálogo etnográfico entre Portugal (Termas de São Pedro do Sul e Termas da Sulfúrea) e Brasil (Caldas da Imperatriz). Anuário Antropológico, Brasília, v. 36, n. 1, p. 169-194, 2011. Disponível em: https://periodicos.unb.br/index.php/anuarioantropologico/article/view/6967. Acesso em: 13 ago. 2021.
RAMALHO, Cristiano Wellington Norberto. “Ah, esse povo do mar!”: um estudo sobre trabalho e pertencimento na pesca artesanal pernambucana. São Paulo: Polis; Campinas: Ceres, 2006.
ROSS, Fiona C. Bearing witness: women and the truth and reconciliation comission in South Africa. Londres: Pluto Press, 2003.
SAUTCHUCK, Carlos Emanuel. Gestos, água e palavras na pesca amazônica. Anuário Antropológico, Brasília, v. 36, n. 1, p. 169-194, 2011. Disponível em: https://periodicos.unb.br/index.php/anuarioantropologico/article/view/6961. Acesso em: 12 ago. 2021.
STRANG, Veronica. Fluid consistencies. Material relationality in human engagements with water. Archaeological Dialogues, [s.l.], v. 21, p. 133-150, 2014.
TADDEI, Renzo. As secas como modos de enredamento. ClimaCom Cultura Científica, on-line, 2014. Disponível em: http://climacom.mudancasclimaticas.net.br/sementeia-multi-midia-educacao-e-resistencias-em-uma-plataforma-virtual-2/. Acesso em: 10 mar. 2022.
TEIXEIRA, Jorge Luan. Caçando na mata branca: conhecimento, movimento e ética no sertão cearense. 2019. 459 f. Tese (Doutorado em Antropologia Social) – Programa de Pós-graduação em Antropologia Social, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2019.
TEIXEIRA, Jorge Luan. O refrigério e as facilidades: ambiguidade moral dos tempos na relação de trabalhadores rurais cearenses com o ambiente. In: Encontro Virtual do Núcleo de Antropologia da Política, nov. 2020. (Comunicação Oral).
TEIXEIRA, Carla; QUINTELA, Maria Manuel. Água e antropologia: perspectivas plurais. Anuário Antropológico, Brasília, v. 36, n. 1, p. 9-22, 2011.
TEIXEIRA, Carla; MOURA, Luis Claudio; DAIVISON, Anna. Relevâncias da experiência e critérios de potabilidade: conflito de interpretações sobre a água “boa” em uma localidade do Cariri. Anuário Antropológico, Brasília, v. 36 n. 1, p. 55-81, 2011.
WOORTMANN, Ellen. Da complementaridade à dependência: espaço, tempo e gênero em 'comunidades pesqueiras' do Nordeste. Revista Brasileira de Ciências Sociais, São Paulo, n. 18, p. 41-60, 1992.
ZHOURI, Andrea; OLIVEIRA, Raquel; LASCHEFSKI, Clemence. A supressão da vazante e o início do vazio: água e “insegurança administrada” no Vale do Jequitinhonha – MG. Anuário Antropológico, Brasília, v. 36, n. 1, p. 23-53, 2011.
Como citar
CENTELHAS, Marcela Rabello de Castro. A multiplicidade das águas no fazer das pessoas: corpo, gênero e materialidades em um quilombo pernambucano. Estudos Sociedade e Agricultura, Rio de Janeiro, v. 30, n. 1, e2230110, p. 1-33, 24 maio 2022. DOI: https://doi.org/10.36920/esa-v30-1_st02.
Marcela Rabello de Castro Centelhas
Professora efetiva do Departamento de Sociologia do Colégio Pedro II (Rio de Janeiro), atuando na Licenciatura em Ciências Sociais e na Educação Básica. Doutora e mestra em Antropologia Social pelo Programa de Pós-graduação em Antropologia Social do Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro (PPGAS/Museu Nacional/UFRJ).
https://orcid.org/0000-0002-5168-0742
http://lattes.cnpq.br/9001981965945563
marcelarabello91@gmail.com
|
Creative Commons License. This is an Open Acess article, distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License CC BY 4.0 which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium. You must give appropriate credit, provide a link to the license, and indicate if changes were made. |