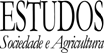
v. 30, n. 1, janeiro a junho de 2022 (publicação contínua), e2230109
|
Seção Temática Saberes, políticas e éticas da terra e do ambiente entre camponeses, quilombolas e povos tradicionais
|
Recebido: 15.04.2022 • Aceito: 06.05.2022 • Publicado: 24.05.2022
Artigo original /
Acesso aberto
Saberes, políticas e
éticas da terra e do ambiente entre camponeses, quilombolas e povos
tradicionais: uma introdução
Knowledge, politics, and ethics of the land and environment among peasants,
quilombolas and traditional peoples: an introduction
![]() Jorge Luan Teixeira [1]
Jorge Luan Teixeira [1]
![]() John Comerford [2]
John Comerford [2]
![]() Daniela Carolina Perutti [3]
Daniela Carolina Perutti [3]
DOI: https://doi.org/10.36920/esa-v30-1_st01
Resumo: Neste artigo introdutório à seção temática, apontamos a diversidade de formas pelas quais distintos povos camponeses, quilombolas e tradicionais regulam e negociam o uso e o acesso à terra e aos chamados “recursos naturais”. Exploramos como os saberes, as lógicas, as políticas e as éticas da partilha de terras, matas, águas e seres, que podem ou não ser concebidos como de “uso comum”, estão entrelaçados, com maior ou menor felicidade e continuidade, com o próprio fazer-se de tais comunidades. Dentre os “bens comuns”, as “artes” e os “saberes” de tais povos estão aqueles, sutis, inventivos e cotidianos, de produção da relacionalidade. Considerando-se as situações de disputa e expropriação, bem como as políticas governamentais de desenvolvimento econômico ou de conservação ambiental, refletimos também sobre as respostas e estratégias de tais povos para combater o avanço de práticas predatórias sobre os seus lugares e modos de vida.
Palavras-chave: política; ética; comuns.
Abstract: This introduction to the thematic section indicates the diversity of ways different peasant, quilombola, and traditional peoples regulate and negotiate use and access to land and “natural resources.” We explore how the knowledge, logics, politics, and ethics related to sharing land, forests, water, and beings (which all may or may not be considered to be for “common use”) are intertwined with the actual construction of these communities, to varying degrees of satisfaction and continuity. The “common assets” of these peoples include “arts” and “knowledge,” subtle, inventive, and everyday ways of producing relationality. We focus on situations of conflict and expropriation, as well as government policies on economic development or environmental conservation, to reflect on the responses and strategies used by these peoples to stop predatory practices that target their spaces and ways of life.
Keywords: politics; ethics; commons.
Introdução[4]
As discussões políticas e acadêmicas sobre os povos do campo, das águas e das florestas no Brasil têm, nas últimas décadas, salientado a diversidade de formas pelas quais se regula o acesso, a utilização e o conhecimento de terras, matas, águas, animais e plantas sem perder de vista as políticas de Estado e as lógicas jurídico-estatais. Uma questão fundamental nesse debate em andamento – que acompanha as próprias transformações políticas, econômicas e sociais do país – diz respeito à noção de propriedade, tensionada a partir da diversidade de formas de regulação de uso e conhecimento. Uma importante indicação inicial para essa discussão são as questões levantadas por Paul Bohannan (1967) sobre a configuração jurídica dos sistemas de ordenamento fundiário dos países africanos recém independentes das metrópoles coloniais. Bohannan ali sugeriu que o ponto de partida deveria ser as percepções e concepções a respeito da relação com a terra, os espaços e os lugares; em suma, os modos pelos quais os diferentes povos africanos concebiam essa dimensão espacial e a associavam à estrutura social e à cosmologia.
Com relação ao Brasil, como observa Almeida (2009), os complexos sistemas e lógicas de uso que vêm se revelando em etnografias, laudos, estudos historiográficos, entre outros documentos, também colocam em questão noções que partam de concepções estáticas de propriedade, seja individual ou corporada, pressupondo correspondência plena com as legislações do país. Ao contrário, verifica-se uma multiplicidade de arranjos e combinações entre o privado e o comum na apropriação dos chamados recursos naturais, tendo em vista dinâmicas políticas, de parentesco e sucessão territorial (ALMEIDA, 2002). Tais arranjos e combinações devem ser pensados a partir de uma diversidade de concepções e práticas de apropriação e como respostas e estratégias formuladas por distintos segmentos da população brasileira para assegurar o acesso à terra, às águas e às florestas e, dessa forma, tornar possíveis modos particulares de vida. Sempre lembrando que sua feitura e manutenção se constituem em situações de negociação, oposição, enfrentamento, fuga ou resistência cotidiana diante de intensos domínios territoriais, de plantations e latifúndios a grandes fazendas de criação, empresas agrícolas de larga escala, ou ainda, projetos estatais ou privados de colonização, de irrigação, de mineração, de infraestrutura e de conservação ambiental. Quando terras são concebidas a partir de ideias/práticas diversificadas de uso comum, somos interpelados a refletir sobre os múltiplos regimes de direito, posse, troca e conhecimento do ambiente que esses povos constituem, assim como os modos pelos quais se configuram saberes e relações diversas que sustentam, com maior ou menor felicidade e continuidade, o próprio arranjo correspondente à noção de “comum”, ou à noção conexa de “comunidade”, em cada circunstância e contexto e diante de cada situação de enfrentamento ou oposição tácita ou explícita. Nesse sentido, estamos também afirmando a capacidade inventiva de tais povos de desenvolver respostas para novas ameaças aos seus modos de vida e regimes de partilha e acesso a “recursos” variados.
A nosso ver, se tais modos de percepção, concepção e sistematização de espaços, lugares, conhecimentos e formas de acesso derivam da própria maneira pela qual comunidades camponesas vêm se constituindo em situações de conflito diante dos poderes estatais e da plantation em seus momentos de expansão ou de regressão, configuram também uma ética que perpassa tanto o “fazer comunidade”como a produção da alteridade (com humanos e não humanos); ou ainda, uma regulação do cuidado e das relações em diferentes níveis. Com isso, chamamos a atenção para o fato de que as formulações de grupos camponeses, quilombolas e povos tradicionais que visam dar conta de conflitos e torná-los compreensíveis comumente articulam um vocabulário moral na sua enunciação (SCOTT, 1976, 1990; THOMPSON, 1997, 1998; FASSIN; EIDELIMAN, 2012). Outra frente de debate diz respeito aos modos com que esses sujeitos desafiam lógicas hegemônicas e traçam suas próprias formas de atuar politicamente perante os avanços de práticas predatórias e projetos de desenvolvimento econômico que os ameaçam ou mesmo políticas de conservação que, orientadas por uma ideia “purificada” (LATOUR, 1994) de natureza, os excluem (DIEGUES, 1998; ALMEIDA; REZENDE, 2015).
A seção temática aqui apresentada tem sua origem em questões como essas, levantadas no ciclo de debates “Povos do campo, das águas e das florestas: recursos naturais, direitos de uso, política e conflito no Brasil”, organizado pelo Núcleo de Estudos, Pesquisa e Extensão em Desenvolvimento e Território (NEDET/Universidade Estadual do Vale do Acaraú) e pelo Núcleo de Antropologia da Política (NuAP) em junho de 2020.[5] Os três organizadores desta seção temática e a autora de um dos trabalhos aqui apresentados participaram do evento, sendo um deles (Jorge Luan Teixeira) também organizador do referido evento.
A seguir, buscamos fornecer alguns elementos para estimular o debate acerca disso que chamamos de Saberes, Políticas e Éticas da Terra e do Ambiente, estabelecendo diálogos entre os artigos que compõem esta seção temática e sugerindo pistas para compreender os fenômenos e processos que nos estimularam a propor e organizar esta seção em Estudos Sociedade e Agricultura.
Alguns pontos de partida etnográficos
Nosso ponto de partida são pesquisas realizadas por cientistas sociais em diferentes regiões do Brasil com caiçaras, faxinalenses, quilombolas, ribeirinhos, sertanejos e assim por diante, com o objetivo de refletir sobre: os modos de conhecimento e de modulação das relações com ambientes e seres praticados pelos povos em questão; sua relação com as políticas públicas, o direito e as concepções de terra de agentes de dentro e de fora do Estado, além dos conflitos que enfrentam e que tensionam seus modos de ser e de viver. Além disso, a proposta é a de refletir sobre a própria maneira pela qual conflitos, experiências, agenciamentos e conhecimentos fazem surgir coletividades, mas também um certo “saber fazer-se” como coletividade que envolve a relação com os ditos “recursos naturais” (efetivamente concebidos de maneiras diversas) e a expressão reflexiva dessa relação.
Como demonstra Almeida (2006), comunidades tradicionais constituem “terras de uso comum”. Contudo, como o autor também assinala, se elas podem, de um lado, conceber certas porções de seus territórios como coletivas, de outro, o “comum” não é sinônimo de comunal. Os faxinais do Paraná, por exemplo, são apropriados coletivamente para a criação de animais, que vivem “na solta”, mas possuem donos particulares. Além disso, cada família tem sua posse ou propriedade dentro do faxinal, área onde mora e de onde pode extrair erva-mate. Arranjos semelhantes podem ser encontrados em áreas de “gerais” no norte mineiro e no Vale do Jequitinhonha. “Terra de uso comum”, nesse sentido, não implica necessariamente um território coletivo, mas sim combinações entre apropriações mais “privadas” e mais “coletivas” do território (ALMEIDA, 2006; PORTO, 2013), sendo aquilo que se entende como coletivo também variável. Como observam Galizoni e Ribeiro (2011), por sua vez, ao pensar sobre a ética do uso e da gestão das águas em comunidades rurais mineiras, diferentes princípios e gramáticas de uso podem orientar a relação das comunidades ou de membros específicos com ambientes distintos, de modo que: “Pode haver […] uma gama de combinações entre apropriações diferentes, que são peculiares, localizadas e articulam de formas diversas ambiente, técnicas de produção, relações sociais e poder” (GALIZONI; RIBEIRO, 2011, p. 82).
Há, ainda, estudos que descrevem variações nos usos da terra que passam por ciclos do clima, como é o caso das vazantes e enchentes vividas pelos camponeses das ilhas e margens do rio São Francisco que foram afetados pela construção da barragem de Sobradinho (COSTA, 2013). Em casos como esse, a possibilidade de plantio em áreas de fertilidade acrescida pelas vazantes do rio, ou de acesso à pesca em lagoas temporárias, é dada tanto por arranjos costumeiros, tendo por base o parentesco, como por permissões que passam por relações políticas e pelos códigos jurídicos que estabelecem a propriedade de ilhas fluviais. A antiga sazonalidade regular que a barragem destruiu delimitava saberes e manejos próprios a cada estação e a cada tipo de terreno, correlacionando ecologia e relações sociais e inscrevendo uma história dos limites possíveis desses arranjos (mantida pela memória das grandes enchentes), que foram destruídos pelo grande projeto estatal nos anos 1970/1980 (ao trazer uma enchente que não recuou).
Para além das qualidades da própria terra, bens como a água podem ser diferenciados no que diz respeito a suas qualidades e usos, algumas mais propícias a serem bebidas e partilhadas do que outras, como descrevem Galizoni e Ribeiro (2011) em seu trabalho com camponeses da serra da Mantiqueira mineira. Marcela Centelhas (2019) observa tais qualidades e utilizações em sua tese e no artigo presente nesta seção temática ao destacar a diversidade das “águas” para uma comunidade quilombola pernambucana. Nesse sentido, para além das variações entre diferentes noções de posse e de compartilhamento, que ensejam complexas discussões sobre a ética e a política do uso, por vezes tensionando ordenamentos jurídicos, esses povos estão em contínua e intensa relação com os ambientes que habitam, constituindo ecologias e saberes específicos.
As relações entre seres humanos, ambientes, plantas, águas e bichos têm adquirido um renovado interesse nas discussões antropológicas de um modo mais amplo, como atestam diferentes trabalhos publicados nas últimas décadas, alguns deles aqui citados. Nessas reflexões, natureza e cultura perdem o estatuto clássico de oposição e de domínios autônomos, sendo mantidas nesses estudos mais como categoria analítica do que um dado etnográfico. Assim, Latour (1994 [1991]) argumenta que, tanto quanto a sociedade, a natureza também é construída, o que está em consonância com as observações etnográficas de autores como Philippe Descola (1996 [1994]) e sua hipótese sobre diferentes modos de identificação das (des)continuidades entre os sujeitos cognoscentes e o mundo (2013 [2005]). A seu turno, Tim Ingold (2000) cunha a noção de “ecologia da vida”, compreendendo os ambientes como algo em relação contínua com nossas vidas, à medida que humanos, seres e ambientes se constituem mutuamente. Anna Tsing (2005), por sua vez, debate o modo como florestas são formadas por processos culturais que envolvem, simultaneamente, negócios predatórios e a intensificação das lutas de diferentes povos pelas áreas onde vivem. Trabalhos sobre as populações da Floresta Amazônica vão na mesma direção ao demonstrar o papel decisivo da ação humana para a vida e a diversidade do ecossistema (BALÉE, 2008), como através da abertura de pequenos roçados (CUNHA; ALMEIDA, 2002, 2009). Em que pesem suas diferenças, todos esses autores também refletem sobre modos de conhecer tais ambientes e “naturezas-culturas”, os quais não pressupõem observação distanciada e impessoal, mas sim um engajamento contínuo e afetivo entre humanos e não humanos, corpos e elementos, técnicas, conhecimentos e paisagens. Inspirados na perspectiva de Ingold (2011), conhecer o mundo e habitá-lo são coincidentes.[6]
Lançando mão do conceito político-jurídico de “terras tradicionalmente ocupadas”, camponeses, quilombolas e povos tradicionais se mobilizam e produzem demandas ao Estado para o reconhecimento de seus modos de ser e de viver e para a criação de políticas públicas que garantam sua autonomia e condições de vida digna. Todavia, é também por intermédio do Estado e de seus projetos de desenvolvimento econômico e territorial – que pressupõem visões persistentes sobre espaços vazios, obstáculos ao desenvolvimento e à integração nacional, e formas legítimas de ocupação territorial – que muitos desafios e ameaças chegam a esses grupos. Mauro Almeida (2016), em diálogo com as formulações de Georgescu-Roegen e Rosa Luxemburgo, defende a tese de que os projetos de desenvolvimento econômico dependem necessariamente do aporte contínuo e progressivo de recursos naturais diversos, assim como da incorporação permanente ao mercado de trabalho e ao consumo de diferentes povos e grupos que vivem conforme lógicas não capitalistas. O crescimento econômico, seja ele capitalista ou não, é concebido pelo autor como “de natureza predatória porque inevitavelmente transforma energia rica em diversidade [baixa entropia] em energia com baixa diversidade [alta entropia]” (ALMEIDA, 2016, p. 29). Refletindo sobre a história da plantation canavieira, Anna Tsing, por sua vez, parece ir na mesma direção ao defender que os “projetos de escalabilidade banem diversidade significativa, o que significa acabar com a diversidade que pode mudar as coisas” (2019, p. 178).
A expansão da fronteira agrícola, a construção de estradas, a liberação e o emprego intensivo de agrotóxicos (sem precedentes nos últimos anos), os desastres ambientais, os avanços da especulação imobiliária e a grilagem de terras, os grandes projetos minerários por vezes precedidos pelo incentivo ao garimpo ilegal, e o turismo predatório são alguns dos conflitos enfrentados por esses povos do campo, das águas e das florestas em nosso país. Por outro lado, na tentativa de conter o avanço destruidor de projetos fomentados pelo próprio Estado, criam-se as Unidades de Conservação (UC) ambiental, recintos protegidos da intervenção humana que em vários casos expulsam povos de seus lugares de vida ou controlam suas formas de habitar.
Ademais, os termos das políticas de uso e as diferentes modalidades de relação com a terra e seus entes estão em permanente tensão dentro das próprias comunidades pesquisadas. Assim, é fundamental pensar tais conflitos e políticas em suas múltiplas dimensões e nos entrelaçamentos entre os agentes que deles participam.
Saber fazer comuns e comunidades
Parece-nos especialmente importante entender as maneiras pelas quais diferentes grupos se articulam internamente e com o ambiente em termos políticos e éticos, com maior ou menor abertura para produzir relações com agências estatais, movimentos sociais, facções políticas, organizações não governamentais. Aqui é notável a presença e a transmissão de artes de fazer relações que possibilitam, em algum grau, o “dispor em comum” cotidiano de certos bens, muitas vezes contornando delimitações jurídicas e propensões divisivas resultantes das próprias dinâmicas entre pessoas e famílias que participam da “comunidade”. Esse saber dispor em comum, que é também um saber fazer comunidade, encarnado a cada momento em determinadas figuras exemplares e hábeis nas artes da relacionalidade, é algo cultivado como uma prática de dimensões éticas e políticas, um modo (ou diversos modos) de atuar sobre a própria conduta e a de outros. Pode chegar a ser considerado um “jeito de ser”, ao menos potencial, que distingue determinados coletivos (famílias, comunidades, povos). Em certos casos, poderíamos dizer que esse “jeito de ser” e a existência de certas figuras exemplares pela sua capacidade de compor relações se configura como o “bem comum” por excelência, um suporte compartilhado e eficaz para articulações de lugares, terras, pessoas, animais, plantas, objetos, máquinas e entidades, podendo servir de base a processos de mobilização política.
Não são poucas as notícias etnográficas que chegam, por meio de pesquisas com diferentes povos, de pessoas que se dedicam às artes de visitar seus vizinhos e vizinhas, de bem entretê-los e entretê-las nas visitas às suas casas, a estar atentas às suas inquietações e a seus dramas, às tensões e a problemas que podem resultar ou já resultaram em conflitos abertos. Encontramos, por exemplo, na pesquisa de Perutti (2015, 2018), os quilombolas de Família Magalhães (GO) recebendo o pistoleiro que os ameaçava dentro de suas casas com todos os cuidados dedicados a uma visita, como forma de controlar suas atitudes disruptivas e contrabalançar poderes. Ou ainda, na pesquisa de Centelhas (2019), as visitas atentas e cuidadosas sistematicamente empreendidas por dona Esmeraldina aos vizinhos, em meio a disputas associativas potencialmente de rompimento, sem esquecer de visitar os vizinhos da outra associação que não a dela própria, e eventualmente convidando as dirigentes rivais para um almoço em sua casa após uma tensa reunião. Ou a cautela (em ambos os sentidos) constatada por Ayoub entre as esposas de posseiros e suas vizinhas, esposas de jagunços da empresa que pressionava para tomar-lhes as terras (AYOUB, 2016).
Outros e outras, ou as mesmas e os mesmos, podem se dedicar às artes de bem receber os estranhos, os técnicos do Estado ou de ONGs, os políticos em busca de votos, pesquisadores, estudantes, lideranças de movimentos e assim por diante. Sabem acolher, envolver e conduzir esses estranhos pela comunidade, e narrar com impacto as histórias da família, do povo, da comunidade, e de si mesmos. Fazem de saberes especiais e reconhecidos – do artesanato, da agricultura, da música, da dança, da culinária, do contar causos, da memória – foco de aproximação, troca, reconhecimento e orgulho. Existem inúmeros exemplos encontrados em etnografias, estas mesmas muitas vezes só viabilizadas por pessoas com essa atenção– veja-se o caso da marcante dona Das Neves em Fialho (2018), líder política, religiosa e uma das detentoras de artes da cerâmica transmitidas às gerações mais novas e por meio das quais tornou conhecida a comunidade. Há os(as) que reconhecidamente sabem ser firmes, decisivos(as), atuando como mediadores(as) informais em situações de conflito e tensão, como o senhor Olímpio, ex-presidente do Sindicato de Trabalhadores Rurais de um município do Vale do Jequitinhonha e interlocutor de um dos autores deste texto (Comerford), que sabe contar inúmeros casos em que tratou de compor acordos sobre divisas de terrenos de agricultores vizinhos, mesmo bem depois de deixar a presidência do Sindicato. Há aquelas e aqueles que sabem das rezas, das aproximações com as mais diversas entidades, e em torno disso reúnem as pessoas, tornam-se referências ou reforçam um leque de motivos pelos quais se tornam pessoas exemplares, destacadas e lembradas.
Em maior ou menor grau, que haja essas figuras de destaque – percebidas e reconhecidas “de fora” ou não, mas sempre detentoras de algum tipo de autoridade, inerente à sua exemplaridade e à sua posição na sociedade local – é fundamental para que sejam eticamente ajustados o acesso e o usufruto de águas, terras, matas, mudas, sementes, barreiros de argila (para cerâmica) e assim por diante. Esse tipo de ajuste “tradicional”, “costumeiro”, “comum” não surge e se mantém do nada, mas dos saberes, das artes, atenções e dos trabalhos incessantes de criação e manutenção de relações de pessoas e coletividades capazes disso. Parece-nos, portanto, que a caracterização de tais povos e comunidades como “tradicionais” também deve dar conta dessas artes da relacionalidade, que, ao fim e ao cabo, são indispensáveis para a constituição e negociação cotidiana de tais coletividades com a terra, o ambiente, as pessoas e grupos.
Essas capacidades, aparentemente ordinárias mas frequentemente tão sutis, podem se concentrar em pessoas e famílias ou “povos” (no sentido apontado por CARNEIRO, 2015), diferentemente caracterizados como “amigueiros” (PERUTTI, 2018), “animados” (DAINESE, 2016), “pacientes”, que “sabem conversar” (COMERFORD, 2003, 2014, 2015), “justos”, até mesmo “bravos”, “valentes” (COMERFORD, 2003), “pirracentos” (VIEIRA, 2015) ou as mais diferentes combinações de referências morais de alguma forma admiráveis ou notáveis, do ponto de vista das noções de dignidade de cada comunidade em permanente formação e reformação. Tanto quanto a herança política de famílias dominantes (CÂNEDO, 2002), reputações e (contra)poderes dependem de cultivo e transmissão de modos de ser e saber, da socialização familiar no cotidiano e em ocasiões festivas, até as estratégias de casamento, guardadas as diferenças e desigualdades da situação e objetivos de elites políticas tradicionais e de famílias e comunidades camponesas econômica e politicamente dominadas – mas sempre em busca de afirmar sua dignidade própria.
Se, até aqui, constatamos a importância de pessoas e famílias de destaque para que algo como “bens comuns” possa existir, propomos que esses saberes e artes de relação e composição de forças possam ser considerados, eles próprios, um delicado “bem comum”, passado de geração em geração. Além disso, queremos sinalizar que sem essas pessoas, coletividades, artes e saberes, possivelmente não haveria por onde irradiar políticas “comunitárias” (tal como denominado por Araújo em artigo desta seção temática) que alcançassem algum peso, reconhecimento e eficácia no plano das relações com agências do Estado, ou mesmo com agências de militância política como sindicatos e associações ou com ONGs e entidades paraeclesiais. Esse modo de irradiação do “comunitário” ao “institucional” (que por sua vez não é sem consequências para a dinâmica das comunidades nem para o futuro dos “bens comuns”) aparece em artigos aqui publicados. No texto de Roberta Cunha e Lia Barbosa, vemos a disposição de luta de um núcleo de parentes próximos da família Moura e sua habilidade de acolher e construir relação com militantes do Movimento dos Atingidos por Barragens. O artigo de Marcela Centelhas nos apresenta o acolhimento e a candura firme e sutil de dona Esmeraldina nas visitas, prática que permite consolidar uma associação alternativa à dos brancos. João Maciel de Araújo, por sua vez, aponta a presença em agências do Estado e na política partidária dos militantes e filhos de militantes oriundos da política “comunitária” dos seringueiros. Se no cotidiano não houvesse o cuidado, o cultivo e a incorporação desse “bem comum” composto de pessoas, artes e saberes de relação, as oportunidades de se afirmar politicamente com alguma eficácia diante das pressões sobre territórios e modos de vida simplesmente passariam, como ocorre em diversas situações.
Da conformação ética dos lugares e ambientes – algumas observações
Outro ponto de partida destas reflexões são nossas próprias etnografias, que nos conduziram à dimensão ético-moral da circunscrição dos lugares, “recursos” e do acesso a eles, incluindo as terras, plantas, animais, águas, pastos, frutas que marcam cada um, tensionando com frequência a ideia consagrada de propriedade e seus pressupostos.
No Sertão dos Inhamuns, Ceará, onde Teixeira (2014, 2019) vem desenvolvendo pesquisas, as famílias de moradores (trabalhadores rurais agregados) contam para a sua subsistência[7] não apenas com a agricultura, com a criação de pequenos animais, com a remuneração (em bichos ou dinheiro) advinda do trabalho na pecuária ou de serviços prestados aos donos de terra, mas também com o extrativismo, com a pesca e com a caça. Relembrando a infância, a adolescência e o começo da vida adulta, muitos sertanejos observam que eles, os seus pais e avós, raramente comiam a carne dos bichos que criavam. A carne consumida provinha, salvo momentos excepcionais como visitas e festividades, das matas ou dos rios e açudes. Muitos relataram, portanto, que foram “criados” por seus pais com “caça do mato”.
Sendo trabalhadores rurais sem propriedade formal da terra em que residem e trabalham, os moradores apenas poderiam caçar da mesma forma em que vivem, isto é, “em cima do que é dos outros”, cruzando as “terras alheias”. Como não há nas regiões estudadas terras e florestas públicas, unidades de conservação ambiental, entre outros espaços, isso significa que a prática ocorre sobre as terras dos seus patrões ou de outros proprietários rurais. Portanto, a caça era (e é, presentemente) possível com o consentimento dos proprietários de terras, ou com o seu desconhecimento, silêncio complacente ou vista grossa sobre o assunto. Ao contrário do que foi observado em outro trabalho desta seção temática, o artigo de Keyty Silva, Eduardo Magalhães Ribeiro e Gildarly Cruz sobre os gerais, os sertanejos dos Inhamuns não fazem referência a um passado sem cercas ou em que houvesse poucas cercas. Dada essa configuração territorial, caçar é para eles, literalmente, cruzar cercas, forçar caminho através delas ou saltá-las. Cabe destacar que há um decisivo “pressuposto ontológico” (ALMEIDA, 2013) que informa e percorre a relação dos sertanejos com o seu mundo: “tudo que existe no mundo tem dono”. Todos os lugares que existem nessa região são concebidos como lugares de alguém, e essa preposição não descreve apenas ou mesmo necessariamente uma forma de apropriação privada (ou comunal), uma relação de propriedade, mas uma lógica de englobamento moral. Consequentemente, as relações que um caçador específico (ou ‘os caçadores’ como uma espécie de coletivo moral difuso) estabelece com o e no terreno de outra pessoa impactam o relacionamento com o seu dono.
Quando caçadores e seus cães cruzam repetidamente diferentes cercas, eles estão ignorando essas formas de codificação do espaço rural e questionando com o próprio corpo uma forma jurídica consagrada de apropriação desse território rural. Do mesmo modo, conhecendo em detalhes “terrenos” que não lhes pertencem – sabendo, por exemplo, onde encontrar determinados espécimes vegetais ou colmeias de abelhas –, não é apenas com os pés que os sertanejos estão “reivindicando” esses lugares, mas também com a mente. Não há nenhuma forma de demanda coletiva de tais áreas de caça como áreas de uso comum e tampouco uma luta política ou movimento social que busque desapropriar tais áreas ou legalizar o seu acesso; mas é possível divisar uma espécie de ética do uso e do acesso a esses lugares, assim como um conjunto de tensões e conflitos latentes, seja entre os próprios caçadores (pois nem todos sabem se portar apropriadamente ‘em cima do que é dos outros’) ou entre eles e certos proprietários de terra que veem com maus olhos a prática venatória e/ou o fato de repetidamente diferentes pessoas cruzarem suas terras na surdina.
Em conformidade com as observações de outros autores sobre distintos povos camponeses e tradicionais (GALVÃO, 1976; WAGLEY, 1988; ALMEIDA, 2013), a atividade cinegética implica uma relação de respeito e de negociação com entidades que guardam e cuidam da caça e dos seus lugares de vida: o Dono da Caça, o Pai da Mata, a Mãe D’Água, o Mestre das Abelhas, entre outras. É apenas com sua permissão e consentimento que se tem sucesso, sob pena de repreensão física, mal-assombros ou um permanente estado de insucesso nas caçadas. Indo na mesma direção, aliás, Cíndia Brustolin e Dayanne da Silva Santos destacam em artigo nesta seção temática a força que a “Matinha” tem e empresta ao povo do Quilombo Santa Rosa dos Pretos, em Itapecuru-Mirim, Maranhão. Sendo essa porção de mata preservada um lugar sagrado, não se pode nela transitar de qualquer forma e sem autorização. As “obrigações” ali realizadas para os encantados do Tambor de Mina renovam a força corporal e de luta dos quilombolas. Os casos do Sertão dos Inhamuns e do Quilombo Santa Rosa dos Pretos problematizam o comodismo da expressão “recursos naturais” ao chamarem a atenção para dimensões outras que não econômicas – morais, religiosas e (cosmo)políticas –, inerentes às distintas relações de tais povos com os lugares e entes comumente descritos ou como “naturais” ou “sobrenaturais”. Parece-nos assim que o que está em jogo na relação entre os sertanejos e as brocas, roças, matas, entre outras áreas, são diferentes sistemas de uso daquilo que economistas e ecólogos chamariam de “recursos naturais”: um sistema de uso privado da terra coexiste e se sobrepõe (não sem tensões e ambiguidades) com uma espécie de sistema de uso coletivo das matas e dos seus viventes.
Se moradores e outros trabalhadores rurais que não têm propriedade efetiva da terra podem acessá-la ao plantarem “em cima do que é dos outros”, isso ocorre em razão de arranjos variados estabelecidos entre eles e o proprietário. Essa é uma relação de troca entre proprietários e agricultores fundamentada pela lógica econômica e moral do trabalho e da “luta”. A caça e a pesca, diversamente, não são concebidas pelos interlocutores como “trabalho”, tampouco os veados, os tatus, os caititus, o mel das abelhas, entre outros, são compreendidos como propriedade dos donos de terra, pois nem são por eles criados a partir do seu trabalho nem foram por eles “comprados” de outro proprietário que os houvesse criado. No fundo, se a caça se desenrola sobre “terras alheias”, a relação de troca efetivamente estabelecida pelos caçadores apenas mediata e incidentalmente é com os proprietários da terra. A troca em questão é concebida como operada com os próprios bichos, com os seus donos extra-humanos e com Deus – que concede essas facilidades aos “pobres”. Deus, disse um sertanejo, “já deixou [os bichos] pra is[t]o, o cabra mata já é pra is[t]o: comer, sobreviver” .
Em contraste com os sertanejos pesquisados por Teixeira, que não supõem um tempo sem cercas cortando seus territórios, sendo possível adentrá-las para caçar, na pesquisa de Perutti (2015) nas margens do rio Paranã em Nova Roma, Goiás, a matriarca do quilombo de Família Magalhães conta com nostalgia que antes a região por onde circulavam não tinha cercas, mas gente. Em contrapartida, hoje o que se observa é muita cerca para pouca gente – um “deserto”. A cerca apresenta-se, portanto, como interdição recente e sem validade moral: Sebastiana não considera legítimo que se seja dono de uma terra apenas “no papel”. É preciso habitá-la, ter roças, criações, vizinhança (humana e não humana).
Naquele passado lembrado como sem cercas, os quilombolas faziam suas andanças pelos arredores do rio, “caçando melhora”, se estabeleciam em determinado lugar e ali recomeçavam a vida, em uma permanente impermanência. Em meio a esses movimentos, João e Sebastiana chegaram à Fazenda Lavado nos anos 1950 por meio de um acordo com um compadre para criarem porcos. Consideram que sua permanência em definitivo no local, um desejo de Sebastiana, ocorreu graças ao temperamento e saberes do falecido patriarca João – parteiro, curandeiro e, acima de tudo, “amigueiro”. Além de uma herança de João, o jeito “amigueiro” de ser é também atribuído à Sebastiana, que criou seus descendentes como pessoas calmas, sem vícios, cuidadosas na tessitura de suas relações. Há uma valoração moral em torno desse saber ser “amigueiro” como uma forma de controlar a braveza, o “sangue agitado”, a propensão à briga, sempre iminentes. O “sangue agitado” é, inclusive, usado como categoria acusatória nas tensões intrafamiliares.
No período da pesquisa de Perutti, entre 2011 e 2015, os habitantes do município de Nova Roma percebiam o lugar como em vias de acabar, de virar um deserto – de um ponto de vista ambiental, pelas secas mais rigorosas, mas também pela falta de “movimento” de pessoas. O jeito próprio de ser e se relacionar da Família Magalhães, além de garantir e legitimar sua permanência na Fazenda Lavado, foi a maneira particular encontrada para lidarem com essa percepção de “deserto”. Aprenderam, alguns mais do que outros, as artes de gerir relações, seja com amigos, seja com outros ameaçadores – como seres mágicos potencialmente perigosos, opositores políticos ou pistoleiros – procurando apaziguá-las. Aprenderam a cultivar – como se cultiva um roçado – relações com vizinhos, políticos locais, correligionários, opositores políticos, amigos de Brasília que vão passar as férias na região.
Nos estudos do Incra para a futura titulação da Fazenda Lavado como terra de quilombo, foi-lhes colocada a possibilidade de reassentar e desapropriar vizinhos de terras ocupadas anteriormente pelo grupo, mas perdidas ao longo do tempo. A possibilidade os levou a uma delicada discussão, não sem tensões internas, sobre suas relações de vicinalidade. Preferiram não recuperar a maior parte dessas terras, sob o risco de perderem os vizinhos e, assim, transformarem de vez a região em deserto. Um território maior em termos de extensão, mas menor do ponto de vista existencial.
Esse jeito de ser também envolve um forte engajamento perceptivo a respeito do controle da passagem de pessoas e seres sobre o território. Observam com acurácia os rastros de humanos e não humanos pela estrada de terra que corta a Fazenda Lavado, calculando há quanto tempo teria ocorrido aquela passagem. Também mantém os ouvidos em permanente vigilância a qualquer barulho de gente e de bicho, identificam as “zoadas” de motor de carro ou de moto a uma grande distância, especulam o tamanho e a direção do veículo pelo barulho. Os indícios de passagem de gentes e seres povoam o território, fazendo dele menos deserto. Território esse que não é concebido, portanto, como anterior aos movimentos e relações que o produzem, como Sebastiana evidencia no lamento sobre as cercas sem gente.
Da mesma forma, em etnografias realizadas na Zona da Mata de Minas Gerais e no Vale do Jequitinhonha mineiro, Comerford (2003, 2014, 2015) destaca o cultivo de uma fina atenção às movimentações de pessoas e animais nos territórios das comunidades, inclusive nos territórios urbanos por onde circulam as pessoas dessas comunidades. Essa precaução é indissociável de narrativas e comentários ou julgamentos morais que circulam com grande eficácia e rapidez, assim como de tensões concomitantes – que são, nesse sentido, constitutivas da comunidade. Do ponto de vista da discussão aqui apresentada, o conhecimento acerca dos deslocamentos, permanências, ausências, caminhos costumeiramente trilhados, interdições de trilhar certos caminhos ou tensões geradas pelo caminhar, compõe um quadro dinâmico e detalhado tanto territorial como moral. Esse quadro é acompanhado com interesse pela comunidade (na sua concentração ou dispersão geográfica própria), e relativiza as delimitações jurídicas (as cercas, as propriedades) por meio do mapeamento permanente das relações e das possibilidades, ou não, de acesso, usufruto e apropriação dos lugares e daquilo que eles potencializam. Nesse sentido, até mesmo casas ou lugares de trabalho (oficinas, lojas, biroscas) na pequena ou na grande cidade poderiam ser pensadas como parte de um “comum” na medida em que se configurem como um elemento compartilhado dos circuitos de vida, eticamente regulados, de um dado povo (definido de forma mais abrangente ou mais restrita, como uma “família” mais delimitada ou mais inclusiva em relação à comunidade).
Alguns comentários sobre os artigos
Assim, o interesse em organizar este dossiê surgiu da constatação de que há um amplo leque de trabalhos trazendo notícias de uma diversidade de comunidades camponesas (para usar um termo abrangente e sem maiores pretensões conceituais no presente contexto) que vêm na prática criando e mantendo modalidades de relação com terras, águas, plantas e animais que não coincidem plenamente com o que está estatuído pelas formas dominantes de organização jurídica e econômica, ainda que estejam sempre postas em relação com essas formas. E que diante das pressões e agressões aos seus territórios e modos de viver, se articulam politicamente a partir, em larga medida, da mobilização de suas maneiras próprias de autoridade e do protagonismo de pessoas e famílias portadoras de saberes relacionais fundamentais para a constituição e transformação dessas comunidades e de sua dignidade própria, inclusive em momentos decisivos de mobilização política. Vistas em seus próprios termos, e não nos termos gerados a partir de posições social, política e economicamente acima e ao centro do Estado nacional brasileiro (seguindo a inspiração da “visada anarquista” proposta por James Scott, 2009, 2012), tais comunidades não são focos de atraso, obstáculos ao desenvolvimento, inviáveis economicamente, reservatórios de mão de obra ou mesmo necessariamente guardiãs de “recursos naturais” contabilizáveis. Tampouco são, ao contrário, riscos a esses mesmos “recursos”, tal como muitas vezes aparece em discursos e projetos políticos ou em falas informais no cotidiano de numerosos agentes estatais ou empresariais. Os trabalhos apresentados no ciclo de debates promovido em 2020 pelo NEDET em parceria com o NuAP, bem como os artigos aqui apresentados, oferecem um leque variado sobre os termos próprios dessas comunidades, no que diz respeito ao modo como entendem o assim chamado “ambiente” e lidam com ele. Do mesmo modo, tratam de processos conflitivos e seus desdobramentos em termos de políticas e da política, sobretudo quanto às experiências de busca de reconhecimento político como protagonistas e portadores de uma perspectiva própria a ser levada a sério.
Os diferentes trabalhos que compõem a seção temática expressam, direta ou indiretamente, a dimensão ética do fazer-se (e refazer-se) de tais povos, o que em alguns casos se expressa em situações de conflito social em que os “lados” da disputa são compreendidos desde um ponto de vista moral. Não por acaso, uma das interlocutoras de Roberta Cunha e Lia Barbosa sugere identificar no artigo as lideranças da comunidade Lapa que resistem à expropriação de suas terras pela construção de uma barragem, com termos que “ilustram as suas lutas”: “Força”, “Luta”, “Bem-Viver”, “Território”, “Direito”. No mesmo artigo, ao rememorar a ocupação ocorrida em 2010, protagonizada por três comunidades atingidas pela construção da barragem Figueiredo, o interlocutor Bem-Viver-66 opõe “a força das famílias”, concebida como moralmente positiva e representada pelas comunidades, à “força do dinheiro” daqueles a quem interessava a construção da barragem. As imagens acionadas pelos lapistas e o seu forte conteúdo moral remetem às observações de Comerford (1999) sobre um dos sentidos da palavra “luta” entre trabalhadores rurais do oeste baiano. Essa “luta” dos “pobres” contra os “poderosos” tem, em seu conteúdo agônico, uma dimensão ética (e épica) crucial, na medida em que os primeiros afirmam que tiveram direitos lesados ou um modo de vida tradicional ameaçado e, coletivamente, agem contra aqueles que os ameaçam. “Luta”, portanto, também expressa um sentido de comunidade e de união – e de comum, nos casos sobre os quais refletimos aqui – na ação política coletiva e, manifestando-o, “(...) é a própria mobilização e o reconhecimento dessa mobilização como luta comum por parte de outros camponeses da localidade que engendra ou dá sentido a uma comunidade” (COMERFORD, 1999, p. 34).
O artigo de Marcela Centelhas, por sua vez, chama a atenção para o fato de que a partilha e a oferta de determinados “recursos” pode ser um delicado foco de problematização ética no fazer-se de tais povos e comunidades, sendo atravessado por questões como o racismo. A própria ideia da água como um “recurso natural”, aliás, é questionada pela autora, a partir do momento que tal caracterização ignora os diferentes sentidos, relações, qualidades e simbolizações que as águas, no plural,[8] possuem e constituem. Para as mulheres da comunidade quilombola Liberdade, a água é um bem que não pode ser negado e as suas cisternas comumente abastecem mais de uma família. A enunciação de uma máxima – “não negar água para ninguém” – não implica, contudo, que esse seja necessariamente o caso para todas as pessoas da localidade, pois critérios como a vicinalidade, o parentesco e a política (dada a disputa entre as duas associações de moradores) podem funcionar como uma linha de corte senão para o ato de dar a água, para aquele de pedi-la.
Outro ponto do trabalho de Centelhas que vale a pena ser mencionado refere-se ao que um de nós, informado por trabalhos anteriores (PALMEIRA; HEREDIA, 1995; PALMEIRA, 2001), pensou como uma espécie de ambiguidade moral na organização da experiência de tais povos em tempos (TEIXEIRA, 2019). Chamando a atenção para o fato de que a noção de “tempo” utilizada por seus interlocutores diz respeito menos a alguma forma de datação histórica e mais a qualificativos morais, Centelhas observa a centralidade das águas na oposição entre o “tempo antigo” e o “tempo da riqueza”. O “tempo antigo” remete à fome, ao trabalho parcamente remunerado e ao acesso a fontes de água de baixa qualidade para o consumo, mas também à vergonha e à humilhação de “agoniar” água àqueles que a tinham. Com o avanço das políticas públicas e dos direitos sociais nas primeiras décadas do século XXI (representado por programas como o Fome Zero, o Bolsa Família, o Garantia-Safra, a construção de cisternas de placa ou a instalação de reservatórios de polietileno, entre outros benefícios), o “tempo da riqueza” marca um aumento na qualidade de vida e mais facilidade de dispor de águas de boa qualidade, relegando aquela que provém dos barreiros, dos quais antigamente se bebia, para outras finalidades. As menções ao “tempo antigo” e às agruras vividas, ademais, qualificam positivamente aqueles que os viveram, em uma espécie de gramática moral do sofrimento já percebida por outros autores no Nordeste brasileiro (COMERFORD, 1999; MAYBLIN, 2010; TEIXEIRA, 2014, 2019; VIRGÍLIO, 2018).
Essa ambiguidade moral dos “tempos” na descrição das interações entre povos, ambiente e Estado também é perceptível no artigo de Keyty Silva, Eduardo Magalhães Ribeiro e Gildarly Cruz. Apontando para significativas mudanças ambientais, técnicas, econômicas e sociais de largo prazo, os moradores de Cabeceirinha, no “gerais”, descrevem uma diferença entre o “tempo de primeiro” e o “tempo de hoje” à qual se associam, respectivamente, oposições binárias que explicitam a transformação qualitativa na sua relação com a terra, as águas e o território:
terra solta : terra presa :: soltas : cercas :: água farta : água regulada :: movimento : paradeza
Todavia, assim como observado por Centelhas e por Teixeira (2019) em outros contextos, os geraizeiros também observam que o “tempo de hoje” trouxe progressos que, embora sem contrabalançar plenamente o “aperto” do seu modo de vida se comparado àquele do “tempo de primeiro”, mitigam a situação atual: a aposentadoria rural, os programas sociais, os benefícios da eletricidade e do abastecimento de água, entre outros direitos.
O artigo de Silva, Ribeiro e Cruz trata das mudanças da relação entre o povo de Cabeceirinha, município de Januária, Minas Gerais, com o ambiente. Em uma perspectiva de longo prazo, que não se confunde com a variação sazonal característica dos gerais, os moradores da região testemunharam “[a] privatização do gerais” e o avanço das cercas, protagonizados pelas “firmas”, mas também a criação de Unidades de Conservação com a consequente chegada das de “normas de preservação no rio Pandeiros.”[9] Diante das regulamentações conservacionistas vindas desde acima, que afastavam a agricultura das margens do rio, os geraizeiros foram obrigados a criar novas estratégias de produção agrícola e de criação de gado. Nos termos de um dos geraizeiros, “(...) o governo fechou por baixo, a firma fechou p’rarriba”. Os autores salientam que, do ponto de vista dos camponeses e dos povos tradicionais, tanto o latifúndio quanto as políticas de conservação, embora bastante diferentes em sua fundamentação, podem ser por eles vividas como ameaças a um modo de vida tradicional, comprometendo não apenas o uso e o controle comuns das terras e das águas, como ainda o usufruto familiar. Em suma, lógicas do usufruto e da apropriação da terra e do ambiente estranhas àquelas dos geraizeiros se impuseram sobre esse povo.
O texto de Brustolin e Santos analisa uma situação de conflito que se estende por décadas de agressão a um território quilombola, enfocando especialmente a situação recente da duplicação de uma estrada considerada “prioritária” pelo governo estadual, dada a sua importância como “corredor de desenvolvimento” vinculado ao escoamento de grãos produzidos na região denominada Matopiba. Contrastando o “bem público” do discurso desenvolvimentista e do Judiciário com as concepções quilombolas que enfatizam as relações densas dos que ali habitam com matas, rios, peixes, roças e encantados, as autoras mostram que a estrada, supostamente portadora de um “bem maior”, se apresenta como destruidora de relacionamentos que constituem a vida da comunidade enquanto tal e da sua filosofia política do “comum”, que não corresponde à noção de “público” que orienta o discurso político-jurídico dominante. Desse modo, a estrada, aos olhos quilombolas, é portadora de uma crise ecológica, no mais amplo sentido de destruição das composições de força ali estabelecidas. Mas as autoras mostram também as lutas empreendidas, que buscam tanto se opor ao suposto consenso em torno do caráter publicamente benéfico da estrada como construir novas possibilidades de vida “nas ruínas”, como sugere Tsing (2019). A dificuldade dramática, do ponto de vista quilombola, de serem reconhecidos e efetivamente escutados nos espaços de negociação é trazida com força pelo texto, retomando um tema apontado nos anos 1980 por Sigaud (1986, 1987, 1992) em torno do difícil reconhecimento político dos camponeses como agentes diante de grandes projetos como os de barragens.
Se essa situação no Maranhão dá uma dimensão das dificuldades que se contrapõem a uma escuta eficaz e uma presença reconhecida na mesa de negociações, no caso do texto de Araújo, o ponto de partida muito concreto é a presença efetiva, no Acre, em arenas em que se decidem políticas públicas e em que se configuram as forças políticas em disputa no âmbito estadual, de pessoas formadas e ligadas às formas comunitárias de política surgidas nos enfrentamentos dos seringueiros contra as forças que disputam, desde os anos 1980, os seus territórios de vida. Essa política comunitária, tendo como premissa as colocações de seringueiros e gestada no meio institucional de CEBs, sindicatos de trabalhadores rurais, ONGs e progressivamente nas emergentes organizações de seringueiros, conseguiu efetivamente fazer presentes os seringueiros como uma força política e marcar o discurso dos governos estaduais, apesar da ambiguidade destes e das disputas incessantes no seu interior. E incidiram efetivamente, de maneira crítica, sobre a implementação de políticas públicas gestadas muitas vezes à distância das comunidades locais e de seus interesses e percepções. O texto apresenta de maneira clara o relativo sucesso, numa dada conjuntura, dessa presença política, assim como os seus limites e possibilidades.
* * *
Deste breve panorama fica a impressão de que, se as forças políticas e econômicas ajustadas de modo mais sistemático ou mais contingente em torno do ataque aos povos dos campos, das águas e das florestas têm lá suas dinâmicas bem estabelecidas de arruinar formas de vida e destroçar as teias que sustentam as artes de fazer comuns e comunidades, elas não encerram a luta. Ora, como observou Anna Tsing, “se o mundo ainda é diverso e dinâmico, é porque a escalabilidade nunca cumpre suas próprias promessas” (2019, p. 182). Se as lógicas, de um lado, do desenvolvimento econômico desenfreado e, de outro, da conservação do “meio ambiente” em recintos sem humanos, vão de encontro a uma diversidade de modos de viver, isso não implica que os povos sobre os quais falamos nesta seção temática, mesmo em meio a ruínas, tenham cessado de produzir vida, diferença e figuras marcantes e exemplares nos termos próprios das éticas em jogo nessas comunidades. E essas figuras também têm lá seus modos de repor e recompor teias, por meio de uma luta que se torna própria de um povo na medida em que, ao acontecer, refaz esse povo; uma luta, ademais, pelo “desfrute da vida”, “pela pluralidade de modos de existir” e de compor o mundo (ALMEIDA, 2016, p. 31). Tais lutas, por fim, podem chamar a atenção de um público mais amplo e obter algum sucesso – sucesso suficiente para fazer esses povos serem notados e se fazerem escutar, como apontam os trabalhos mencionados e aqueles a seguir reunidos.
Referências
ALMEIDA, Alfredo Wagner Berno de. Terras de quilombo, terras indígenas, “babaçuais livres”, “castanhais do povo”, faxinais e fundos de pasto: terras tradicionalmente ocupadas. Manaus: PPGSCA-UFAM, 2006.
ALMEIDA, Alfredo Wagner Berno de. Os quilombos e as novas Etnias. In: O’DWYER, Eliane Cantarino (Org.). Quilombos: identidade étnica e territorialidade. Rio de Janeiro: FGV, 2002. p. 56-88.
ALMEIDA, Alfredo Wagner Berno de. Terras de preto, terras de santo, terras de índio: uso comum e conflito. In: ALMEIDA, Alfredo Wagner Berno de; GODOI, Emilia Pietrafesa de; MENEZES, Marilda Aparecida de; MARIN, Rosa Acevedo. Diversidade do campesinato: expressões e categorias. v.2. São Paulo: Editora UNESP; Brasília: NEAD, 2009. p. 39-66.
ALMEIDA, Mauro William Barbosa de. Caipora e outros conflitos ontológicos. Revista de Antropologia da UFSCar, São Carlos, v. 5, n. 1, p. 7-28, 2013. Disponível em: https://www.rau2.ufscar.br/index.php/rau/article/view/85. Acesso em: 18 mar. 2022.
ALMEIDA, Mauro William Barbosa de. Desenvolvimento entrópico e a alternativa da diversidade. Ruris, Campinas, v. 10, n. 1, p. 19-39, 2016.
ALMEIDA, Mauro William Barbosa de; REZENDE, Roberto. Uma nota sobre comunidades tradicionais e unidades de conservação. Ruris, Campinas, v. 7, p. 185-195, 2015.
AYOUB, Dibe. Entre jagunços e valentes: família, terra e violência no interior do Paraná. 2016. 289 f. Tese (Doutorado em Antropologia Social) – Programa de Pós-graduação em Antropologia Social, Museu Nacional, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2016. Disponível em: https://buscaintegrada.ufrj.br/Record/aleph-UFR01-000842240. Acesso em: 10 mar. 2022.
BALÉE, William. Sobre a indigeneidade das paisagens. Revista de Arqueologia, Pelotas, v. 21, n. 2, p. 9-23, 2008. Disponível em: https://revista.sabnet.org/index.php/sab/article/view/248. Acesso em: 2 mar. 2022.
BOHANNAN, Paul. Africa’s land. In: DALTON, George (Org.). Tribal and peasant economies: readings in economic anthropology. Garden City: Natural History Press, 1967. p. 51-60.
CÂNEDO, Letícia Bicalho. Herança na política ou como adquirir disposições e competências necessárias às funções de representação política (1945-1964). Pro-posições, Campinas, v. 13, n. 2, 2002. Disponível em: https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/proposic/article/view/8643945. Acesso em: 8 mar. 2022.
CARNEIRO, Ana. O povo parente dos Buracos: sistema de prosa e mexida de cozinha. Rio de Janeiro: E-papers, 2015.
CENTELHAS, Marcela Rabello de Castro. Nas Águas das Políticas: as mulheres, as cisternas e o curso da vida no agreste pernambucano. 2019. 281 f. Tese (Doutorado em Antropologia Social) – Programa de Pós-graduação em Antropologia Social, Museu Nacional, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2019.
COMERFORD, John. Lutando: os diferentes sentidos da palavra luta entre trabalhadores rurais. In: COMERFORD, John. Fazendo a luta: sociabilidade, falas e rituais na construção de organizações camponesas. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 1999. p. 19-45.
COMERFORD, John. Como uma família: sociabilidade, territórios de parentesco e sindicalismo rural. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 2003.
COMERFORD, John. Vigiar e narrar: sobre formas de observação, narração e julgamento de movimentações. Revista de Antropologia, São Paulo, v. 57, n. 2, p. 107-141, 2014. Disponível em: https://www.revistas.usp.br/ra/article/view/89110. Acesso em: 4 mar. 2022.
COMERFORD, John. Onde está a “comunidade”? Conversas, expectativas morais e mobilidade em configurações entre o “rural” e o “urbano”. Ruris, Campinas, v. 8, n. 2, p. 7-29, 2015. Disponível em: https://ojs.ifch.unicamp.br/index.php/ruris/article/view/1986. Acesso em: 10 mar. 2022.
COSTA, Ana Luiza Martins. Uma retirada insólita: rio São Francisco, Barragem de Sobradinho. Rio de Janeiro: IPPUR/UFRJ, 2013.
CUNHA, Manuela Carneiro da; ALMEIDA, Mauro William Barbosa de (Orgs.). A Enciclopédia da Floresta – o Alto Juruá: práticas e conhecimentos das populações. São Paulo: Companhia das Letras, 2002.
CUNHA, Manuela Carneiro da; ALMEIDA, Mauro William Barbosa de. Populações tradicionais e conservação ambiental. In: CUNHA, Manuela Carneiro da. Cultura com aspas e outros ensaios. São Paulo: Cosac Naify, 2009. p. 277-300.
DAINESE, Graziele. Movimento e animação das festas, visitas, andanças e chegadas. Mana, Rio de Janeiro, v. 22, n. 3, p. 641-669, 2016.
DESCOLA, Philippe. In the society of nature: a native ecology in Amazonia. Cambridge: Cambridge University Press, 1996.
DESCOLA, Philippe. Beyond nature and culture. Chicago: The University of Chicago Press, 2013.
DIEGUES, Antonio Carlos. O mito moderno da natureza intocada. 2. ed. São Paulo: Hucitec, 1998.
FASSIN, Didier; EIDELIMAN, Jean-Sébastien. Introduction. Défense et illustration des économies morales. In: FASSIN, Didier; EIDELIMAN, Jean-Sébastien (Orgs.). Économies morales contemporaines. Paris: La Decouverte, 2012.
FIALHO, Gustavo. O povo da cultura e as forças do barro no Quilombo Buriti do Meio - MG. 2018. 140 f. Dissertação (Mestrado em Antropologia Social) – Programa de Pós-graduação em Antropologia Social, Museu Nacional, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2018.
GALIZONI, Flávia Maria; RIBEIRO, Eduardo Magalhães. Bem comum e normas costumeiras: a ética das águas em comunidades rurais de Minas Gerais. Ambiente & Sociedade, São Paulo, v. 14, n. 1, p. 77-94, 2011. Disponível em: https://www.scielo.br/j/asoc/a/8dFLC9vRn3xSCDnMqthbFMv/?lang=pt. Acesso em: 12 mar. 2022.
GALVÃO, Eduardo. Santos e visagens: um estudo da vida religiosa em Itá, Baixo Amazonas. 2. ed. São Paulo: Nacional; Brasília: INL, 1976.
GARCIA JR., Afrânio Raul. Terra de trabalho. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1983.
INGOLD, Tim. The Perception of the Environment: essays on livelihood, dwelling and skill. Londres; New York: Routledge, 2000.
INGOLD, Tim. Being Alive: essays on movement, knowledge and description. Londres; New York: Routledge, 2011.
LATOUR, B. Jamais fomos modernos: ensaio de antropologia simétrica. Rio de Janeiro: 34, 1994.
MAYBLIN, Maya. Gender, catholicism and morality in Brazil: virtuous husbands, powerful wives. New York: Palgrave Macmillan, 2010.
PALMEIRA, Moacir. Política e tempo: nota exploratória. In: PEIRANO, Mariza. (Org.). O dito e o feito: ensaios de antropologia dos rituais. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 2001. p. 171-177.
PALMEIRA, Moacir; HEREDIA, Beatriz. Os comícios e a política de facções. Anuário Antropológico, Brasília, v. 19, n. 1, p. 31-94, 1995. Disponível em: https://periodicos.unb.br/index.php/anuarioantropologico/article/view/6587. Acesso em: 13 jan. 2022.
PERUTTI, Daniela. Tecer amizade, habitar o deserto: uma etnografia do quilombo Família Magalhães. 2015. 255 f. Tese (Doutorado em Antropologia Social) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8134/tde-11052016-132211/pt-br.php. Acesso em: 3 mar. 2022.
PERUTTI, Daniela. Políticas do Território e Territórios da Política em uma família quilombola de Goiás. In: MARQUES, Ana Claudia; LEAL, Natacha Simei (Orgs.). Alquimias do parentesco: casas, gentes, papeis, territórios. São Paulo: Terceiro Nome, 2018. p. 65-99.
PORTO, Liliana. Uma reflexão sobre os Faxinais: meio-ambiente, sistema produtivo, identidades políticas, formas tradicionais de ser e de viver. In: PORTO, Liliana; SALLES, Jefferson de Oliveira; MARQUES, Sônia M. dos Santos (Orgs.). Memórias dos povos do campo no Paraná – Centro-Sul. Curitiba: ITCG, 2013. p. 59-77.
SCOTT, James C. The moral economy of the peasant: rebellion and subsistence in Southeast Asia. New Haven; Londres: Yale University Press, 1976.
SCOTT, James C. Domination and the arts of resistance: hidden transcripts. New Haven: Yale University Press, 1990.
SCOTT, James C. The art of not being governed: an anarchist history of upland Southeast Asia. New Haven: Yale University Press, 2009.
SCOTT, James C. Two cheers for anarchism: six easy pieces on autonomy, dignity, and meaningful work and play. Princeton: Princeton University Press, 2012.
SIGAUD, Lygia. Efeitos sociais de grandes projetos hidrelétricos: As Barragens de Sobradinho e Machadinho. Comunicação do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social do Museu Nacional, v. 9, p. 1-116, 1986.
SIGAUD, Lygia. O Caso das grandes barragens. Revista Brasileira de Ciências Sociais, São Paulo, v. 18, p. 18-40, 1992.
SIGAUD, Lygia; MARTINS-COSTA, Ana Luiza; DAOU, Ana Maria. Expropriação do campesinato e concentração de terras em Sobradinho: uma contribuição à análise dos efeitos da política energética do Estado. Ciências Sociais Hoje, São Paulo, p. 214-290, 1987.
THOMPSON, Edward Palmer. Senhores e caçadores: a origem da lei negra. 2. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1997.
THOMPSON, Edward Palmer. Costumes em comum: estudos sobre a cultura popular tradicional. São Paulo: Companhia das Letras, 1998.
TEIXEIRA, Jorge Luan. Na Terra dos Outros: mobilidade, trabalho e parentesco entre os moradores do Sertão dos Inhamuns (CE). 2014. 222 f. Dissertação (Mestrado em Antropologia Social) – Programa de Pós-graduação em Antropologia Social, Museu Nacional, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2014.
TEIXEIRA, Jorge Luan. Caçando na Mata Branca: conhecimento, movimento e ética no sertão cearense. 2019. 445 f. Tese (Doutorado em Antropologia Social) – Programa de Pós-graduação em Antropologia Social, Museu Nacional, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2019. Disponível em: http://objdig.ufrj.br/72/teses/902370.pdf. Acesso em: 3 mar. 2022.
TSING, Anna. Friction: an ethnography of global connection. Princeton; Oxford: Princeton University Press, 2005.
TSING, Anna. Viver nas ruínas: paisagens multiespécies no Antropoceno. Brasília: IEB Mil Folhas, 2019.
VIEIRA, Suzane de Alencar. Resistência e pirraça na Malhada: cosmopolíticas quilombolas no Alto Sertão de Caetité. 2015. 425 f. Tese (Doutorado em Antropologia Social) – Programa de Pós-graduação em Antropologia Social, Museu Nacional, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2015.
VIRGÍLIO, Nathan. Pensa que é só dar o de-comer? Criando e pelejando com parente e bicho bruto na comunidade do Góis – CE. 2018. 144 f. Dissertação (Mestrado em Antropologia Social) – Programa de Pós-graduação em Antropologia Social, Museu Nacional, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2018.
WAGLEY, Charles. Uma comunidade amazônica: estudo do homem nos trópicos. 3. ed. Belo Horizonte: Itatiaia; São Paulo: Editora da USP, 1988.
Como citar
TEIXEIRA, Jorge Luan; COMERFORD, John; PERUTTI, Daniela Carolina. Saberes, políticas e éticas da terra e do ambiente entre camponeses, quilombolas e povos tradicionais: uma introdução. Estudos Sociedade e Agricultura, Rio de Janeiro, v. 30, n. 1, e2230109, p. 1-25, 24 maio 2022. DOI: https://doi.org/10.36920/esa-v30-1_st01.
Jorge Luan Teixeira
Professor da Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA) e Pesquisador de Pós-doutorado no Programa de Pós-graduação em Antropologia Social do Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro (PPGAS/MN/UFRJ).
https://orcid.org/0000-0001-7729-3823
http://lattes.cnpq.br/1651592159874106
jorge.luant@gmail.com
John Comerford
Professor do Programa de Pós-graduação em Antropologia Social do Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro (PPGAS/MN/UFRRJ). Membro da Coordenação do Núcleo de Antropologia da Política (NuAP).
https://orcid.org/0000-0003-2885-2160
http://lattes.cnpq.br/1017364447541425
jcomerford@uol.com.br
Daniela Carolina Perutti
Doutora em
Antropologia Social pela Universidade de São Paulo (USP). Pós-doutoranda em
Políticas Públicas pelo Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São
Paulo (IEA-USP).
https://orcid.org/0000-0002-9449-1087
http://lattes.cnpq.br/2105756422701435
danielaperutti@gmail.com
|
Creative Commons License. This is an Open Acess article, distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License CC BY 4.0 which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium. You must give appropriate credit, provide a link to the license, and indicate if changes were made. |